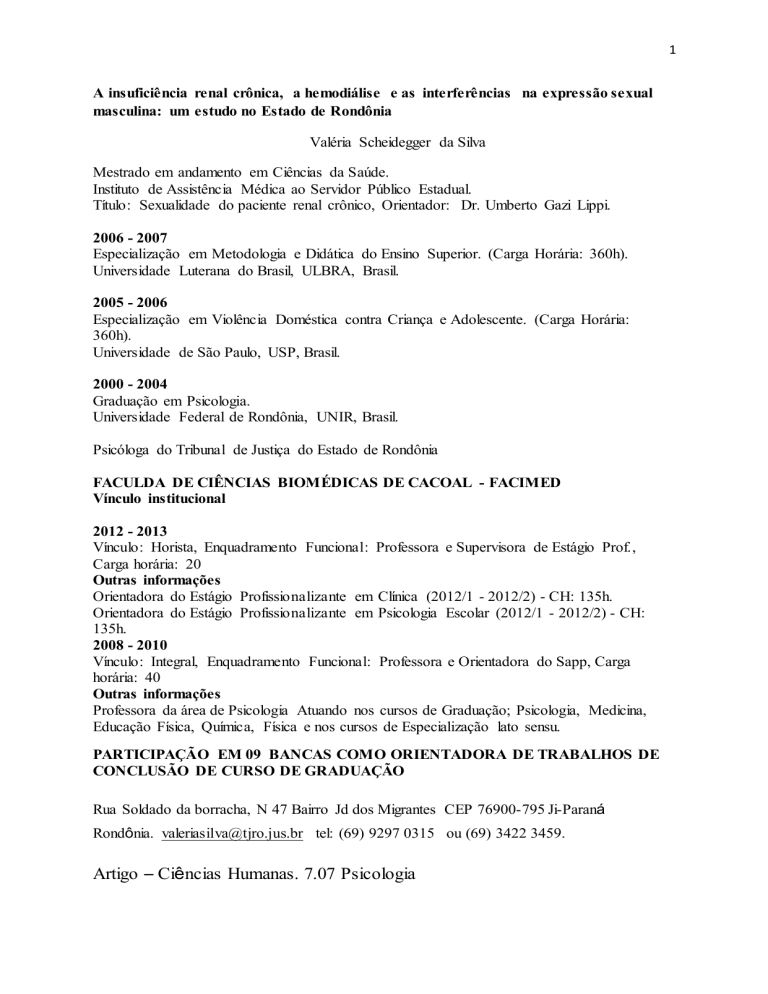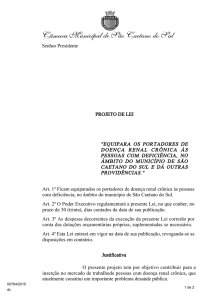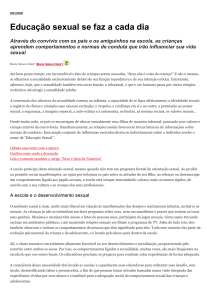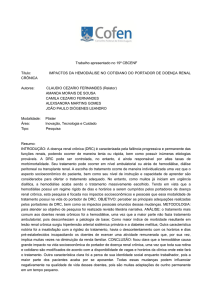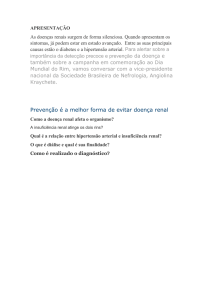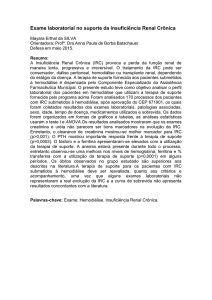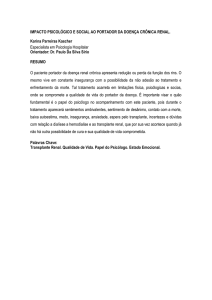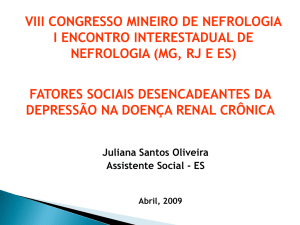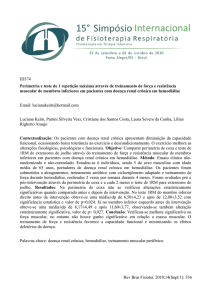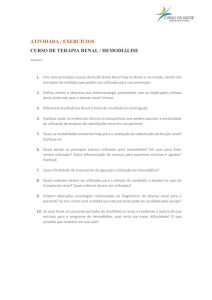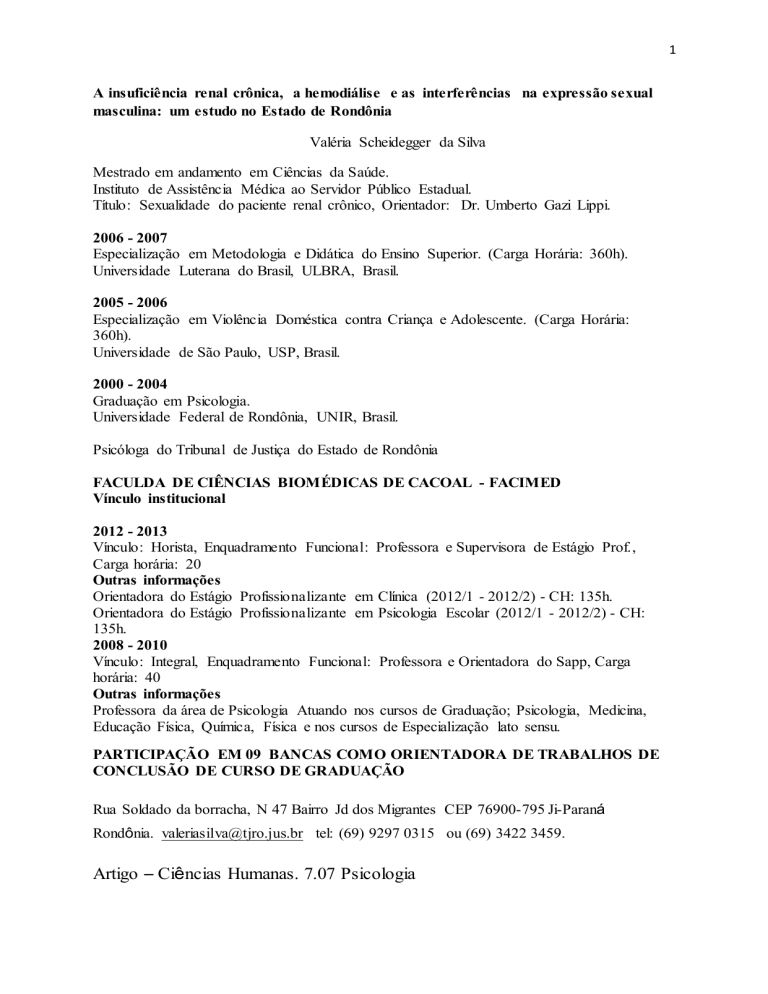
1
A insuficiência renal crônica, a hemodiálise e as interferências na expressão sexual
masculina: um estudo no Estado de Rondônia
Valéria Scheidegger da Silva
Mestrado em andamento em Ciências da Saúde.
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.
Título: Sexualidade do paciente renal crônico, Orientador: Dr. Umberto Gazi Lippi.
2006 - 2007
Especialização em Metodologia e Didática do Ensino Superior. (Carga Horária: 360h).
Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, Brasil.
2005 - 2006
Especialização em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente. (Carga Horária:
360h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
2000 - 2004
Graduação em Psicologia.
Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.
Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
FACULDA DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL - FACIMED
Vínculo institucional
2012 - 2013
Vínculo: Horista, Enquadramento Funcional: Professora e Supervisora de Estágio Prof.,
Carga horária: 20
Outras informações
Orientadora do Estágio Profissionalizante em Clínica (2012/1 - 2012/2) - CH: 135h.
Orientadora do Estágio Profissionalizante em Psicologia Escolar (2012/1 - 2012/2) - CH:
135h.
2008 - 2010
Vínculo: Integral, Enquadramento Funcional: Professora e Orientadora do Sapp, Carga
horária: 40
Outras informações
Professora da área de Psicologia Atuando nos cursos de Graduação; Psicologia, Medicina,
Educação Física, Química, Física e nos cursos de Especialização lato sensu.
PARTICIPAÇÃO EM 09 BANCAS COMO ORIENTADORA DE TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
Rua Soldado da borracha, N 47 Bairro Jd dos Migrantes CEP 76900-795 Ji-Paraná
Rondônia. [email protected] tel: (69) 9297 0315 ou (69) 3422 3459.
Artigo – Ciências Humanas. 7.07 Psicologia
2
A insuficiência renal crônica, a hemodiálise e as interferências na expressão sexual
masculina: um estudo no Estado de Rondônia
Valéria Scheidegger da Silva12
Rafael Ayres Romanholo3
Jack Stewart Andres4
Umberto Gazi Lippi5
Fabricio Moraes De Almeida6
Resumo: A insuficiência renal crônica (IRC) é caracterizada pelo prejuízo significativo e
irreversível da função renal. O desenvolvimento de tecnologias assistivas viabilizaram a
criação de recursos terapêuticos como a hemodiálise, que possibilita o aumento da
expectativa de vida de pacientes renais crônicos. Com o objetivo de compreender a vida
sexual do
paciente renal crônico em hemodiálise buscou-se conhecer a interpretação
histórico - social da sexualidade para o paciente e as alterações na vida sexual diante do
tratamento e às adaptações que se fizeram necessárias. Como estratégia metodológica para
este estudo foi elaborado um instrumento com 27 questões de múltipla escolha e 03 questões
abertas. Para que intervenções sejam implementadas assertivamente junto ao paciente renal
crônico, o estudo exploratório-descritivo foi conduzido através de uma abordagem quantiqualitativa, que contou com 85 pacientes do sexo masculino com idade de 18 a 65 anos em
Hemodiálise no Estado de Rondônia. Identificou-se a interferência da análise sócio-histórica
do paciente sobre seu trabalho na expressão sexual. Dentre os fatores que interferem
negativamente no desempenho sexual, estão a disfunção erétil e a ejaculatória. A auto
cobrança dos pacientes acerca da sexualidade é minimizada através do apoio recebido das
parceiras. As adaptações necessárias à expressão sexual desta comunidade exigem uma
ampliação acerca do conceito de sexualidade e da sua diversidade de expressão, não
limitando-se simplesmente ao coito.
Acredita-se que
as estratégias para superar o
preconceito sobre a sexualidade seja a franca abordagem da temática pela equipe de saúde,
incluindo a oferta de estratégias ao paciente IRC na adaptação a vida sexual atual.
1
2
Psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia- TJRO, Especialista.
Valéria Scheidegger da Silva
Rua Soldado da borracha, N 47 Bairro Jardim dos Migrantes CEP 76900-
795 Ji-Paraná Rondônia. [email protected] tel: (69) 9297 0315 ou (69) 3422 3459.
3
Professor Mestre de Educação Física - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Cacoal. DOUTORANDO EM DESENVOLVIM ENTO REGIONA L E MEIO AMBIENTE-UNIR.
4
Professor de Lingua Portuguesa da Fa culdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED) e presidente
do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, Especialista.
5 Médico do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo- IAMSPE/SP,
Orientador do programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde- IAMSPE, Doutor.
6
Pesquisador do Doutorado/Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - PGDRA/UNIR.
Editor in Chief - Science Park (ISSN 2312-8045) http://www.scienceparks.in/Editorial.aspx Consultor ad hoc INEP/MEC
3
Descritores: Insuficiência renal crônica – Hemodiálise – Sexualidade
The chronic kidney insufficiency, the hemodialysis and the interferences on the male
sexual expression: a study in the State of Rondônia
Abstract: The chronic kidney insufficiency (CKI) is characterized by significant and
irreversible loss of kidney function. The development of assistive technologies enables the
creation of therapeutic resources like hemodialysis, which enables the increase of life
expectancy of chronic kidney patients. With the aim of understanding the sexual life of the
chronic kidney patient while in hemodialysis treatment it was tried to get to know the
historical – social interpretation of sexuality for the patient and the change on their sexual
life under the circumstances of the treatment and the adaptation that were necessary. As a
methodological strategy for this study an instrument was developed with 27 items 03 multiple
choice and open questions In order to implement assertive interventions an exploratorydescriptive study was conducted through a quantitative qualitative – approach,
which
included 85 male patients aged 18-65 years in Hemodialysis Units in the state of Rondônia.
It was identified the interference of the socio historical analysis of the patient about his work
on the sexual expression. Among the factors that adversely affect the sexual performance, are
the erectile and the ejaculatory dysfunctions. Self-demand of patients about sexuality is
minimized through support and understanding received from the partner. Adaptations
necessary for sexual expression in this community requires a broadening of the concept of
sexuality and its diversity of expression, not limited simply to intercourse. It is believed that
the strategies to overcome misinformation and prejudice about sexuality being a honest
approach of the issue by health team including the provision of therapeutic strategies to the
CKI patient in adapting with the current sexual life.
Keywords: Chronic kidney insufficiency - hemodialysis - sexuality
4
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento científico e tecnológico propiciou em anos recentes a construção
de equipamentos médicos e tecnologias assistivas que aliviam os sintomas da doença e
possibilitam o aumento da expectativa de vida de pacientes crônicos, estendendo sua
sobrevida, entretanto, a
adaptação à doença e a adesão ao tratamento devem estar
relacionados à percepção do indivíduo em seu contexto cultural, seu sistema de valores e
crenças, seus objetivos pessoais, expectativas e preocupações (WHO,1946).
A Insuficiência renal pode ser dividida em: insuficiência renal aguda – que se
manifesta através de uma parada súbita e temporária dos rins – e insuficiência renal crônica –
quando
diferentes estruturas dos rins são definitivamente lesadas (BRIGGS, 2007).
Bevilacqua (1998) define a insuficiência renal crônica (IRC) como um estado resultante de
uma deterioração significativa e permanente de néfrons funcionantes. Cuker (2010) nos
aponta duas alternativas para o tratamento da IRC uma definitiva – o transplante- e outra
paliativa – a diálise que pode ser realizada de três formas diferentes: a diálise peritoneal
intermitente, diálise peritoneal ambulatorial contínua e hemodiálise.
O Manual de Diretrizes Brasileiras de Doença Renal Crônica sugere que a avaliação
da gravidade da doença deve ser relacionada às condições comórbidas para que se eleja a
terapia de substituição renal mais adequada a cada paciente (ROMÃO JR., 2004).
Brunner e Studdarth (2002) afirmam que a hemodiálise é um método de
tratamento renal substitutivo mais comumente empregado no tratamento da IRC e configurase como uma intervenção que requer total atenção, monitorização e dedicação, pois as vidas
dos pacientes dependem da equipe multidisciplinar e, para um bom resultado, é preciso
haver uma parceria de integração mútua entre profissional e paciente, criando laços de
confiança, com objetivo de estreitar o diálogo no mundo real e sua representação psiquíca.
No início do tratamento renal substitutivo o paciente é informado sobre seu quadro
de saúde atual e sobre as adaptações necessárias ao tratamento e nestas informações incluem
– se as (possíveis) alterações de sua sexualidade (RODRIGUES et al, 2011), entretanto a
população na maioria das vezes não consegue compreender a grande quantidade de
informação recebida e não retoma o tema sexualidade com a equipe de saúde.
Como o sexo sempre foi um tabu e a educação sexual bastante informal, mitos e
inverdades foram transmitidos no
transcorrer do
tempo
(D’ANDREA,
1988
apud
5
KARDOUS, 2007).
A expectativa dos pacientes sobre a manutenção de sua rotina sexual
pode permanecer em seu imaginário resultando em um conflito entre o psíquico e o
fisiológico causando experiências de disfunção sexual (MORALES; ROLO; SÁ, 2012).
Para Glina (1999), a própria condição machista da sociedade ainda obriga o homem
a ser uma “máquina na cama”, criando muitas vezes uma situação de ansiedade que favorece
o surgimento de dificuldades sexuais.
Quando o homem é acometido pela ansiedade o
organismo libera adrenalina e esta é inimiga da ereção (GLINA, 1999).
A palavra sexualidade
pode ser conceituada como o “conjunto de fenômenos
psíquicos que permeiam a vida de uma pessoa, gerados pelo próprio corpo, e na sua relação
com a sociedade” (ABL, 2008). Segundo Araujo (1996, apud RODRIGUES et al. 2011,
p.257) “a tendência de autores contemporâneos é considerar a sexualidade como um aspecto
intrínseco do ser humano a qual é mais expressiva do que o ato sexual, pois inclui os
componentes biológicos, socioculturais, psicológicos e éticos do comportamento sexual”.
Freud foi
pioneiro ao teorizar sobre a
autoconservação, entretanto
pulsão sexual e as pulsões de
ele apresentou uma nova concepçcão sobre a sexualidade em
sua segunda teoria sobre as pulsões e recebeu fortes críticas por ter investido esforços de
pesquisa ao afirmar que a energia sexual está presente no indivíduo desde a infância até a
velhice apenas apresentando-se de maneira diferente em casa fase (D’ANDREA, 1988 apud
KARDOUS, 2007). Sendo
expressão
depende
de
a sexualidade uma necessidade humana básica em que a sua
fatores psicofisiológicos,
torna-se necessário
compreender a
interferência dos fatores emocionais e orgânicos na vida sexual, entretanto, são poucas as
pesquisas que abordam o tema relacionando-o aos pacientes renais crônicos.
De acordo com Lottemberg (2002), as dificuldades apresentadas no desempenho da
função sexual do paciente renal crônico podem ter origem em um quadro sintomático de
fraqueza, desânimo, alterações hormonais e funcionais que resultariam em um desinteresse
sexual, ou mesmo uma incapacidade orgânica para manter uma ereção; verificando-se ainda
que os aspectos emocionais estão presentes e influenciam a prática sexual.
A ansiedade de desempenho está na base dos fatores psicológicos geradores de
problemas sexuais. Esta é uma das afecções mais frequentemente encontradas na prática
clínica, inclusive em portadores de doenças crônicas (CROWE e JONES, 2009).
6
A insuficiência renal crônica é uma condição que causa disfunção erétil de 40 a 60%
dos indivíduos afetados e pode ser desenvolvida antes ou depois do início da diálise
(RELMAN e MELMAN, 2002).
Para que intervenções
possam ser implementadas assertivamente no atendimento ao
paciente IRC em todas as dimensões do cuidado, incluindo a sexualidade, torna-se necessário
conhecer cada um dos elementos que compõem este cenário, onde além da condição física e
do interesse entre os parceiros sexuais - já discutidos por Rodrigues(2011), Cuker (2010),
Nóra, Zambone, e Nácio Junior (2009), Braz (2008) -, demais fatores devem ser analisados
tais como:
a interpretação
social da sexualidade para o paciente;
tratamento hemodialítico em condutas sexuais,
a interferência
do
as respostas às adaptações que se fizeram
necessárias e as fontes de apoio utilizadas pelo paciente para lidar com as limitações da vida
sexual atual, pois
acredita-se que ao compreender como se estabelece essa dinâmica,
a
equipe de saúde pode contribuir com o paciente IRC.
Muitas pesquisas no Brasil (CAMPOS et al., 2012; FAHUR, 2010; KASUMOTA,
2005) já utilizaram o Kidney Disease Quality of Life Short Form - KDQOL-SF
avaliação da qualidade de vida dos pacientes renais,
entretanto, o número de itens
relacionados a sexualidade é reduzido (dois ítens). O Instituto H. Ellis
em tratamentos para
Disfunção Sexual masculina -
para a
7
(I.H.E) – especialista
possui um procedimento de avaliação
psicológica e preenchimento de questionários antes dos exames orgânicos para avaliação e
terapêutica das queixas sexuais (MONESI, 2002). No Instituto são utilizados inventários de
sexualidade masculina para avaliar a Disfunção erétil e Ejaculação precoce, entretanto
nenhum destes inventários atendiam aos objetivos da pesquisa, deste modo a pesquisadora
elaborou um instrumento que permitisse o levantamento dos dados pretendidos.
Diante deste contexto o presente estudo teve como estratégia metodológica construir
um protocolo, baseando-se na a ausência de um protocolo validado sobre pacientes renais
crônicos com o foco no desempenho sexual, afim de verificar de que maneira o tratamento
interferiu em sua sexualidade
e quais as estratégias de apoio utilizadas para lidar com a
vida sexual atual.
O protocolo utilizado pelo Instituto H. Ellis ( Monesi, 2002) sobre a avaliação e
terapêutica das queixas sexuais tem o objetivo de identificar, classificar e operacionalizar as
7
Instituto H. Ellis - Praça Charles Miller, 80 - CEP 01237-010 - São Paulo - SP.
7
queixas sexuais;
averiguar a relação do paciente com seu desempenho profissional e sua
consequente recompensa financeira; levantar o histórico afetivo, familiar e sexual. O
protocolo apresentado por Monesi (2002) serviu como um norteador para a construção de um
instrumento próprio.
Para Diniz (2001) uma das barreiras que prejudicam a recuperação adequada dos
pacientes com IRC é a falta de informação sobre a patologia, tratamento, possibilidades e
limitações.
Rolland (1995), trata do tema: doença crônica e o ciclo de vida familiar,
indicando que os fios evolutivos envolvidos precisam ser compreendidos numa análise
sistêmica em que a doença e os ciclos de vida do indivíduo e da família estão interligados e
ao mesmo tempo sofrem e causam influência em seus componentes. Para o autor, a família
precisa se reorganizar pois, o paciente pode precisar de cuidados; os papéis e as funções
devem ser repensados e distribuídos de forma que auxiliem o paciente na elaboração de
sentimentos dolorosos e confusos gerados pelo processo de adoecer;
a tipologia, as
consequências e a incapacitação gerada pela doença são fatores que devem ser analisados de
acordo com a estrutura do grupo.
No passado (TUTHILL, 1955 apud NOVARETTI, 2002) a impotência sexual era
descrita a partir de suas causas: Insuficiência de ereção, ejaculação precoce e ausência de
ejaculação. No DSM-IV
estes transtornos são classificados separadamente. A ejaculação
precoce (EP) pode ser diagnosticada com base no DSM-IV se atender os seguintes critérios:
A) Ejaculação persistente ou recorrente com estimulação sexual mínima antes, durante ou
logo após a penetração, antes que o indivíduo o deseje. B) A perturbação causa acentuado
sofrimento ou dificuldade interpessoal e C) A ejaculação precoce não se deve exclusivamente
aos efeitos diretos de uma substância (por ex., abstinência de opióides) Novaretti (2002).
Quanto à etiologia ou causa da disfunção eréctil (DE) Glina (1999), afirma que 70%
dos casos de DE são de origem psicológica, dentre elas, a depressão, as dificuldades
conjugais, a perda de emprego, a perda de cônjuge ou parentes próximos, a ejaculação
precoce de longa duração, a ansiedade de desempenho e a baixa autoestima; muitos destes
sintomas são vivenciados pelo paciente renal crônico, o que nos permite
estabelecer um
paralelo destes indicadores para estudar a sexualidade de indivíduos portadores de IRC.
2 METODOLOGIA
8
O estudo sobre a sexualidade de pacientes renais crônicos foi realizado no Estado
de Rondônia que na ocasião contava com seis unidades de tratamento substitutivo para IRC.
Em função dos objetivos deste estudo (TRIVIÑOS, 1992), a pesquisa é classificada como
exploratória-descritiva pois está diretamente relacionada com os fenômenos de atuação
prática e se propõe a apresentar uma nova visão do objeto de pesquisa. O estudo descritivo
pretende descrever as características de determinada população ou fenômenos de determinada
realidade sem nela interferir para modificá-la. Segundo Polit e Hungler (1995), a pesquisa
exploratória tem como objetivo explorar aspectos de uma situação e o
qualitativo visa obter e
estudo
quanti-
analisar as características e opiniões de populações de pequenas
amostras, que se apresentam como representativas dessas populações.
Em virtude de não haver um instrumento padronizado já validado que atendesse aos
objetivos da
pesquisa, foi realizado um estudo piloto com dez
pacientes na Unidade de
Terapia Renal Substitutiva de lotação da pesquisadora afim de verificar se as perguntas
redigidas eram compreendidas pelos usuários e se as alternativas respondiam as indagações
dos pacientes; na ocasião percebeu-se que três questões deveriam ser retiradas, pois eram
desnecessárias à obtenção do resultados e algumas alternativas, deveriam ser reescritas para
melhor compreensão dos entrevistados.
Desta forma o protocolo final foi composto de 27 (vinte e sete) questões com itens de
múltipla escolha; cada questão com 05 (cinco) alternativas, sendo que algumas questões
apresentavam 04 (quatro) alternativas sugeridas pela pesquisadora e a 5ª era denominada
“outros” onde era possível descrever a sua opinião, oferecendo maior liberdade de resposta
aos entrevistados. No questionário
haviam
03 (três) perguntas abertas para possibilitar a
livre expressão sobre o tema a elas relacionadas, totalizando 30 (trinta) questões.
Os trinta itens foram divididos em dez dimensões, a saber: reação ao
diagnóstico de IRC (3 itens); adaptações ao tratamento hemodialítico (3 itens); informação
sobre sexualidade (3 itens); influência emocional sobre a sexualidade (2 itens); vida sexual (7
itens); libido (2 itens); disfunções sexuais (6 itens); parceira sexual (2 itens); expectativa
sobre a sexualidade e qualidade de vida (1 item cada). Os itens que não estavam diretamente
relacionados à vida sexual
foram distribuídos ao longo do
protocolo com o intuito de
9
favorecer rapport 8 , aliviando a tensão gerada com a abordagem sobre as vivências sexuais.
O estabelecimento de aliança terapêutica é um elemento significativamente favorável
(FREITAS e COSMO, 2010) para a abordagem do tema em uma sala de diálise em que o
staff está presente e atenta às reações de cada paciente e que a proximidade física entre os
pacientes inibe a franca abordagem sobre o tema da sexualidade.
Um outro
fator identificado
durante o estudo piloto foi que as respostas
informadas não foram fidedignas, uma vez que a pesquisadora conhecia o histórico clínico e
sexual dos participantes, podendo assim comparar as respostas fornecidas durante o
questionário e verificar a disparidade de acordo com os registros profissionais.
Um elemento que possivelmente contribuiu para este viés na coleta de dados foi o
gênero da pesquisadora e/ou o contato profissional prévio com os participantes, desta forma
medidas foram implementadas a fim de obter maior fidedignidade nas respostas fornecidas.
Para a execução da coleta de dados utilizou-se como entrevistadores quatro acadêmicos do
curso de Psicologia, todos do sexo masculino com idade variável de 18 a 54 anos. A
identificação com o gênero e a idade dos entrevistadores com os entrevistados possibilitou
diminuir a ocorrência de distorções das respostas apresentadas. Os entrevistadores foram
orientados a registrar as reações fisionômicas, posturais e/ou verbais dos participantes durante
as entrevistas com a finalidade de contribuir na análise dos resultados.
Não fizeram parte da amostra pesquisada os pacientes que participaram do estudo
piloto para a construção do instrumento de pesquisa utilizado, pois a amostra poderia estar
sugestionada pela experiência vivida no período de ajuste do instrumento da pesquisa.
O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa localizado nas
dependências da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED pelo protocolo
684-10. A coleta de dados para a pesquisa foi realizada em quatro municípios: Porto Velho,
Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.
Na ocasião da realização da pesquisa o Estado de Rondônia
contava com seis
unidades de tratamento substitutivo de IRC, todas da iniciativa privada, atuando como
8
Palavra de origem francesa, utilizada para representar uma relação de confiaça e harmonia dentro de um
processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para interagir , trocar ou receber
informação.
10
Segundo os dados fornecidos (informação verbal)9 pela
prestadoras de serviço ao SUS.
Secretaria de Saúde do Estado (SESAU) as menores Unidades de saúde atendiam cerca de
cinquenta pacientes por semana e as maiores atendiam cerca de cento e vinte pacientes de
ambos os sexos, da adolescência à terceira idade
O tamanho da amostra foi calculado de acordo com os dados sócio-demográficos
apresentados anualmente pela SBN (2012) que em seu Censo
indica uma população
agrupada principalmente na faixa etária de 18 a 65 anos e composta pelo sexo masculino em
pouco mais da metade, esses dados foram combinados com a informação apresentada pela
SESAU. A amostra pretendida
para o estudo foi de cento e dois pacientes para as seis
Unidades, sendo dezessete em cada Unidade, sendo assim mesmo nas menores unidades
seria possível alcançar esta quantidade de colaboradores.
A amostra foi selecionada por conveniência onde participaram 85 pacientes do sexo
masculino com idade variável de 18 a 65 anos em tratamento renal substitutivo em cada
unidade de diálise visitada, presentes nos dias de visita para coleta de dados e que aceitaram
participar da pesquisa. Vale ressaltar que os pacientes de cidades circunvizinhas deslocam-se
sob os cuidados de seus municípios de origem até o centro de diálise mais próximo, deste
modo, fizeram parte da pesquisa pacientes de outros municípios além dos citados.
Após a autorização
do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia e da direção
clínica de cada Unidade visitada, foi realizado contato com os pacientes a fim de solicitar a
participação destes na pesquisa. Realizou-se inicialmente entrevista psicológica com os
pacientes para identificar indivíduos com história de atividade sexual antes de iniciar o
tratamento renal substitutivo. Não fizeram parte da amostra pesquisada os pacientes que não
apresentavam histórico sexual,
ou que não possuíssem parceiro sexual na ocasião da
entrevista, pois não seria possível avaliar se houve alteração em seu desejo ou conduta.
Na ocasião do contato com os colaboradores, apresentou-se o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contendo o nome da pesquisa, pesquisador
responsável/orientador,
endereço,
telefone,
pesquisadores
participantes,
objetivos,
procedimentos do estudo, riscos e desconfortos, benefícios, custo e reembolso para o
9 Na ocasião do primeiro contato da pesquisadora com a SESAU foi solicitada a informação sobre o número de
pacientes em tratamento hemodialítico do Estado e a sua lotação para que se fizesse o cálculo do tamanho da
amostra do presente estudo de forma que em todas as Unidades pudessem ser contatados o mesmo número de
usuários.
11
participante, confidencialidade e informação ao mesmo sobre a possibilidade de saída em
qualquer momento da pesquisa, em caso de desistência.
Em caso de concordância em
participar da pesquisa, era solicitada sua assinatura confirmando seu aceite de participação.
Durante as entrevistas os nomes dos pacientes não foram registrados, apenas utilizada uma
numeração no questionário e seu correspondente no TCLE para que se em qualquer momento
um paciente desistisse de participar da pesquisa suas informações fossem retiradas dos
resultados. Posteriormente era aplicado o protocolo. Neste estudo serão apresentados e
discutidos apenas os resultados referente a interferência do tratamento hemodialítico na vida
sexual do paciente IRC.
3 RESULTADOS
A amostra de 85 pacientes pesquisados era composta principalmente por indivíduos
com idade maior que 42 anos (57 pacientes) que equivale a 67% da população; 55 pacientes
representando 64% da comunidade,
eram casados
e 68 pacientes – relativo a 80% da
amostra possuíam baixa escolaridade; destes, 21 não eram alfabetizados e 47 cursaram
apenas o ensino fundamental.
Na fase de adaptação ao ritmo do tratamento renal substitutivo as principais
dificuldades estavam relacionadas à adequação laboral - não tinham mais como sustentar a
família - e à adaptação terapêutica: medicação (41), restrição alimentar e de líquidos (29), que
representam 48% e 34% da amostra respectivamente. Neste aspecto, a questão sociocultural
“o macho provedor” em muitos casos é o elemento propulsor das angústias e gerador de
conflitos, inclusive sexuais; “Se não consigo nem sustentar a família, será que ainda vou ser
homem?” (Fala de um paciente expressando a dúvida sobre sua potencia sexual).
Ao serem indagados sobre alterações em sua vida sexual após o início do tratamento
88% dos pacientes (75 indivíduos) disseram “sim”. Destes, 68% (51 pacientes) falaram de
alterações significativas,
e 32% (24 homens) de alterações discretas . Apenas 10 pessoas
afirmaram que não houve alterações. As principais dificuldades encontradas na relação sexual
foram: o medo da parceira quanto à condição clínica do paciente (16 pessoas relataram que a
parceira receia que manter relações sexuais pode colocar a saúde do paciente em risco); 11
usuários relataram pouco tempo de ereção; 07 pessoas relataram alterações físicas nos fluidos
sexuais (esperma) e a impotência sexual, esta refletida na maioria dos casos (31 entrevistados
12
que representam 36,4 % dos pacientes); todavia 24% (21 homens) afirmam não ter
apresentado nenhuma dificuldade.
Os entrevistados foram convidados a fazer uma avaliação quanto a sua vida sexual
antes e após o início do tratamento.
Gráfico 1- Avaliação sobre a vida sexual antes (azul) e após (vermelho) o início do tratamento hemodialítico, os
números da coordenada são referentes a quantidade de indivíduos que optaram por cada resposta.
Nota-se uma queda na avaliação dos pacientes sobre seu desempenho sexual, pois de 21
e 28 pacientes que responderam
“ótimo” respectivamente,
para antes do tratamento com as opções: “excelente” e
a frequência diminuiu para 04 e 05 após o início do tratamento e
dos 12 que tinham optado pela avaliação “ruim” o número aumentou significativamente
chegando a 41 usuários na avaliação após o início do tratamento.
Os pacientes foram convidados a fazer uma avaliação quanto ao nível libidinal - desejo
sexual:
Gráfico 2- Libido antes (azul) e após (vermelho) o início do tratamento, os números da coordenada são
referentes a quantidade de indivíduos que optaram por cada alternativa.
13
Os gráficos apontam um forte declínio da gratificação sexual originada na
intensidade do desejo; os critérios insatisfatório ou nulo aumentaram de 02 e 04 para 14 e 13
respectivamente durante o tratamento.
Ao tratar do aspecto funcional da vida sexual do paciente renal crônico foi possível
observar que 74% dos pesquisados (63 pacientes) necessitaram de adaptações do
comportamento sexual; destes, 38% (24 pacientes) através do aumento dos estímulos
preliminares e 62% (39 pacientes) diminuindo a frequência do ato sexual; entretanto, quando
perguntados se houve necessidade de adaptações externas 67% (57 pacientes) disseram
“não”. Neste quesito é importante salientar que 21% dos entrevistados (18 pacientes)
afirmam utilizar
prótese
medicamentos
peniana
(este
para esta finalidade e apenas um indivíduo informou utilizar
paciente
possui
outra
doença
crônica
associada).
Todas essas alterações: duração, frequência e regularidade são minimizadas pelo
apoio que recebem de suas companheiras, pois 61 pacientes (72% dos pesquisados) informam
que suas parceiras - por reconhecerem que suas condições de saúde geram limitações sexuais
- reagiram às mudanças com compreensão. Esta atitude da parceira auxilia o casal a manterse equilibrado na relação, pois sabem que é possível experimentar momentos de prazer em
outras oportunidades, não somente nesses dias (da sessão de hemodiálise).
Ao tratar do tema “disfunção erétil” 75% dos pacientes (64 homens) afirmaram já ter
vivenciado pelo menos um evento.
Quanto à ejaculação precoce, 20% dos pacientes
entrevistados afirmam que este não é um problema, entretanto 80% dizem que sim e que isto
ocorre com frequência, acabando por gerar transtornos ao relacionamento conjugal geralmente eles não conseguem outra ereção no mesmo dia – e acreditam que suas
companheiras ficam sexualmente insatisfeitas, esta interpretação
sobre a satisfação sexual da
parceira está fundamentada na falta de diálogo, para muitos gerada pela vergonha
experimentada, decorrente de seu desempenho sexual.
Ao questionar “Há cobranças de sua parceira sobre seu desempenho sexual?” 76%
dos entrevistados (65 pacientes) afirmaram que não sofrem cobranças, que suas companheiras
entendem a limitação atual; dos 20 entrevistados que disseram ser cobrados, (24% da
amostra) informaram que esta cobrança acontece raramente e quando acontece é com amor
(SIC).
14
4 DISCUSSÃO
A caracterização sociodemográfica da população IRC pesquisada est’a de acordo
com os estudos de Kusumota (2005, e SBN, 2012), nos três critérios levantados, indivíduos
na meia idade (acima de 42 anos), em relacionamento estável e baixa escolaridade.
Para Trentini (2003), a adesão do paciente à hemodiálise o auxilia na recuperação e
manutenção de uma vida útil e produtiva, porém os problemas psicossociais se evidenciam
através da diminuição da renda familiar, do afastamento do emprego, do medo de morrer, da
falta de informação sobre a patologia, da dependência emocional, da recusa em observar a
dieta, nas mudanças percebidas quanto à aparência, ao autoconceito e nos sentimentos de
tristeza e abandono vivenciados. Após receber o diagnóstico da afecção juntamente com a
informação sobre as muitas mudanças que o tratamento acarretaria em sua rotina de trabalho,
condição financeira e ritmo de vida, os pacientes passam então a lutar para que a adaptação
seja o menos traumática possível.
As representações mentais acerca da responsabilidade social do paciente renal para
com sua família pode ser compreendida quando Verdes Moreiras (1993 apud CUKER, 2010)
afirma que a questão do trabalho é sentida pelo adulto como um grande prejuízo pois, o
tratamento em geral impede sua continuidade e ele passa a se sentir inútil e dependente. Esta
visão é confirmada por Carreira e Marcon (2003), que ressalta que a ausência de trabalho
remunerado não só acarreta problemas financeiros a ele e sua família, mas gera ociosidade,
sentimento de inutilidade e desvalorização, assim como a sensação de ser um fardo para a
família.
Ao falar da perda da capacidade laboral e consequente dificuldade financeira
experimentada um paciente faz o seguinte relato: “Se não consigo nem sustentar a família,
será que ainda vou ser homem?” (SIC); esta frase poderia ser reescrita desta forma: Se não
consigo nem sustentar a família será que conseguirei manter uma ereção e ter relações
sexuais com minha companheira? Neste momento se explicita a interferência do ambiente
sobre a conduta sexual do indivíduo, pois quando ele não acredita ser capaz de manter uma
ereção seu organismo não se encarrega de enviar as mensagens necessárias para que seu
corpo reaja ao estímulo.
Qualquer dúvida sobre sua capacidade de fazer sexo implica primeiramente, não se
reconhecer enquanto homem, e se isto for conhecido por outros, ele passa a não ser
reconhecido enquanto homem. Esta contingência conduz o homem a desenvolver
15
mecanismos paranóides sobre si mesmo e seu comportamento sexual. Sua
identidade masculina liga-se à capacidade de fazer sexo, distinta de motivações
sexuais ou desejo de prazer. Do ponto de vista emocional, esta perseguição a si
mesmo traduz-se por ansiedade, o que fisiologicamente implica possíveis
problemas sexuais. (RODRIGUES JR, 1996 apud RODRIGUES JR, 2002 p.82).
A doença renal crônica é vivenciada pelos indivíduos como um momento de ruptura
na vida onde a noção de tempo é delimitada pelo antes e depois do diagnóstico, pois além das
alterações orgânicas, esta condição pode causar dificuldades sociais e emocionais que
acometem o cotidiano dos pacientes (QUINTANA e MULLER, 2006)
As alterações na expressão da sexualidade podem ser encaradas, nesse contexto, como
uma nova fase à qual o paciente renal crônico necessita se adaptar para viver com mais
qualidade. De acordo com Moraes (1998), o desenvolvimento da sexualidade corresponde à
evolução dos indivíduos no sentido de se tornarem maduros e adultos, relacionando – se com
outros indivíduos e vivendo bem, devidamente ajustados na sociedade. Para este autor o
relacionamento sexual pode ser prejudicado quando ocorrem disfunções:
A disfunção sexual se refere aos vários modos pelos quais um indivíduo é incapaz de
participar de um relacionamento sexual como ele desejaria. Pode haver falta de
interesse, falta de prazer ou falha das respostas fisiológicas necessárias para relação
sexual efetiva ou incapacidade de controlar ou experimentar orgasmo (p.42).
Não devemos desconsiderar as causas orgânicas da DE; Glina (1999), nos apresenta a
disfunção erétil como a dificuldade de conseguir manter, de maneira constante, uma ereção
peniana suficiente para penetração vaginal e obtenção de satisfação sexual. A incidência
desta inadequação pode variar de 10% a 52% da população masculina geral. A insuficiência
renal crônica está associada à perda de libido e DE. Essas alterações ocorrem por diminuição
dos níveis de testosterona, diabetes mellitus, alterações vasculares, medicamentos e
neuropatia (LUE, 1998 apud FORTES, 2000).
Homens que sempre tiveram falta de controle ejaculatório tendem a desenvolver
dificuldade erétil como resposta a estratégias sexuais inadequadas ou a dificuldades em
modificar comportamentos sexuais ao longo da vida. A inibição do desejo sexual e a
motivação para o comportamento sexual ocorre em 45 % dos homens com queixas eréteis
(CERCARELLO et al., 1991 apud RODRIGUES JR, 2002).
Rodrigues et al. (2011), desenvolveram uma pesquisa qualitativa sobre a vivência de
homens submetidos à hemodiálise acerca de sua sexualidade em que percebeu-se que a tanto
os aspectos físicos e emocionais do paciente renal tem íntima relação com a atividade sexual
experimentada; que em geral os pacientes buscam estratégias para minimizar problemas
16
relativos a sexualidade e com isso alcançam maior sucesso no enfrentamento dos obstáculos
que se estabeleceram em decorrência da condição crônica.
Segundo Kaplan (1977, apud FAVORÊTO, 2002, p. 322):
Os indivíduos que apresentam ejaculação precoce não percebem de forma
consciente as sensações que precedem o orgasmo. Dessa forma, atingem o
ponto de inevitabilidade ejaculatória sem que possam intervir diminuindo a
própria excitação. Outros homens têm percepção das sensações
premonitórias mas, apesar de conseguirem parar ou retardar o orgasmo,
sentem vontade de ejacular tão logo sejam iniciados os estímulos no pênis e
têm de interromper os movimentos para evitá-la. Esse tipo de situação é
martirizante para a parceira, que a todo instante tem de interromper a
própria excitação para que o parceiro não perca o controle da ejaculação.
A companheira do paciente renal crônico não somente se expressa em apoio e
compreensão quanto às alterações vividas em todas as dimensões da vida diária incluindo a
sexualidade como se comportam como cuidadoras como nos propõem Thomé e Meyer (2011)
ao afirmar que estas assume o cuidado pessoal, acompanham a adesão ao tratamento
(medicamentos, orientação nutricional) e atividades cotidianas e sócias que estes homens
demandam.
Pode-se dizer que nem a vida sexual das cuidadoras de doentes renais
crônicos escapa às consequências da doença e do tratamento. O doente renal
crônico pode apresentar um quadro de disfunção sexual de difícil ou
nenhuma reversão e isso pode, muitas vezes, interferir em suas relações
afetivas. (...) é possível, mesmo em face da doença, encontrar algumas
formas de satisfação sexual; outras (...) resignam-se com o fato, colocando-o
como algo de pouca importância. (THOMÉ e MEYER, 2011, p.06)
No imaginário masculino da maioria dos entrevistados a única forma de expressão
sexual adulta é a penetração; portanto, para muitos homens a diminuição da duração e
frequência da ereção anulam sua vida sexual. A sexualidade humana abrange muito mais do
que o sexo genital, desta forma adaptações da vida sexual madura podem ser necessárias em
algum momento do tratamento e na expressão da sexualidade como um todo, não limitando –
se exclusivamente ao coito. Para Costa (1997), o caminho é unir sexo à emoção verdadeira.
Os pacientes que desconsideram as outras zonas erógenas de seu corpo deixam de vivenciar
formas altamente prazerosas da vida sexual.
À medida que vão estreitando os laços com a equipe a liberdade de comunicação se
amplia, entretanto alguns assuntos podem permanecer “intocáveis” durante todo o tratamento
devido a questões religiosas, culturais e morais dos pacientes.
17
No Brasil, o “I Consenso sobre Disfunção Erétil” organizado pela Sociedade Brasileira
de Urologia apresentou o tratamento psicoterapêutico como prioritário para causas
psicológicas na disfunção erétil (DAMIÃO et al., 1998 apud RODRIGUES JR, 2002). A
terapia sexual é definida como o tratamento dos problemas sexuais baseado em fundamentos
científicos que assumem a forma de segurança, educação e recomendações cuidadosamente
elaboradas, com reforço do papel do terapeuta como educador (RODRIGUES JR, 1996,
2001). O objetivo é modificar as condições que possam conduzir a situações de disfunção
sexual, considerando todos os eventos relacionados ao problema.
A psicoterapia, independente da demanda, se destina a permitir às pessoas serem
simplesmente elas mesmas (BERGMAN 1996). A terapia de apoio neste caso é uma
ferramenta disponível tendo em vista os desdobramentos psicológicos que o problema
sexual desencadeia na auto estima do indivíduo e na qualidade de seus envolvimentos, essa
modalidade terapêutica oferece a possibilidade de reformular conceitos e descobrir
caminhos para a auto confiança e para o prazer.
Adicionalmente, proporciona melhor
aceitação quando há necessidade de realização de implante de prótese por parte do paciente
preparado psicologicamente para sua colocação (FERREIRA & REIS, 2002).
O papel do psicólogo como parte da equipe de saúde é de identificar o paciente como
sujeito além dos sintomas, compreendendo – o em suas vivências, medos, ansiedades e na
vida em geral que inclui seus desejos e projetos de vida antes e depois do diagnóstico da IRC
(FREITAS & COSMO, 2010).
5 CONCLUSÃO
A análise dos dados
possibilitou uma reflexão sobre as queixas
sexuais
apresentadas pelos pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise no estado de
Rondônia, indicando que a adaptação à nova rotina decorrente do tratamento e da limitação
laboral causou prejuízo à vivência sexual do paciente IRC.
Os fatores que interferem diretamente na vida sexual desta comunidade são a
disfunção erétil e ejaculatória. A realidade sexual dos pacientes é então prejudicada com
diminuição da frequência e duração da atividade sexual e de prejuízo libidinal, este quadro
conduz à expectativa de que não experimentarão prazer sexual ou que não terão novo acesso
a experiências sexuais prazerosas, uma vez que para esta população ereção é condição
indispensável para alcançar prazer.
18
A superação de qualquer disfunção sexual requer do paciente uma mudança em suas
crenças e maneira de encarar a prática sexual.
conhecimento pessoal,
utilizando-se
É necessário que o paciente invista em seu
da afetividade na esfera da sexualidade com vistas à
qualidade das relações vivenciadas; e aos que podem contar com o apoio e compreensão de
suas parceiras tem maiores possibilidades
para melhorar seu desempenho
e satisfação
sexual. A oferta desta informação deve ser realizada por todos os profissionais envolvidos,
que em sua área de atuação poderão ser claros e precisos em suas recomendações.
A sexualidade bem vivida traz benefícios à vida e à intimidade nos relacionamentos.
Tratar a disfunção é oportunizar – se, estar de bem com a vida, é necessário que se realize
uma franca abordagem da equipe de saúde sobre a sexualidade com toda a comunidade
atendida, estendendo esta discussão também à família, para que seja possível superar o
preconceito sobre o assunto
e ainda
que sejam delineadas condições de
oferta à
comunidade sobre estratégias terapêuticas na adaptação a vida sexual atual.
6 REFERÊNCIAS
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL). Dicionário Escolar da Língua
Portuguesa. 2.ed.São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.
BERGMAN, J. S. Pescando barracudas In:______ A pragmática da terapia sistêmica
Breve. Porto Alegre: Artes médicas; 1996.p.99-127.
BEVILACQUA, F. et al. Fisiopatologia clínica. 5ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998.
BRAZ, F. G. Aspectos sociais da doença renal crônica: Dimensões de análise e desafios
para o serviço social. 2008.Trabalho de conclusão de curso (Serviço Social)- Departamento
de Serviço Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível
em: http://tcc.bu.ufsc.br/Ssocial285355.pdf. Acesso em: 23 ago. 2012
BRIGGS, V. R. B. A importância da família junto ao paciente portador de insuficiência
renal crônica terminal transplantado. 2007.
Monografia apresentada à disciplina
Metodologia da pesquisa (Pós graduação LATO SENSU de Terapia da Família)- Instituto a
vez do mestre, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <
http://www.avm.edu.br/monopdf/3/VANDA%20REGINA%20BRAGA%20BRIGGS.pdf
>.
Acesso em: 10 out. 2011.
BRUNNER, S.L.; SUDDARTH, R.R. Tratado de enfermagem médica. 9ª ed. Rio de
Janeiro: Interamérica, 2002.
CAMPOS, M.I.V.A.M.et al,. Qualidade de vida de pacientes portador de doença renal
crônica em hemodiálise. 2012. Disponível em: <
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/mestrado/trabalhos- mestrado/mestrado- martaisabel.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2013.
19
CARREIRA, L. MARCON, S.S. Cotidiano e trabalho: concepções de indivíduos portadores
de insuficiência renal crônica e seus familiares. Revista Latin-Americana de Enfermagem,
Ribeirão Preto. v..11, n. 6 p. 823-831, 2003.
COSTA, M. Sexo: minutos que valem ouro. São Paulo, SP: Mandarin, 1997.
CROWE, M; JONES, M. Sex therapy: the successes, the failures, the future. British Journal
of Hospital Medicine v.48, p.:474-479, 2009.
CUKER, G.M. As dimensões psicológica da doença renal crônica. 2010. Trabalho de
conclusão de curso (Psicologia)- Departamento de Psicologia, Universidade do Extremo Sul
Catarinense, Criciuma, 2010. Disponível em: <
http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000044/0000440B.pdf >. Acesso em: 16
nov.2013.
DINIZ, D.P. Insuficiência renal crônica – É possível viver bem. São Paulo, Unifesp-EPM:
Casa do Psicólogo, 2001
FAHUR, B.S. et al,.Avaliação da qualidade de vida com instrumento KDQOL-SF em
pacientes que realizam hemodiálise. 2010. Colloquium Vitae, v.2,n. 2, p.17-21, jul-dez 2010 .
Disponível
em:
<
http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/cv/article/viewFile/551/453>. Acesso em: 08
dez. 2012.
FAVORÊTO, A. V. Tratamento psicoterápico do descontrole ejaculatório. In: GLINA, S. et
al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e tratamento.1ª ed. São
Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.3.14, p. 321-327.
FERREIRA, M.M.; REIS, J. M. S. M.- Associação entre psicoterapia e tratamentos médicos.
In: GLINA, S.
et al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e
tratamento.1ª ed. São Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.3.14, p.223-225.
FORTES, V.L.F. O cotidiano da pessoa em tratamento dialítico domiciliar: modos
criativos de cuidar-se. 2000. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)- Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis 2000. Disponível em:<
http://aspro02.npd.ufsc.br/arquivos/170000/173500/18_173573.htm?codBib=>. Acesso em:
12 ago. 2011.
FREITAS, P.P.W.; COSMO, M. Atuação do psicólogo em Hemodiálise. Rev. SBPH. Rio de
Janeiro,
v.13
n.1,
p.19-32,
Jun.2010.
Disponível
em:
<
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582010000100003
>.
Acesso em: 15 dez. 2013.
GLINA, S. A disfunção erectil. Guia prático de urologia. São Paulo: BG Cultural, 1999.
KARDOUS, P. Impotência sexual: O real, o simbólico e o imaginário. São Paulo:
Casa do psicólogo, 2007.
KUSUMOTA, L. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes em
hemodiálise. 2005. Tese (Doutorado em Enfermagem)- Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: <
20
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-22022006-094219/pt-br.php>.
em: 06 abr. 2010.
Acesso
LOTTEMBERG, S. A. Investigação e tratamento dos distúrbios hormonais associados à
disfunção erétil. In: GLINA, S. et al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos:
diagnóstico e tratamento.1ª ed. São Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.3.13, p.335- 341.
MONESI, A. A. Avaliação psicológica da disfunção erétil e do descontrole ejaculatório. In:
GLINA, S.
et al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e
tratamento.1ª ed. São Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.2.7, p.179-182.
MORAES, I. N. Sexologia (Sexo, Sexualidade e Sexualismo) São Paulo:Lejus, 1998.
MORALES, J. ROLO, F e SÁ, H. disfunção eréctil e insuficiência renal crônica. Acta
Urológica Portuguesa. v. 8, n.3 p. 35-38, 2001. Disponível em: <
http://www.apurologia.pt/acta/3-2001/Dissf-erec- insuf.pdf >. Acesso em: 07 jul. 2012.
NÓRA, R.T. ZAMBONE, G.S. e NÁCIO JÚNIOR, F.N. A avaliação da qualidade de vida e
disfunções sexuais em pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento dialítico em
hospital. Arq. Ciênc. Saúde. v.16,n.2, p. 72-75, abril-jun, 2009. Disponível em: <
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&ne
xtAction=lnk&exprSearch=545841&indexSearch=ID >. Acesso em: 10 out. 2012.
NOVARETTI, J.P.T. Tratamento medicamentoso da ejaculação precoce. In: GLINA, S. et al.
Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e tratamento.1ª ed. São
Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.3.10, p.305-318.
POLIT, D.F. HUNGLER, B.H. Delineamento de pesquisa em enfermagem. In: POLIT, D.F.
HUNGLER, B.H. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 3ª ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1995.
QUINTANA, M.A. MULLER, A.C. Da saúde à doença: representações sociais sobre a
insuficiência renal crônica e o transplante renal. Psicologia Argumento, Curitiba, v 24, n.44,
p.73-80, 2006.
RELMAN, J; MELMAN, A. Fisiopatologia das principais causas de disfunção erétil. In:
GLINA, S.
et al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e
tratamento.1ª ed. São Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.1.3, p.59-79.
RODRIGUES, D.F. et al. Vivências dos homens submetidos à hemodiálise acerca de sua
sexualidade. Avances em enfemería. Vol XXIX n ° 2,p. 255-262, Jul- dic 2011. Disponível
em: < http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/revista2011/04.pdf> acesso em: 11
nov. 2013.
RODRIGUES JR, O. M.- Identidade sexual e masculina: uma trajetória de superação da
disfunção erétil. 1996. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) PUC- SP, São Paulo,
1996. Disponível em:< http://oswrod1.wordpress.com/about/ > Acesso em: 14 ago.2011.
21
RODRIGUES JR, O. M.- O processo terapêutico em sexologia. In:______. (org):
Aprimorando a saúde sexual – Manual de técnicas de terapia sexual. São Paulo: Summus
Editorial, 2001, cap. 3, p. 85-96.
RODRIGUES JR, O. M. Fatores psicológicos associados à disfunção sexual masculina. In:
GLINA, S.
et al. Disfunção Sexual masculina: conceitos básicos: diagnóstico e
tratamento.1ª ed. São Paulo: Instituto H. Ellis, 2002.cap.1.4, p.81-85.
ROLLAND, J.S .Doença cônica e o ciclo de vida familiar. In: CARTER,B.;McGOLDRICK,
M. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2ª ed,
Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.cap.18, p. 373-392.
ROMÃO JUNIOR, J.E. Doença renal crônica: Definição, epidemiologia e classificação.
Jornal Brasileiro de Nefrologia, São Paulo, v. xxvi , n.3, s.1 p.1-3, ago.2004
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA- Censo de diálise SBN 2012.
Disponível em: <http://www.sbn.org.br/pdf/publico2012.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2013.
THOMÉ, E. G. R. e MEYER, D.E.E. Mulheres cuidadoras de homens com doença renal
crônica: uma abordagem cultural. Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 20, n.3, p. 503511,
Jul-set 2011. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072011000300011&script=sci_arttext >. Acesso em: 07 jul. 2012.
TRENTINI, M. Problemas bio-psico-sociais dos pacientes com IRC sob tratamento
hemodialítico prolongado, em Florianópolis. 2003. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem. Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. Disponível em<
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nex
tAction=lnk&exprSearch=5534&indexSearch=ID> Acesso em: 28 nov. 2009.
TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1992.
WORLD HELTH ORGANIZATION. (WHO). Preamble of constituition of the who.
Genebra. World Helth Organization, 1946.