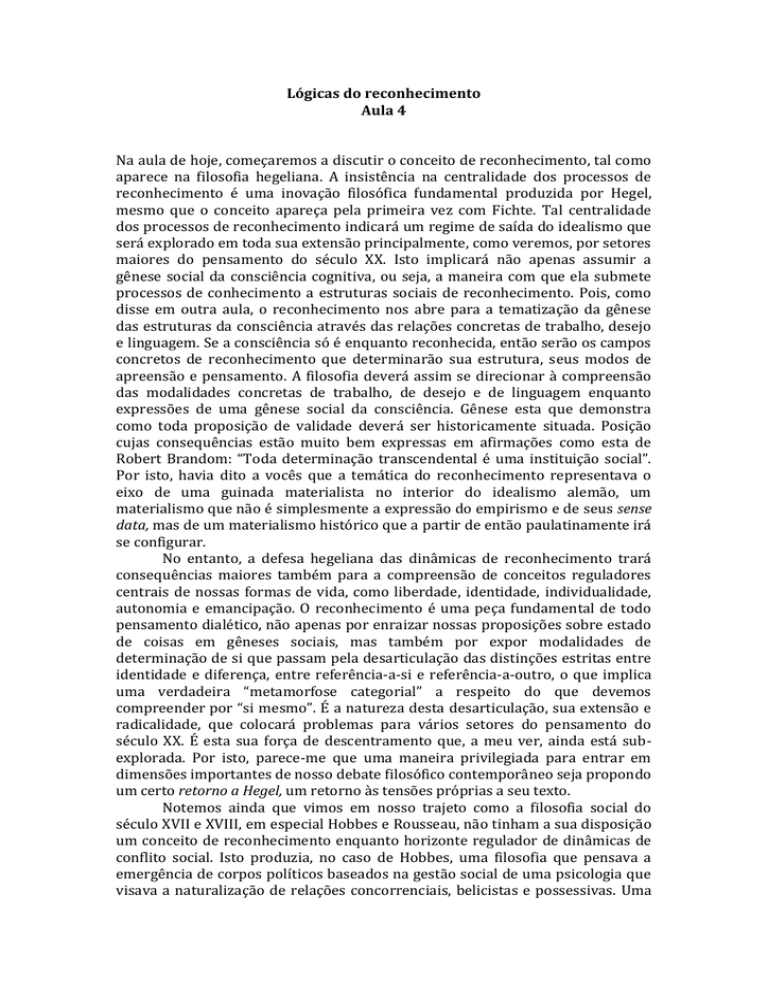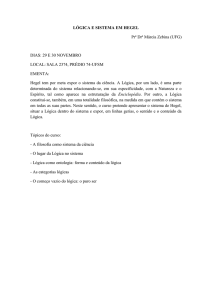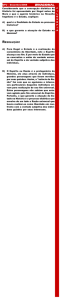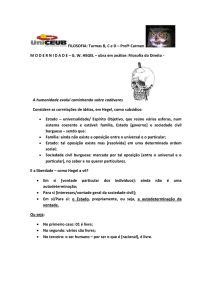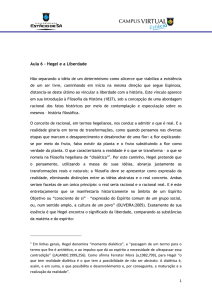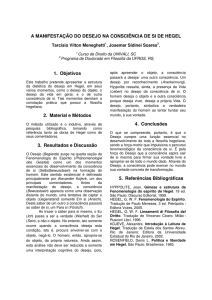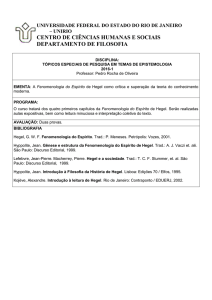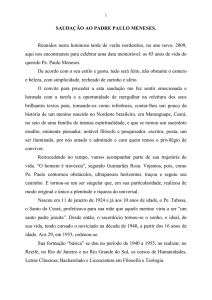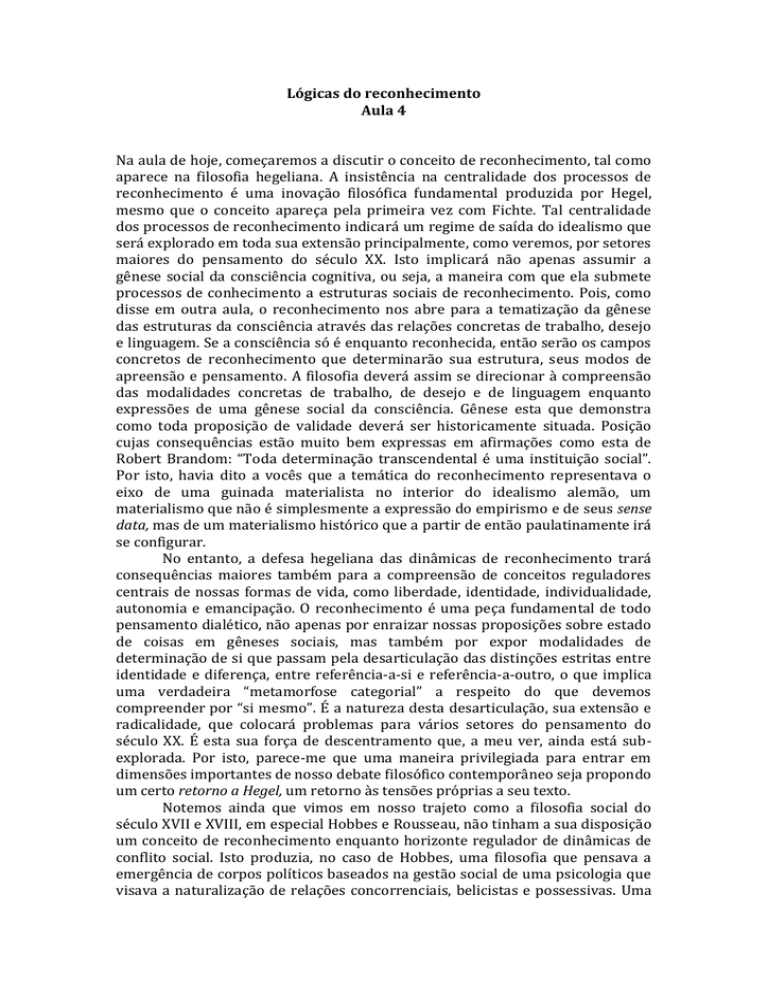
Lógicas do reconhecimento
Aula 4
Na aula de hoje, começaremos a discutir o conceito de reconhecimento, tal como
aparece na filosofia hegeliana. A insistência na centralidade dos processos de
reconhecimento é uma inovação filosófica fundamental produzida por Hegel,
mesmo que o conceito apareça pela primeira vez com Fichte. Tal centralidade
dos processos de reconhecimento indicará um regime de saída do idealismo que
será explorado em toda sua extensão principalmente, como veremos, por setores
maiores do pensamento do século XX. Isto implicará não apenas assumir a
gênese social da consciência cognitiva, ou seja, a maneira com que ela submete
processos de conhecimento a estruturas sociais de reconhecimento. Pois, como
disse em outra aula, o reconhecimento nos abre para a tematização da gênese
das estruturas da consciência através das relações concretas de trabalho, desejo
e linguagem. Se a consciência só é enquanto reconhecida, então serão os campos
concretos de reconhecimento que determinarão sua estrutura, seus modos de
apreensão e pensamento. A filosofia deverá assim se direcionar à compreensão
das modalidades concretas de trabalho, de desejo e de linguagem enquanto
expressões de uma gênese social da consciência. Gênese esta que demonstra
como toda proposição de validade deverá ser historicamente situada. Posição
cujas consequências estão muito bem expressas em afirmações como esta de
Robert Brandom: “Toda determinação transcendental é uma instituição social”.
Por isto, havia dito a vocês que a temática do reconhecimento representava o
eixo de uma guinada materialista no interior do idealismo alemão, um
materialismo que não é simplesmente a expressão do empirismo e de seus sense
data, mas de um materialismo histórico que a partir de então paulatinamente irá
se configurar.
No entanto, a defesa hegeliana das dinâmicas de reconhecimento trará
consequências maiores também para a compreensão de conceitos reguladores
centrais de nossas formas de vida, como liberdade, identidade, individualidade,
autonomia e emancipação. O reconhecimento é uma peça fundamental de todo
pensamento dialético, não apenas por enraizar nossas proposições sobre estado
de coisas em gêneses sociais, mas também por expor modalidades de
determinação de si que passam pela desarticulação das distinções estritas entre
identidade e diferença, entre referência-a-si e referência-a-outro, o que implica
uma verdadeira “metamorfose categorial” a respeito do que devemos
compreender por “si mesmo”. É a natureza desta desarticulação, sua extensão e
radicalidade, que colocará problemas para vários setores do pensamento do
século XX. É esta sua força de descentramento que, a meu ver, ainda está subexplorada. Por isto, parece-me que uma maneira privilegiada para entrar em
dimensões importantes de nosso debate filosófico contemporâneo seja propondo
um certo retorno a Hegel, um retorno às tensões próprias a seu texto.
Notemos ainda que vimos em nosso trajeto como a filosofia social do
século XVII e XVIII, em especial Hobbes e Rousseau, não tinham a sua disposição
um conceito de reconhecimento enquanto horizonte regulador de dinâmicas de
conflito social. Isto produzia, no caso de Hobbes, uma filosofia que pensava a
emergência de corpos políticos baseados na gestão social de uma psicologia que
visava a naturalização de relações concorrenciais, belicistas e possessivas. Uma
psicologia que visava fornecer as bases para a naturalização do conceito
moderno de indivíduo, transforma-lo em um conceito pré-político e ligado a um
processo de determinação meramente psicológica. Neste sentido, a instauração
do estado de sociedade só era possível através da repressão contínua do que
aparecia como natureza humana, obrigando com isto a mobilização contínua do
medo como afeto social. Este circuito de afetos baseado no medo, fruto da
aceitação da fantasia social da guerra de todos contra todos, aparecia como a
mais profunda contradição em relação a práticas de reconhecimento. Não pode
haver reconhecimento lá onde há medo social.
No caso de Rousseau, vimos como a liberdade civil pressupunha uma
autonomia que representava, a sua maneira, um esquecimento da natureza
humana em sua relação de imanência ao corpo da natureza. De onde se seguia o
fato das demandas de reconhecimento serem compreendidas, em larga medida,
de maneira negativa, como processos de alienação e dependência da estima do
outro. Dependência esta que criava o cultivo da aparência e a perda da
transparência. Aqui também a emergência de um corpo político, sob as formas
do contrato social e da vontade geral, tinha que lidar com as limitações
existenciais próprias da elevação da individualidade moderna à célula elementar
da vida social. A vontade geral nascia da possibilidade de motivações para a ação
que não se resumiam a emulação dos interesses individuais. No entanto, ela
implicava a instauração de uma segunda natureza na qual a independência era
transmutada em coesão social no interior de um “Eu comum”. Neste processo, a
soberania popular não implica lidar com uma primeira natureza perdida e sua
nostalgia. Esta nostalgia continuará a assombrar os laços sociais, mas mesmo
esta primeira natureza não será objeto de reconhecimento, no que o termo tem
de determinação de singularidades. Sua emergência será a marca do retorno a
uma origem na qual a generalidade da voz da natureza fala através dos humanos.
De toda forma, tanto a filosofia de Hobbes quanto a de Rousseau tinham
ao menos um ponto em comum: parte-se dos indivíduos isolados em estado de
natureza para alcançarmos as condições possíveis de emergência de um corpo
político. Em Hegel, veremos estratégias completamente distintas. Ao insistir na
centralidade dos processos de reconhecimento, Hegel lembra que a célula
elementar da vida social não são indivíduos atomizados, mas relações. Ou seja, é
certo afirmarmos que, no seu caso, as relações vem antes de seus termos. Ou
seja, o que temos inicialmente são relações, os indivíduos são abstrações, e não o
contrário (os indivíduos seriam “reais” e as relações seriam “abstrações”). Hegel
age como quem diz: a consciência não é prévia às relações intersubjetivas. Na
verdade, ela é seu produto. O que há de concreto no mundo são as relações e sua
força produtiva, não as disposições individuais de conduta. No entanto, a
consciência não é um mero produto, um simples suporte de relações
intersubjetivas. Ela é também o que força as estruturas intersubjetivas a
operarem a partir de conflitos que não são apenas conflitos a respeito da melhor
aplicação de normas sociais intersubjetivamente partilhadas, mas são conflitos a
respeito da legitimidade de tais normas. Esta tensão de difícil manejo é possível
para Hegel, sem necessariamente substancializar a consciência porque, como
veremos, ele tem à sua disposição o conceito de “negatividade”, que se mostrará
central em toda nossa discussão. Mas antes de entrar na exposição da estrutura
conceitual hegeliana, há de entender as matizes de sua trajetória até a
tematização do problema do reconhecimento.
Fenomenologia do Espírito e reconhecimento
O texto mais importante sobre a teoria do reconhecimento de Hegel é, sem
dúvida, sua Fenomenologia do Espírito, de 1806. Nela, encontramos a primeira
formulação acabada do problema do reconhecimento através de várias figuras da
consciência (como a dialética do senhor e do escravo, o mal e seu perdão, entre
outras). Elas serão retomadas e desenvolvidas principalmente em duas obras
posteriores: a Enciclopédia das ciências filosóficas e os Fundamentos da Filosofia
do direito.
De certa forma, o movimento que anima a Fenomenologia do Espírito está
sintetizado na afirmação, presente em sua Introdução: “o caminho do erro é o
caminho da verdade”. Em Hegel, “fenomenologia” significa o estudo da maneira
com que a consciência erra, a maneira com que ela aliena-se na dimensão do que
lhe aparece. No entanto, este sistema de erros é um caminho em direção ao
saber, pois algo acumula-se às costas da consciência, mesmo que ela não perceba.
Isto a ponto do saber aparecer como indissociável da compreensão deste
processo em sua direção. O verdadeiro objeto do saber é a compreensão do
sentido do caminho em sua direção.
Assim, em um movimento contínuo, veremos a consciência procurar
adequar sua certeza à verdade, e para tanto ela partira da certeza mais
elementar, a saber, a certeza da objetividade dos dados imediatos do sentido.
Desde o início, ela se verá enredada em contradições a partir do momento em
que tentará exteriorizar sua certeza, falar sobre ela, expressa-la em um espaço
intersubjetivo. Ela descobrirá que não há relação imediata entre a consciência e
seu objeto, que todas essas relações são mediadas pela estrutura de uma
linguagem que não é simplesmente “minha”, mas que é fruto de uma experiência
social. Neste caminho, ela descobrirá como a estrutura do objeto tem a estrutura
do Eu. O que a princípio para uma proposição idealista típica que reduz o objeto
à projeção da estrutura de categorização do sujeito. No entanto, Hegel quer
mostrar que é o Eu que irá se modificar a partir de seus fracassos em adequar
seu conceito ao objeto, a certeza à verdade. Neste momento, a consciência deixa
de ser “consciência de objeto” e passa a ser “consciência-de-si”. Pois
compreende-se a emergência de um “Eu que é Nós, de um Nós que é Eu”. Ou seja,
não é o Eu isolado como subjetividade constituinte que se confronta aos objetos.
São as estruturas sociais de relações que determinam as formas gerais da
experiência.
No entanto, dizer isto é ainda dizer pouco. Pois há de se entender como
analisar tais estruturas sociais. No caso de Hegel, podemos dizer que o problema
central consiste em entender o que as move. Qual é o motor do movimento das
estruturas sociais e de suas modificações históricas. É para responder esta
questão que Hegel mobilizará o tema do reconhecimento. É através de lutas por
reconhecimento que as estruturas se movem e se modificam. É forçando
processos incompletos e parciais de reconhecimento que elas se transformam.
Ou seja, a história na Fenomenologia do Espírito é uma história de lutas por
reconhecimento.
Quando for capaz de apreender tal história, quando se ver como sujeito
transindividual que atualiza tal história e age no presente a partir dela, a
consciência-de-si não será mais consciência-de-si. Ela será Espírito. Neste
sentido, Espírito não é uma espécie de entidade metafísica superior que teria
parte com a secularização de um conceito divino de providência.
Quando Hegel fala em Espírito, podemos compreender isto, a princípio, de
uma maneira não-metafísica. Atualmente, quando falamos sobre sujeitos
socializados que procuram julgar, orientar racionalmente suas ações e usos da
linguagem, lembramos inevitavelmente da necessidade de um background
pensado um “sistema de expectativas” fundamentado na existência de um saber
prático cultural e de um conjunto de pressupostos que define, de modo préintencional, o contexto de significação. Este background indica que toda ação e
todo julgamento pressupõem um “espaço social partilhado” capaz de garantir a
significação da ação, do julgamento e, principalmente, de nossos modos de
estruturar relações.
Como disse, este background é, em larga medida, pré-intencional e préreflexivo. Não colocamos normalmente a questão sobre a gênese deste saber
prático cultural que fundamenta nossos espaços sociais. Sua validade não
aparece como objeto de problematização. No entanto, podemos imaginar uma
situação na qual os sujeitos socializados irão procurar apreender de maneira
reflexiva aquilo que aparece a eles como fundamento para suas práticas e
julgamentos racionais, podemos pensar uma situação na qual eles procurem
compreender o processo de formação cultural que os levou a tais modos de
orientação da conduta. Podemos ainda achar que tais modos de orientação não
devem ter apenas uma validade historicamente determinada e restrita a espaços
sociais particulares, mas só podem ser válidos se puderem ser defendidos
enquanto universais. Neste momento, estaremos muito próximos daquilo que
Hegel compreende por Espírito. Devemos, neste ponto, seguir a definição de um
comentador de Hegel que viu claramente isto: “Espírito é uma forma de vida
autoconsciente, ou seja, uma forma de vida que desenvolveu várias práticas
sociais a fim de refletir a respeito do que ela toma por legítimo/válido
(authoritative) para si mesma no sentido de saber se estas práticas podem dar
conta de suas próprias aspirações e realizar os objetivos que elas colocaram para
si mesmas (...) Espírito não denota, para Hegel, uma entidade metafísica, mas
uma relação fundamental entre pessoas que medeia suas consciências-de-si, um
meio através do qual pessoas refletem sobre o que elas tomaram por válidos
para si mesmas”1. É a este horizonte que as prática de reconhecimento em Hegel
procuram nos levar. Mas para compreendê-lo de maneira mais efetiva, teremos
que passar da Fenomenologia do Espírito à Filosofia do direito. Pois é lá que este
horizonte normativo do Espírito estará mais claramente posto.
Os primeiros passos em direção ao reconhecimento
No entanto, as primeira formulações sobre o problema do reconhecimento em
Hegel devem ser creditadas a seus manuscritos de juventude, em especial o
chamado Sistema da eticidade e o curso sobre a Filosofia do Espírito, de 1805.
Neles, encontramos de forma clara a maneira com que a tarefa filosófica de Hegel
se vincula a um diagnóstico de época que é, ao mesmo tempo, socio-histórico e
filosófico.
1
PINKARD, Terry; The sociality of reason, p. 9
Hegel partilha com pós-kantianos, como Fichte e Schelling, o diagnóstico
de que viveríamos em um momento histórico de cisão resultante da elevação do
princípio de subjetividade a condição de fundamento da razão moderna, assim
como de seus modos de racionalização social. Este princípio de subjetividade,
com sua condição de fundamento, exige que tudo aquilo que aspira validade seja
submetido à força da reflexão. Ele faz com que ser e reflexão seja pois o mesmo.
No entanto, isto parece inicialmente submeter o ser à dimensão estrita daquilo
que é ser-para-o-sujeito, e não ser em-si. Daí diagnósticos como este que
encontramos no prefácio da Fenomenologia:
Tomando a manifestação dessa exigência [do Absoluto] em seu contexto
mais geral e no nível em que presentemente se encontra o espírito
consciente-de-si [ou seja, trata-se de compreender o que o presente
coloca como exigência do espírito], vemos que esse foi além da vida
substancial que antes levava no elemento do pensamento; além desta
imediatez de sua fé, além da satisfação e segurança da certeza que a
consciência possuía devido à sua reconciliação com a essência e a
presença universal dela – interior e exterior. O espírito não só foi além –
passando ao outro extremo da reflexão, carente-de-substância, de si sobre
si mesmo – mas ultrapassou também isso. Não somente está perdida para
ele sua vida essencial; está também consciente dessa perda e da finitude
que é seu conteúdo. [Como o filho pródigo], rejeitando os restos da
comida, confessando sua abjeção e maldizendo-a, o espírito agora exige da
filosofia não tanto o saber do que ele é, quanto resgatar por meio dela,
aquela substancialidade e densidade do ser [que tinha perdido]”2.
Como vemos, Hegel compreende claramente a modernidade como um
momento de cisão. O espírito teria perdido a imediatez da sua vida substancial,
ou seja, nada lhe apareçeria mais como substancialmente fundamentado em um
poder capaz de unificar as várias esferas de valores sociais. Não haveria mais
recurso à autoridade da tradição ou à certeza da imediatez. Ao contrário, a
modernidade pode ser compreendida como este momento que está
necessariamente às voltas com o problema da sua auto-certificação. Isto
significa: ela não pode mais procurar em outras épocas os critérios para a
racionalização e para a produção do sentido de suas esferas de valores. Ela deve
criar e fundamentar suas normas a partir de si mesma. Isto significa que a
substancialidade que outrora enraizava os sujeitos em contextos sociais
aparentemente não-problemáticos está fundamentalmente perdida. Como dirá,
cem anos depois, Max Weber: “O destino de nossos tempos é caracterizado pela
racionalização e intelectualização e, acima de tudo, pelo desencantamento do
mundo. Precisamente, os valores últimos e mais sublimes retiraram-se da vida
pública, seja para o reino transcendental da vida mística, seja para a fraternidade
das relações humanas e pessoais”3. Ou seja, aquilo que fornecia o enraizamento
dos sujeitos através da fundamentação das práticas e critérios da vida social não
é mais substancialmente assegurado.
2
3
HEGEL, Fenomenologia I, p. 24
WEBER, Ciência como vocação in Ensaios de sociologia, p. 182
Em uma análise hoje clássica, Hegel indica três acontecimentos que foram
paulatinamente moldando a modernidade em suas exigências: a reforma
protestante [com sua confrontação direta entre o crente e Deus através da
subjetividade da fé], a revolução francesa [que colocava o problema do Estado
Justo enquanto aquele capaz de conciliar aspirações de universalidade da Lei e
exigências dos indivíduos] e o Iluminismo [que, segundo Hegel, terá em Kant sua
realização mais bem acabada]. Em todos estes acontecimentos, o que parece
impulsiona-los é o aparecimento do que poderíamos chamar de “subjetividade”.
É a gênese desta subjetividade que deverá ser objeto da filosofia e de seus
processos de fundamentação.
Hegel poderia, no entanto, apelar a uma saída transcendental que visaria
definir o sujeito como mera condição formal de toda experiência possível. Isto
daria ao sujeito a universalidade necessária para não sermos empurrado a um
psicologismo subjetivista. Mas a saída transcendental de moldes kantianos era
insatisfatória para Hegel e para os pós-kantianos. Pois, primeiramente, ela criaria
sua universalidade através da supressão de todo processo histórico de gênese e
metamorfose das categorias do pensamento. As categorias do pensamento
aparecem assim como entidades estáticas e, por isto, indiferente ao mundo tal
como seria em-si. No entanto, dirá Hegel:
Todas as revoluções, nas ciências não menos que na história mundial,
provêm (kommen) somente de que o Espírito agora, para entender e
perceber a si, para tomar posse de si, modificou (geändert hat) suas
categorias, apreendendo-se (sich erfassend) mais verdadeira e
profundamente, mais intimamente e com mais coesão (einiger)”4.
Ou seja, para Hegel, ao procurar apreender-se verdadeira e
profundamente, o Espírito produz necessariamente uma “modificação de
categorias”, um movimento no interior da própria significação destas
determinações universais do pensar. Tais modificações não são apenas
acompanhadas por aquilo que o século XX chamará de “mudança de paradigma
científico” e que Hegel descreve como “revolução” na ciência. Elas são
necessariamente acompanhadas por amplas mutações em nossas formas de vida
às quais Hegel alude ao falar de revoluções na história mundial. Por isto, sua
Ciência da lógica será, primeiramente, uma crítica a ideias como esta:
Pode-se reconhecer que a lógica, desde remotos tempos, seguiu a via
segura, pelo fato de desde Aristóteles, não ter dado um passo atrás, a não
ser que se leve à conta de aperfeiçoamento a abolição de algumas
sutilezas desnecessárias ou a determinação mais nítida de seu conteúdo.
Também é digno de nota que não tenha até hoje progredido, parecendo,
por conseguinte, acabada e perfeita, tanto quanto se nos pode afigurar (...)
Que a lógica tenha sido tão bem sucedida deve-se ao seu caráter limitado,
que a autoriza e mesmo a obriga a abstrair de todos os objetos do
conhecimento e suas diferenças, tendo nela o entendimento que se ocupar
apenas consigo próprio o com sua forma (...) Desde os tempos mais
4
HEGEL, Enciclopédia, par. 246
remotos que a história da razão pode alcançar no admirável povo grego, a
matemática entrou na via segura de uma ciência5.
Estas afirmações de Kant no segundo prefácio à Crítica da razão pura sintetizam
admiravelmente tudo contra o qual Hegel luta em sua filosofia. Não é por outra
razão que a primeira frase da Ciência da Lógica é exatamente uma lamentação:
A modificação completa que afetou o modo de pensar filosófico desde
mais ou menos vinte cinco anos entre nós, a perspectiva mais elevada que
a auto-consciência do Espírito alcançou a respeito de si mesmo neste
período de tempo teve, até agora, pouca influência na forma (Gestalt) da
lógica6.
A confrontação não poderia ser mais clara. Hegel vê como bloqueio
fundamental o fato da lógica “não ter até hoje progredido” e ter pago, como preço
desta estaticidade, a impossibilidade de tematizar a Coisa mesma (die Sache
selbst). Isto nos leva ao segundo problema com uma estratégia transcendental, a
saber, a universalidade de categorias estáticas nos obriga a constituir uma
espécie de “objetividade para nós” que, para Hegel, equivale a estar a um passo
de uma profissão de fé cética. Pois não há modificação de categorias porque as
coisas em-si e os processos concretos não afetam nossas formas de apreendê-los.
Nada que ocorre no tempo será capaz de modificar a forma pura do tempo. Nada
que ocorre no espaço será capaz de modificar as condições de uma estética
transcendental do espaço.
Contra isto, o jovem Hegel irá procurar submeter as estruturas do
conhecimento às dinâmicas de reconhecimento. Isto significará não só se
perguntar pelas condições sociais do conhecimento, ou seja, pela maneira com
que processos históricos coletivos determinam a forma do pensar. Isto
significará também se perguntar como a consciência emerge, quais são as
condições materiais de sua emergência e de suas modificações, como estas
condições determinarão as potencialidades práticas de suas ações em suas
expectativas de racionalidade.
Pois há de se entender que, quando Hegel fala em razão, ele não está a
pensar apenas na capacidade de se orientar no julgamento e de deliberar através
da procura pelo melhor argumento no interior de um processo marcado pelo ato
de dar e compreender razões. Processo este que pressupõe a existência de um
fundamento comum de avaliação de enunciados a partir de uma espécie de
gramática geral partilhada por todos os atores. Razão é, para Hegel, uma forma
de vida que se incarna em instituições e práticas sociais tendo em vista a
efetivação das condições de liberdade. Forma marcada pela reflexividade e pela
capacidade que tenho de me ver como agente das instituições e práticas que me
determinam, isto no sentido de ver minha vontade como atuante no interior das
determinações fundamentais da vida social. Esta razão, como fica claro, é
indissociável da capacidade humana de constituir relações capazes de garantir e
5
KANT, Crítica da razão pura, B VIII/B XI
HEGEL, Idem, p. 13. Lembrando, é claro, que a afirmação de Kant não é totalmente correta, já que:
‘a doutrina que ele vê como descoberta completa e perfeita de Aristóteles foi, de fato, uma confusa
versão peculiar da mistura tradicional entre elementos aristotélicos e estóicos” (KNEALE e KNEALE,
The development of logic, Oxford University Press)
6
reconhecer nossas demandas de liberdade. Ou seja, a razão não é só a
característica da estrutura cognitiva da consciência. Ela é sua força de
instauração de formas sociais.
Isto explica porque o jovem Hegel tentará uma saída ao princípio de
subjetividade constituinte em Kant fazendo apelo à recuperação de laços sociais
pretensamente marcados pelo reconhecimento mútuo e pela garantia de uma
ação social orientada para a emancipação, como seria o caso da polis grega e das
primeiras comunidades cristãs baseadas no amor. Este modelo, no entanto, será
paulatinamente abandonado por Hegel quando compreender que as sociedades
modernas de livre-mercado levaram a individualidade a um desenvolvimento tal,
assim como levaram processos de trabalho a um ponto tal de degradação, que
não seria mais possível apelar a modelos baseados em vínculos comunitários
substanciais.
Em seu lugar, o jovem Hegel construirá uma descrição fenomenológica de
etapas sociais de reconhecimento. Elas começam pelas exigências de satisfação
do desejo. Neste sentido, nos encontramos mais uma vez no ponto de partida de
Thomas Hobbes e de seu estado de natureza. No entanto, simplesmente não há
estado de natureza em Hegel. Comparemos, por exemplo, o movimento textual
do Leviatã e o movimento textual da Fenomenologia do Espírito. No primeiro
caso, temos um movimento sempre ascendente. Começa-se da descrição da
estrutura do desejo individual, expõe-se seus conflitos, evidencia-se seus
impasses e chega-se ao estado social. Em Hegel, temos uma espécie de dinâmica
de aprofundamento, no qual a consciência desvela a natureza mediada daquilo
que ela julgava imediato, desvela a natureza socialmente constituída daquilo que
lhe aparecia como natural. Por isto, perde o sentido em falar em algo como um
“estado de natureza”. Saí de cena as discussões sobre a natureza humana, mesmo
que a filosofia de Hegel procure compreender uma espécie de emergência do
social a partir da natureza, ou seja, a partir do movimento da vida, o que explica
porque a vida aparece como primeira figura do desejo no capítulo IV da
Fenomenologia do Espirito.
Mas tentemos dar o sentido do movimento geral desta dinâmica hegeliana
de aprofundamento. No caso de Hegel, e isto já está presente nos escritos de
juventude, o processo do desejo nos leva a uma dinâmica de conflitos que fará
emergir o trabalho em sua forma de trabalho alienado, trabalho feito no interior
de uma relação de submissão e de medo da morte. Daí porque a primeira figura
da consciência que trabalho é o servo. No entanto, pelas vias do trabalho as
relações de dependência levarão a uma modificação da consciência individual.
Ao trabalhar para um Outro, a consciência descobrirá habitada por uma
perspectiva que não é apenas sua, mas também de Outro. Daí o sentido de
afirmações surpreendentes como:
A submissão (Unterwerfung) do egoísmo do escravo forma o início da
verdadeira liberdade dos homens. A dissolução da singularidade da
vontade, o sentimento de nulidade do egoísmo, o hábito da obediência
(Gehorsams) é um momento necessário da formação de todo homem. Sem
ter a experiência deste cultivo (Zucht) que quebra a vontade própria
(Eigenwillen), ninguém advém livre, racional e apto a comandar. E para
advir livre, para adquirir a aptidão de se auto-governar, todos os povos
tiveram que passar pelo cultivo severo da submissão a um senhor7.
Esta heteronomia ganhará múltiplas figuras, mas será o início de uma
estrutura descentrada fundamental para o advento da noção de Espírito. A
consciência verá esta heteronomia, por exemplo, em chave teológica, como o
culto a um Deus cuja vontade ela não compreende e cuja língua ela não entende.
Figura esta tematizada através do que Hegel chama de “consciência infeliz”. Ou
seja, Hegel mostra como as dinâmicas do trabalho estão no fundamento das
forma de relação ao Outro que comporão as relações sociais em seu sentido mais
amplo.
Neste sentido, há de se lembrar como em seus escritos de juventude,
Hegel submete até mesmo o amor como estrutura de reconhecimento às
dinâmicas do trabalho. Por exemplo, no curso sobre a Filosofia do Espírito, ele
dirá que o amor é uma forma de: “supressão em si-mesmo dos dois [opostos];
cada um é igual ao outro justamente nisto que lhe é oposto; ou o outro, este que o
outro é para si, é ele mesmo. Exatamente porque cada um se sabe no outro, cada
um renunciou a si mesmo”8. No entanto, esta intuição de si no outro aparece
depois que o trabalho foi apresentado como um ato de se fazer outro, de tomar a
forma de um objeto. Isto a ponto de Hegel afirmar que o amor se realiza na
família, principalmente através da concepção da criança “produto do trabalho”
do amor.
No entanto, se Hegel oferece uma versão de uma filosofia da praxis
através desta centralidade do trabalho, seu conceito de trabalho não é
simplesmente fenomenológico. Os escritos de juventude mostram como ele lida
com uma compreensão historicamente precisa da emergência da sociedade do
trabalho. Por exemplo, no Sistema da eticidade, Hegel insiste que a circulação dos
objetos trabalhados pressupõe o valor como abstração capaz de viabilizar a
troca. Tais processos de abstração impedem toda forma efetiva de
reconhecimento. Ele compreende que o advento do trabalho cooperativo
inaugura um processo de “trabalho mecânico” no qual não é mais o gozo singular
que conta, mas a produção do excedente. Ou seja, em todas as situações nos
deparamos com formas de alienação vinculadas a configurações precisas dos
processos materiais de produção.
No entanto, é próprio de Hegel um movimento singular no qual a
alienação é superada pelo próprio processo que ela coloca em marcha. Há um
movimento dialético que tem como objeto a própria alienação. O que não poderia
ser diferente, já que para Hegel toda forma de exteriorização (Entausserung) é
uma forma de alienação (Entfremdung). Não há exteriorização que não sejam, em
seu primeiro momento, modalidade de alienação. Ou seja, de certa forma, tudo se
passa como se a alienação fosse necessária para que os processos de
reconhecimento pudessem ocorrer, tudo se passa como se elas fossem
paradoxalmente não apenas uma perda de si, mas uma formação de si. Pois a
experiência da alienação será também a experiência da inefetividade e da
irrealidade das relações imediatas e imanentes. Ela será a condição para a
emergência de uma consciência do caráter constitutivo das estruturas
relacionais, mesmo que tal consciência seja produzida à condição da consciência
7
8
HEGEL, G.W.F.; Enciclopédia, par. 435
HEGEL, G.W.F.; Filosofia do Espírito, p. 36
ter que continuamente perder a si mesma, até chegar o momento em que ela
perceba que perdeu o que, de certa forma, ela nunca teve.