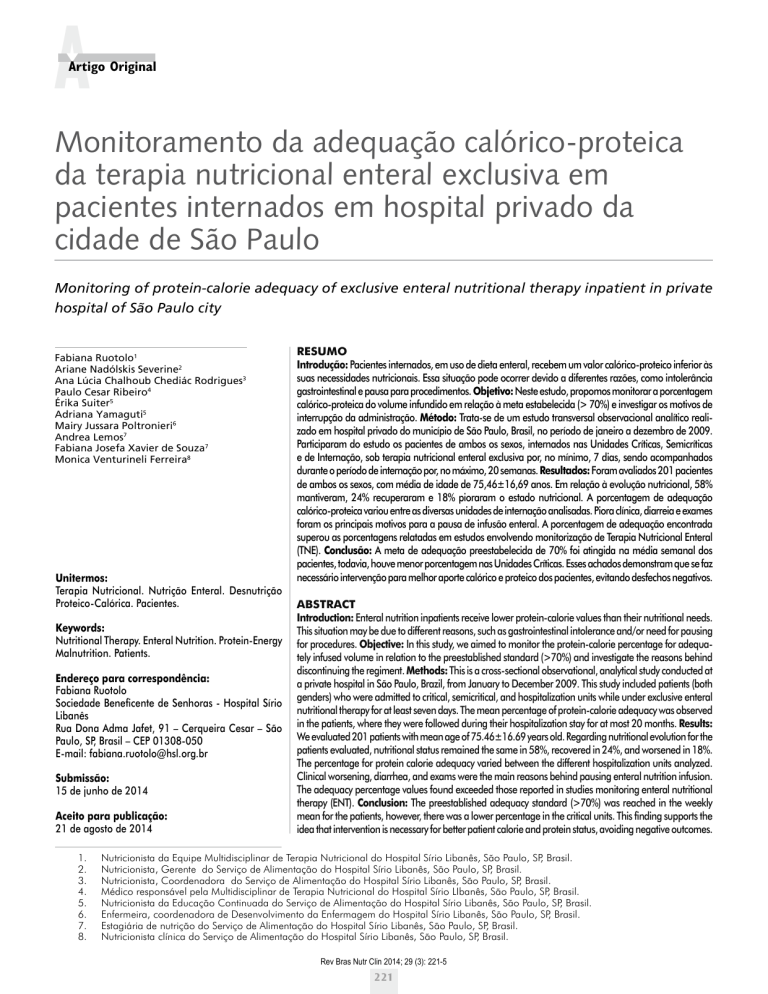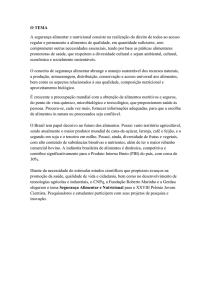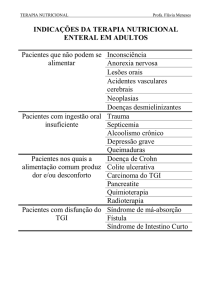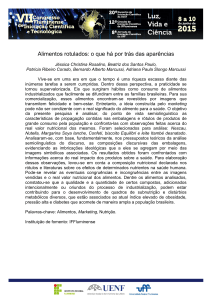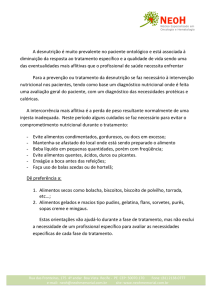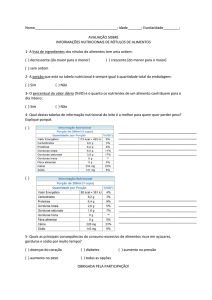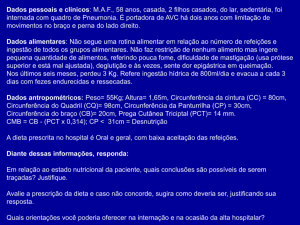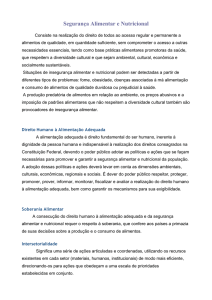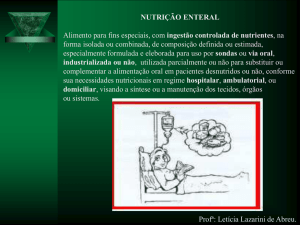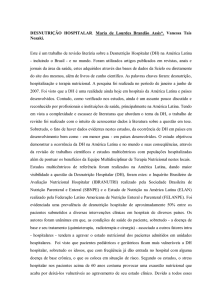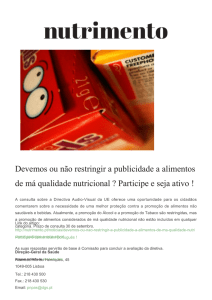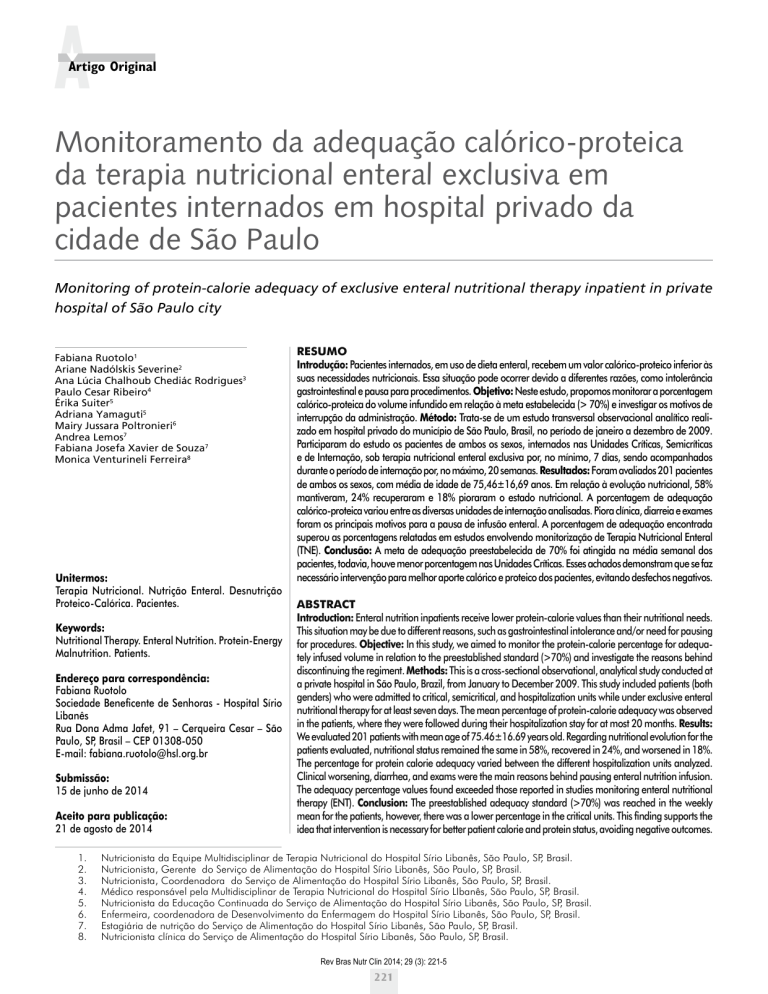
A
Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo
Artigo Original
Monitoramento da adequação calórico-proteica
da terapia nutricional enteral exclusiva em
pacientes internados em hospital privado da
cidade de São Paulo
Monitoring of protein-calorie adequacy of exclusive enteral nutritional therapy inpatient in private
hospital of São Paulo city
Fabiana Ruotolo1
Ariane Nadólskis Severine2
Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues3
Paulo Cesar Ribeiro4
Érika Suiter5
Adriana Yamaguti5
Mairy Jussara Poltronieri6
Andrea Lemos7
Fabiana Josefa Xavier de Souza7
Monica Venturineli Ferreira8
Unitermos:
Terapia Nutricional. Nutrição Enteral. Desnutrição
Proteico-Calórica. Pacientes.
Keywords:
Nutritional Therapy. Enteral Nutrition. Protein-Energy
Malnutrition. Patients.
Endereço para correspondência:
Fabiana Ruotolo
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libanês
Rua Dona Adma Jafet, 91 – Cerqueira Cesar – São
Paulo, SP, Brasil – CEP 01308-050
E-mail: [email protected]
Submissão:
15 de junho de 2014
Aceito para publicação:
21 de agosto de 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RESUMO
Introdução: Pacientes internados, em uso de dieta enteral, recebem um valor calórico-proteico inferior às
suas necessidades nutricionais. Essa situação pode ocorrer devido a diferentes razões, como intolerância
gastrointestinal e pausa para procedimentos. Objetivo: Neste estudo, propomos monitorar a porcentagem
calórico-proteica do volume infundido em relação à meta estabelecida (> 70%) e investigar os motivos de
interrupção da administração. Método: Trata-se de um estudo transversal observacional analítico realizado em hospital privado do município de São Paulo, Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2009.
Participaram do estudo os pacientes de ambos os sexos, internados nas Unidades Críticas, Semicríticas
e de Internação, sob terapia nutricional enteral exclusiva por, no mínimo, 7 dias, sendo acompanhados
durante o período de internação por, no máximo, 20 semanas. Resultados: Foram avaliados 201 pacientes
de ambos os sexos, com média de idade de 75,46±16,69 anos. Em relação à evolução nutricional, 58%
mantiveram, 24% recuperaram e 18% pioraram o estado nutricional. A porcentagem de adequação
calórico-proteica variou entre as diversas unidades de internação analisadas. Piora clínica, diarreia e exames
foram os principais motivos para a pausa de infusão enteral. A porcentagem de adequação encontrada
superou as porcentagens relatadas em estudos envolvendo monitorização de Terapia Nutricional Enteral
(TNE). Conclusão: A meta de adequação preestabelecida de 70% foi atingida na média semanal dos
pacientes, todavia, houve menor porcentagem nas Unidades Críticas. Esses achados demonstram que se faz
necessário intervenção para melhor aporte calórico e proteico dos pacientes, evitando desfechos negativos.
ABSTRACT
Introduction: Enteral nutrition inpatients receive lower protein-calorie values than their nutritional needs.
This situation may be due to different reasons, such as gastrointestinal intolerance and/or need for pausing
for procedures. Objective: In this study, we aimed to monitor the protein-calorie percentage for adequately infused volume in relation to the preestablished standard (>70%) and investigate the reasons behind
discontinuing the regiment. Methods: This is a cross-sectional observational, analytical study conducted at
a private hospital in São Paulo, Brazil, from January to December 2009. This study included patients (both
genders) who were admitted to critical, semicritical, and hospitalization units while under exclusive enteral
nutritional therapy for at least seven days. The mean percentage of protein-calorie adequacy was observed
in the patients, where they were followed during their hospitalization stay for at most 20 months. Results:
We evaluated 201 patients with mean age of 75.46±16.69 years old. Regarding nutritional evolution for the
patients evaluated, nutritional status remained the same in 58%, recovered in 24%, and worsened in 18%.
The percentage for protein calorie adequacy varied between the different hospitalization units analyzed.
Clinical worsening, diarrhea, and exams were the main reasons behind pausing enteral nutrition infusion.
The adequacy percentage values found exceeded those reported in studies monitoring enteral nutritional
therapy (ENT). Conclusion: The preestablished adequacy standard (>70%) was reached in the weekly
mean for the patients, however, there was a lower percentage in the critical units. This finding supports the
idea that intervention is necessary for better patient calorie and protein status, avoiding negative outcomes.
Nutricionista da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Nutricionista, Gerente do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Nutricionista, Coordenadora do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Médico responsável pela Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Sírio LIbanês, São Paulo, SP, Brasil.
Nutricionista da Educação Continuada do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Enfermeira, coordenadora de Desenvolvimento da Enfermagem do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Estagiária de nutrição do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Nutricionista clínica do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5
221
Ruotolo F et al.
INTRODUÇÃO
A resposta metabólica ao estresse, conhecida como
resposta de fase aguda, é uma das principais causas de
catabolismo e mobilização de proteínas, tendo como principal consequência o déficit nutricional, independentemente
da condição antecedente à internação. Outros fatores, como
idade avançada, condição socioeconômica, desnutrição
preexistente e imobilização no leito, podem agravar o estado
nutricional do paciente1.
Por essa razão, é fundamental identificar a desnutrição
no ambiente hospitalar, para evitar ou minimizar sua repercussão na evolução clínica dos doentes, como a associação
com maiores complicações, maior permanência hospitalar,
aumento da mortalidade, aumento dos custos para a instituição2 e diminuição da qualidade de vida dos pacientes3,4.
No Brasil, cerca de 15 a 20% dos pacientes internados são
desnutridos devido à doença de base, precárias condições
socioeconômicas e sistema de saúde pouco equipado. Por
outro lado, inadequados procedimentos e avaliações, além
das intervenções nutricionais inapropriadas, contribuem para
a piora do estado nutricional durante a hospitalização5.
Com a depleção do estado nutricional, há também um
agravamento na resposta imunológica e, dessa maneira,
ocorre piora no processo de cicatrização, funções de
órgãos vitais, infecções diversas, aparecimento de úlceras
por pressão, prejuízo na recuperação perioperatória e nos
aspectos emocionais6.
Em pacientes mais graves, em estado hipercatabólico,
como na sepse e Systemic Inflamatory Response Syndrome
(SIRS), o suporte nutricional torna-se essencial, sendo a via
enteral uma das mais importantes: menos onerosa, mais
fisiológica e segura que a via parenteral7, porém, a instabilidade hemodinâmica, a necessidade de uso de drogas
vasopressoras e a própria condição clínica do paciente,
que oscila muito nessas condições de gravidade, podem ser
fatores determinantes na tolerância à terapia nutricional8.
Por isso, frequentemente os pacientes internados recebem
um valor calórico e proteico muito inferior às suas necessidades biológicas. Dentre os fatores que colaboram para essa
irregularidade, estão: intolerância à dieta (vômitos, diarreia,
resíduo gástrico, distensão abdominal, etc.), os associados
às práticas de rotina de enfermagem (manipulação do
paciente, administração de medicamentos, etc.) e outras
rotinas (procedimentos, exames), ou seja, fatores previsíveis
e imprevisíveis, determinando aumento do déficit nutricional
e morbidade desses pacientes1,8.
Pesquisas demonstram que, ao redor do mundo, a
adequação calórico proteica nas UTIs gira em torno de 50%
a 60%, valores pouco aceitáveis para os padrões atuais de
necessidades calóricas e proteicas.
O sucesso depende da monitorização rotineira e da
interação entre todos os profissionais envolvidos5.
A American Society Parenteral and Enteral Nutrition
(ASPEN)9 indica o uso de protocolos para prover melhor
infusão da terapia nutricional enteral, a fim de atingir os
requerimentos de energia e nutrientes nos pacientes críticos5.
Dessa forma, identifica-se, portanto, a necessidade de
monitorização da porcentagem de adequação do volume
infundido, frente à meta estabelecida para infusão da dieta
(> 70%), nos pacientes internados nas diversas unidades de
um hospital da cidade de São Paulo, bem como identificar
os motivos de interrupção da administração da fórmula
enteral prescrita.
MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal observacional analítico
realizado em hospital privado do município de São Paulo,
no período de janeiro a dezembro de 2009.
Participaram do estudo os pacientes de ambos os
gêneros, internados nas Unidades Críticas, Semicríticas e de
Internação, sob terapia nutricional enteral exclusiva por, no
mínimo, 7 dias. Foram acompanhados durante o período
de internação, estendendo-se, no máximo, a 20 semanas.
Foram excluídos do estudo os pacientes menores de 18
anos, gestantes, pacientes que apresentaram piora clínica,
em cuidados paliativos ou os que recebiam simultaneamente
alimentação oral ou parenteral.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
processo nº 2009/16, sem necessidade de aplicação de
Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
Procedimento
Todos os dados demográficos e nutricionais foram coletados uma vez por semana do prontuário, no impresso de
Cuidados Nutricionais, sendo armazenados posteriormente
em planilha Excel. As necessidades nutricionais foram calculadas pelos nutricionistas clínicos e reavaliadas entre 7 e 10
dias.
As variáveis utilizadas foram: idade, gênero, unidade de
internação, diagnóstico nutricional, tempo de internação,
porcentagem de calorias recebidas em relação ao total prescrito, porcentagem de proteínas recebidas em relação ao total
prescrito, média semanal da porcentagem de adequação
calórico-proteica em relação às necessidades nutricionais
estimadas, porcentagem de pacientes que atingiram ≥70%
tanto em calorias quanto em proteínas ao longo do tempo
e evolução nutricional.
A definição dessas necessidades nutricionais foram calculadas pelo peso atual e, nos casos de edema, utilizado o
peso habitual referido. As recomendações nutricionais foram
Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5
222
Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo
baseadas nos Guidelines de ASPEN9 e European Society
Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)10, que estão inseridos
nas Recomendações Nutricionais do Serviço de Alimentação.
Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos 201 pacientes
avaliados.
Características demográficas (N= 201)
Para o diagnóstico nutricional, foram utilizados os parâmetros antropométricos: peso atual e estatura classificados
pelo IMC (Índice de Massa Corporal), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)11, para adultos e Organização Panamericana de Saúde (OPAS)12 para idosos, além
dos exames bioquímicos, exame físico e evolução clínica.
Nas reavaliações subsequentes, foram utilizados os mesmos
parâmetros da avaliação nutricional e os seguintes critérios
de avaliação de classificação: manutenção, recuperação ou
piora do estado nutricional.
Valor ou N (%)
Idade, anos
Intervalo
Média±DP
Mediana
18 a 102
75,46±16,69
80
Gênero (N=201)
Feminino
89 (44,3)
Masculino
112 (55,7)
Unidade de internação no HSL
As formulações das dietas enterais foram escolhidas de
acordo com a afecção de base, situação diagnóstica atual e
necessidades específicas de nutrientes. Em relação à forma
de administração, os pacientes receberam a dieta enteral de
forma cíclica em bomba de infusão, num período de 14 a 20
horas, dependendo da estabilidade clínica e intercorrências
gastrointestinais.
UCG
46 (22,9)
UTI
76 (37,8)
3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ou 11º andares
41 (20,4)
Semi-Intensiva
30 (14,9)
UCC
8 (4)
Diagnóstico nutricional
Análise estatística
Inicialmente, os dados foram tabulados em planilha Excel
e, posteriormente, analisados por meio do pacote MedCalc,
versão 11.3.3.0 (Mariakerke, Bélgica), utilizando-se tabelas
de frequência absoluta e relativa, juntamente com resultados
de medidas de tendência central (média e mediana), medidas
de dispersão (desvio padrão) e intervalo. Comparou-se as
variáveis categóricas pelo teste exato de Fisher ou pelo teste
do Qui-quadrado, conforme apropriado. O p<0,005 foi
considerado estatisticamente significante.
Eutrofia
85 (42,3)
Desnutrição
64 (31,8)
Edema
13 (6,4)
Obesidade
17 (8,5)
Sobrepeso
22 (11)
Tempo de internação, dias
Intervalo
Média±DP
Mediana
2 a 770
63,11±107,67
38
N= número; DP = Desvio Padrão; UGC = Unidade Crítica Geral; UCC= Unidade Crítica Cardiológica
RESULTADOS
Foram avaliados 201 pacientes de ambos os gêneros
durante período de internação, estendendo-se no máximo
em 20 semanas de acompanhamento. Nem todos os
pacientes completaram 20 semanas de nutrição enteral
exclusiva, por motivos de alta hospitalar, suspensão da
terapia nutricional ou óbito.
A média de idade foi de 75,46 ± 16,69.
A Tabela 1 mostra as principais características demográficas desses pacientes.
Em relação à evolução nutricional, 58% mantiveram,
24% recuperaram e 18% dos pacientes pioraram o estado
nutricional.
Pode-se verificar que, com o passar do tempo, houve
tendência para o aumento da porcentagem de pacientes com
ingestão calórica e proteica dentro da faixa de adequação.
A adequação da ingestão calórica e proteica pode ter
possível associação com as semanas avaliadas. A partir
da semana 8, o número de pacientes diminui de forma
representativa, devido a alta, início de alimentação via oral
e/ou parenteral e óbito - as demais semanas não foram
utilizadas para essa análise. Nesse caso, não foi verificada
associação estatisticamente significativa entre a porcentagem
de adequação da ingestão calórica e proteica e o tempo,
conforme a Tabela 2.
A variável idade foi categorizada de acordo com a
mediana e demonstrou associação estatisticamente significativa com a porcentagem de adequação da ingestão calórica
e protéica após uma semana de nutriçao enteral, conforme
Tabela 3. As demais variáveis mostradas nessa mesma tabela
não mostraram associação estatisticamente significativa.
Foram avaliados somente os pacientes que utilizaram
nutrição enteral nas semanas 4 e 8 (N=30), levando-se
em consideração que o número de pacientes após esse
período diminuía de forma considerável, impossibilitando
a análise estatística.
Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5
223
Ruotolo F et al.
adequação calórico-protéica foi de 76,5% e 81,2%, respectivamente. Na Unidade Crítica Cardiológica, Semi-Intensiva e
demais Unidades de Internação, a média de porcentagem de
adequação calórico-proteíca foi de 93,9 e 101,3%.
Tabela 2 – Ingestão calórica e protéica adequadas de acordo com a
semana.
Semanas
Adequada
Valor ou N (%)
Inadequada
Valor ou N (%)
1
109 (54,2)
92 (45,8)
2
96 (50)
96 (50)
3
79 (45,2)
96 (54,8)
4
72 (41,8)
100 (58,1)
5
65 (39,1)
101 (60,8)
6
50 (40)
75 (60)
7
29 (87,9)
4 (12,1)
8
27 (90)
3 (10)
p*
DISCUSSÃO
As paradas na infusão de dietas enterais são comuns na rotina
hospitalar e partem de diversos motivos, previsíveis ou imprevisíveis. Contudo, essa atitude, dependendo das consequências
que ela possa trazer, é motivo de grande preocupação e exige
intervenções precoces, para se evitar complicações.
0,613
A literatura refere que os maiores motivos de pausa constatados são desde jejum para procedimentos (exames, cirurgias,
repassagem de sondas) até intolerâncias, como náuseas,
vômitos e distensão abdominal13.
*Qui-quadrado para tendência.
Foi possível verificar que não existe associação estatisticamente significativa entre as variáveis de porcentagem
de ingestão calórica – mediana, Intervalo interquartil (IIQ),
na semana 4, de 83,15% (76 - 96,5%) e, na semana 8, de
87,35% (80,4 - 94,2%), (p=0,482). Em relação à ingestão
protéica, a mediana, Intervalo interquartil (IIQ), na semana
4, de 91,6% (71,6 - 100%) e, na semana 8, de 94,95%
(84,4 - 100,8%), (p=0,284), de acordo com as semanas
de nutrição enteral.
No presente estudo, o motivo da não oferta observada em
maior número na infusão de dieta enteral foi por piora clínica,
diarreia e realização de exames.
Ao analisar a porcentagem de adequação calóricoproteica de acordo com as Unidades de Internação, verificouse que a e média da porcentagem de adequação nas UTIs
foi inferior à média em geral, atingindo 70,8% das calorias e
75,4% das proteínas. Na Unidade Crítica Geral, a média de
Para manter e garantir o atendimento nutricional dos
pacientes, é necessária a utilização de protocolos de assistência.
A utilização de protocolos de nutrição enteral, levando-se em
consideração a situação clínica do paciente, pode possibilitar
que a infusão da TNE seja adequada para suprir as necessidades
As adequações encontradas neste estudo (>70%) estão
acima das relatadas em grande parte dos estudos sobre a
monitorização da TNE14 e essa monitorização de sinais clínicos
diretos e indiretos de tolerância, como avaliação de resíduo
gástrico, distensão abdominal e diarreia, pode ser utilizada para
a progressão ou não da oferta calórica8.
Tabela 3 – Fatores possivelmente associados à adequação calórico-proteica dos pacientes nas semanas 1, 4 e 8.
Semana 1
Fatores
Adequada
Inadequada
Valor ou N (%) Valor ou N (%)
Semana 4
p*
Adequada
Inadequada
Valor ou N (%) Valor ou N (%)
Semana 8
p*
Adequada
Inadequada
Valor ou N (%) Valor ou N (%)
p*
Idade
< 80 anos
41 (38,3)
55 (59,8)
≥ 80 anos
66 (61,7)
37 (40,2)
Feminino
47 (43,1)
42 (45,6)
Masculino
62 (56,9)
50 (54,4)
0,004
32 (45,1)
47 (47)
39 (54,9)
53 (53)
32 (44,4)
47 (47)
40 (55,6)
53 (53)
31 (43,1)
38 (38,8)
23 (31,9)
35 (35,7)
4 (5,5)
9 (9,2)
0,925
11 (40,7)
2 (66,7)
16 (59,3)
1 (33,3)
12 (44,4)
1 (33,3)
15 (55,6)
2 (66,7)
10 (37)
2 (66,7)
0,806
Sexo
0,828
0,860
0,806
Diagnóstico Nutricional
Eutrofia
49 (45,4)
34 (37,3)
Desnutrição
38 (35,2)
26 (28,6)
Edema
3 (2,8)
10 (11)
Obesidade
8 (7,4)
9 (9,9)
7 (9,7)
Sobrepeso
10 (9,2)
12 (13,2)
7 (9,7)
0,108
10 (37)
0
3 (11,1)
0
8 (8,1)
1 (3,7)
1 (33,3)
8 (8,1)
3 (11,1)
0
*Qui-quadrado.
Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5
224
0,861
0,205
Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo
energético proteicas dos pacientes. Por meio da conscientização
da importância na recuperação e manutenção do estado
nutricional, redução das taxas de mortalidade, diminuição do
risco de infecções e melhora da resposta imunológica, é mister
estudar as formas como esse protocolo pode ser otimizado15.
Em um estudo realizado com 886 pacientes críticos sob
ventilação mecânica, verificou-se que a nutrição ótima definida
por metas de energia e proteína esteve associada à queda de
cerca de 50% na mortalidade em 28 dias, enquanto a ingestão
satisfatória apenas de calorias não se associou à redução de
mortalidade16.
CONCLUSÃO
Pelos resultados obtidos, observou-se que a meta de 70% de
infusão calórico-proteica foi atingida considerando-se o valor da
média semanal dos pacientes, mas se ressalta a necessidade de
intervenções imediatas, tendo em vista a suma importância do
recebimento adequado de calorias, proteínas e, consequentemente, micronutrientes, evitando, dessa maneira, uma possível
piora no quadro nutricional e clínico do paciente, com consequente aumento no período de internação e custo do tratamento.
No presente estudo, notou-se que a meta nutricional foi
menor, especialmente nas UTIs e Unidades Crítica Geral, em
comparação às outras unidades de Internação, o que reforça
a importância de um monitoramento maior para minimizar
desfechos negativos.
A utilização do protocolo de assistência em Terapia Nutricional Enteral é primordial, já que otimiza a terapia nutricional
e melhora a saúde do paciente, com significativa redução no
tempo de tratamento de doenças e diminuição de custos, pela
aproximação da prescrição dietética às necessidades calóricoproteicas, melhorando, com isto, o aporte de calorias e proteínas
recebidas pelos pacientes.
Como ação de melhoria, foi revisada a meta do indicador
para 80% das necessidades calórico-proteicas (ILSI, 2010)17 que
atualmente vigora no serviço, o que demonstra maior preocupação em relação à oferta nutricional como fator adjuvante ao
tratamento clínico. Além disso, realizou-se um acompanhamento
mais criterioso, por meio de treinamento e orientações in loco.
Ressalta-se a importância de toda equipe de assistência envolvida com o cuidado ao paciente e da Equipe Multidisciplinar de
Terapia Nutricional (EMTN), a qual assegura a viabilização e o
seguimento do protocolo, com consequentes benefícios.
REFERÊNCIAS
1.Teixeira ACC, Caruso L, Soriano FG. Terapia nutricional enteral
em unidade de terapia intensiva: infusão versus necessidades. Rev
Bras Ter Intensiva. 2006;18(4):331-7.
2.Waitzberg DL, Ravacci GR, Raslan M. Desnutrición hospitalaria.
Nutr Hosp. 2011;26(2):254-64.
3.National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition Health and Physical Activity. Obesity at
a Glance: Halting the Epidemic by Making Health Easier. Atlanta,
GA: Centers for Disease Control; 2011 [Accessed Jan 4, 2012].
Available at: http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/ publications/aag/obesity.htm
4.National Alliance for Infusion Therapy and the American Society
for Parenteral and Enteral Nutrition Public Policy Committee and
Board of Directors. Disease-related malnutrition and enteral nutrition therapy: a significant problem with a cost-effective solution.
Nutr Clin Pract. 2010;25(5):548-54.
5.Araújo-Junqueira L, De-Souza DA. Enteral nutrition therapy for
critically ill adult patients; critical review and algorithm creation.
Nutr Hosp. 2012;27(4):999-1008.
6.Klek S, Sierzega M, Szybinski P, Szczepanek K, Scislo L, Walewska
E, et al. Perioperative nutrition in malnourished surgical cancer
patients - a prospective, randomized, controlled clinical trial. Clin
Nutr. 2011;30(6):708-13.
7.Siqueira-Batista R, Gomes AP, Velasco CMMO, Araújo JNV, Vitorino RR, Roque-Rinco UG, et al. Nutrição na sepse. Rev Bras Clin
Med. 2012;10(5):420-6.
8.Petros S, Engelmann L. Enteral nutrition delivery and energy
expenditure in medical intensive care patients. Clin Nutr.
2006;25(1):51-9.
9.McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P,
Taylor B, et al.; A.S.P.E.N. Board of Directors; American College
of Critical Care Medicine; Society of Critical Care Medicine.
Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support
Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical
Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral
and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr.
2009;33(3):277-316.
10.Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P,
Kazandjiev G, et al.; DGEM (German Society for Nutritional Medicine), Ebner C, Hartl W, Heymann C, Spies C; ESPEN (European
Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines
on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25(2):210-23.
11.World Health Organization. Obesity: preventing and managing
the global epidemic. Report of the WHO Consultation on Obesity.
Geneva: World Health Organization; 1998.
12.Organização Pan-americana de saúde - OPAS. O Projeto SABE no
Município de São Paulo: uma abordagem inicial [Acesso 20 Out
2011]. Disponível em: http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/l_
saber.pdf
13.Fujino V, Nogueira LABNS. Terapia nutricional enteral em pacientes
graves: revisão de literatura. Arq Ciênc Saúde. 2007;14(4):220-6.
14.Aranjues AL, Teixeira ACC, Soriano FG, Caruso L. Monitoração da
terapia nutricional enteral em UTI: indicador de qualidade? Mundo
Saúde. 2008;32(1):16-23.
15.Campos DJ, Silva AFF, Souza MH, Shieferdecker ME. Otimização
do fornecimento calórico-protéico na terapia de nutrição enteral em
unidade de terapia intensiva com o uso de protocolo. Rev Bras Nutr
Clin. 2006;21(1):2-5.
16.Weijs PJ, Stapel SN, de Groot SD, Driessen RH, de Jong E,
Girbes AR, et al. Optimal protein and energy nutrition decreases
mortality in mechanically ventilated, critically ill patients: a prospective observational cohort study. JPEN J Parenter Enteral Nutr.
2012;36(1):60-8.
17.Força-Tarefa Nutrição Clínica ILSI Brasil. Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional: Aplicação e Resultados; 2010 [Acesso
13 ago 2012]. Disponível em: www.ilsi.org/brasil/documents/
relatorio_nutricao_2010.pdf
Local de realização do trabalho: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.
Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5
225