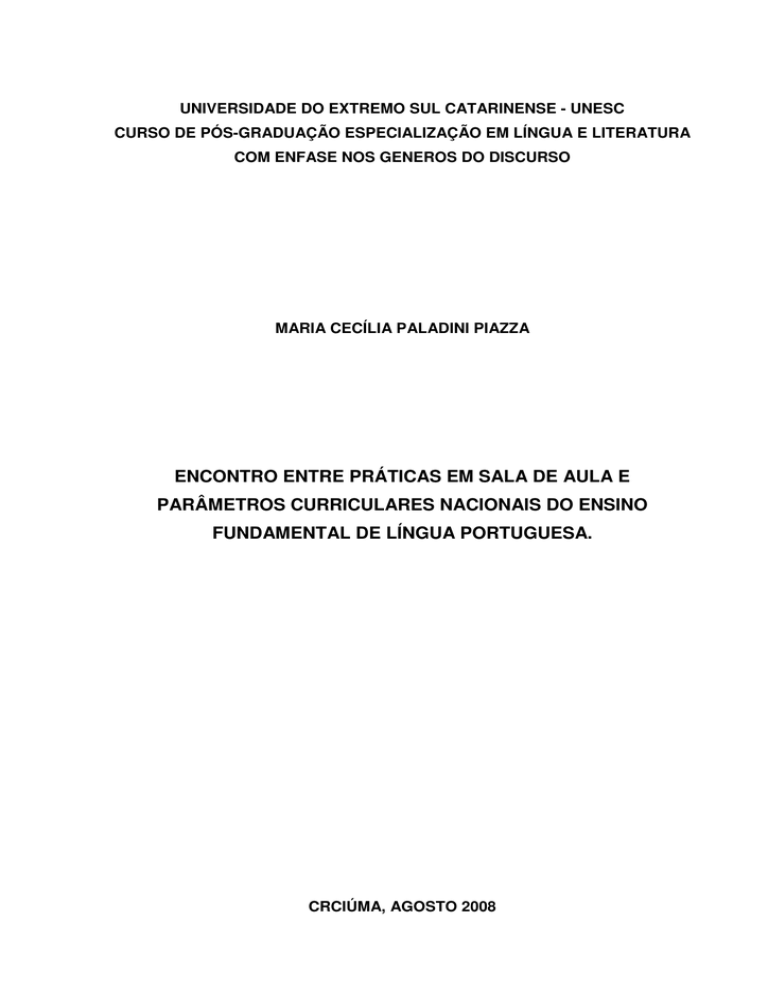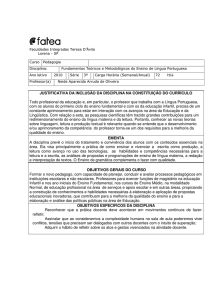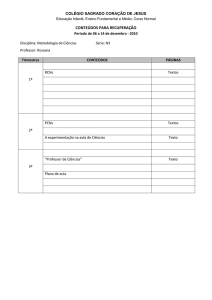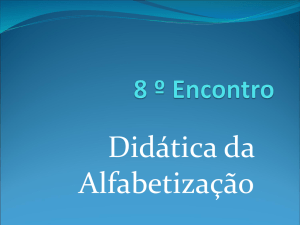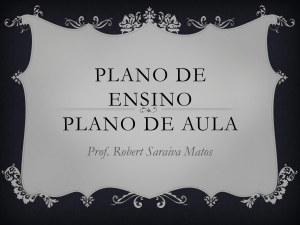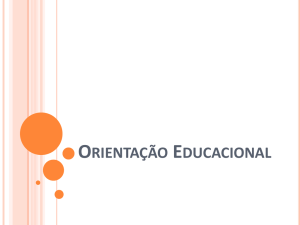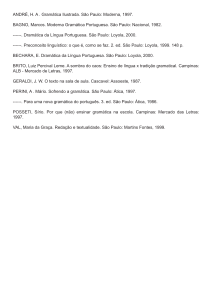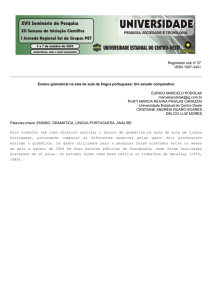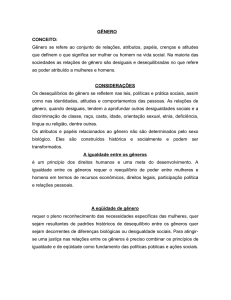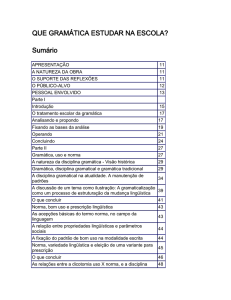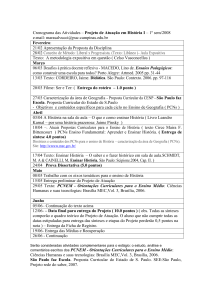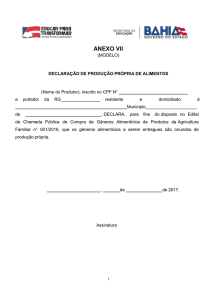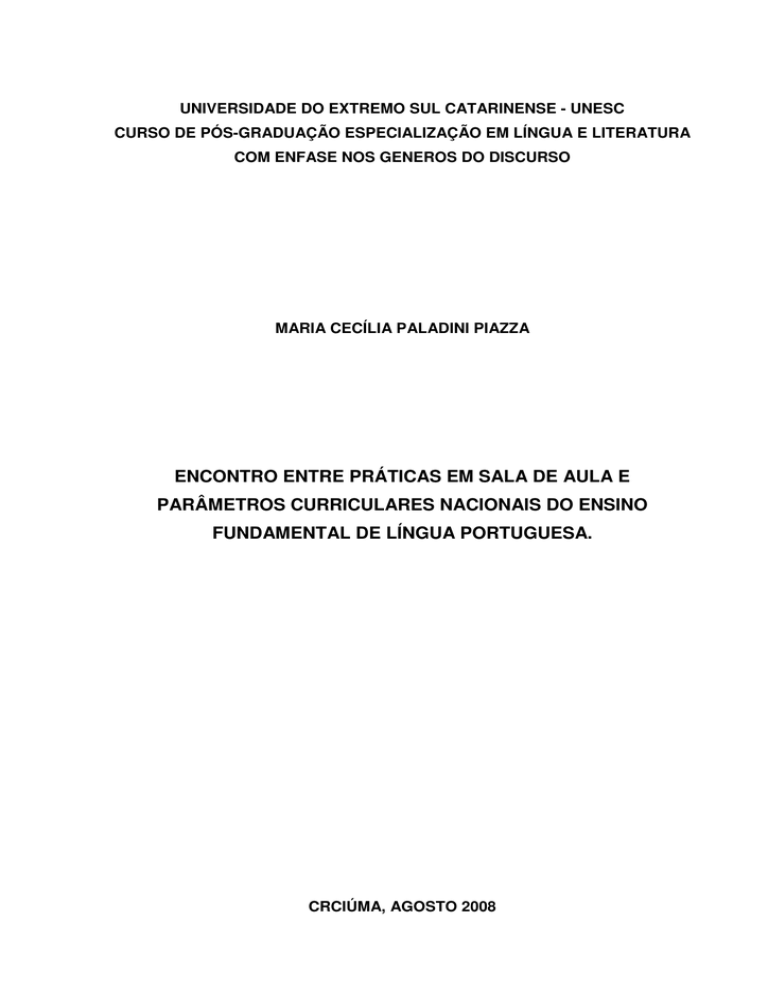
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA E LITERATURA
COM ENFASE NOS GENEROS DO DISCURSO
MARIA CECÍLIA PALADINI PIAZZA
ENCONTRO ENTRE PRÁTICAS EM SALA DE AULA E
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE LÍNGUA PORTUGUESA.
CRCIÚMA, AGOSTO 2008
2
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA E LITERATURA
COM ENFASE NOS GENEROS DO DISCURSO
MARIA CECÍLIA PALADINI PIAZZA
ENCONTRO ENTRE PRÁTICAS EM SALA DE AULA E
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE LÍNGUA PORTUGUESA.
Monografia apresentada à Diretoria de Pósgraduação da Universidade do Extremo Sul
Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de
especialista em Língua e Literatura com ênfase nos
Gêneros do Discurso
Orientador: Prof.( MSc). Carlos Schilikman
CRICIÚMA, AGOSTO 2009
3
DEDICATÓRIA
Aos meus pais.
Através deles pude concretizar muitos dos meus
sonhos, principalmente este.
4
AGRADECIMENTOS
À Deus,
pela coragem regida por sabedoria;
pela força concretizada pela vontade;
pela humildade vangloriada pelo conhecimento.
Aos familiares, namorado e amigos,
pelas horas em que a ausência se fez buscarem-se.
Aos colegas e mestres,
que não me deixaram sair da luta, provocando um expressivo elo de amizade.
Às minhas amigas Juliana e Giane,
que
se
revelaram
verdadeiras
irmãs
na
maior
parte
destes
momentos,
apresentando-me sempre armas diferentes de combate.
Ao professor Carlos Schilikman,
por ser muito importante à execução deste trabalho e dedicar seu tempo e esforço à
finalização dele.
Aos diversos companheiros,
que contribuíram para o começo, durante e conclusão deste trabalho.
5
“A doutrina nasce para ficar, a teoria nasce
para morrer. O autor de uma teoria sabe que
o que está produzindo tem data, tem um
prazo para viver e morrer, ou, do contrário
pretende tornar-se doutrinário. A doutrina é
imposta, por isso permanece. As teorias
morrem,
porque
são
informadas
pelo
movimento histórico, mas enquanto vivem
são válidas, eficazes, porque verdadeiras.”
(Milton Santos, 2000, p.48)
6
RESUMO
O presente estudo, com base na leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, teve como objetivo propor uma reflexão
sobre o ensino de língua para buscar alternativas mais condizentes com as
demandas sociais de usos da linguagem de acordo com os direcionamentos dos
PCNs(2000) de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental.Nesse sentido, a análise
esteve embasada nas teorias propostas pelos autores presentes neste documento
oficial. Dentre eles: Bakhtin (1992), Koch(1993), Faraco (2003), Geraldi (2002),
Possenti (2002), Travaglia (2001), (1993), Marcuschi (2003) ), Rojo (2004). Este
estudo, embora se restringindo apenas a constatações teóricas, permitiu uma nova
compreensão no que diz respeito às idéias dos autores citados. Suas perspectivas
de ensino de língua estão intimamente relacionadas e têm como vértice a linguagem
enquanto agente construtor de conhecimento e, portanto, transformador da atividade
humana no mundo. A conclusão do presente estudo, a partir do que é preconizado
pelos PCNs, demonstrou que o trabalho pedagógico com gêneros textuais pode ser
o caminho para um ensino e aprendizagem efetuados de forma eficaz, contribuindo
de maneira significativa para que os estudantes sejam mais competentes não só em
suas atividades escolares mas, principalmente, em suas práticas sociais.
7
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................8
1-Como tudo começou: A história da disciplina de língua portuguesa .............11
2.1 A formação do professor de língua portuguesa.............................................16
2.2 O ensino de língua na escola: do ineficaz ao eficaz ......................................18
3. COMO E POR QUE SURGIRAM OS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS (PCNS)?...............................................................................................22
3.1 O que dizem os PCNs de língua portuguesa do ensino Fundamental .........23
3.1 A noção de Gênero do Discurso......................................................................27
3.2 A diferença entre tipos e gêneros textuais .....................................................29
CONCLUSÃO ...........................................................................................................38
APÊNDICE................................................................................................................43
8
1 INTRODUÇÃO
O ensino da Língua Portuguesa sempre preocupou os professores e os
estudiosos da educação. Essas reflexões foram ampliadas, especialmente a partir
da década de 80, por uma série de pesquisas nas áreas da psicologia e da
lingüística e contribuíram para o surgimento de propostas pedagógicas que buscam
instalar, na sala de aula, a reflexão e a construção do conhecimento em lugar da
repetição e memorização de uma metalinguagem desnecessária. Nessa última
concepção mencionada acima, saber gramática corresponde a conhecer as normas
estabelecidas por especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos bons
escritores, para o bem falar e escrever, dominando-as de forma superficial e restrita.
Sob essa ótica afirma-se que:
A língua é só a variedade dita padrão ou culta e que todas as outras
formas de uso são desvios, erros, deformações, degenerações. (TRAVAGLIA, 2001,
p.26).
As línguas evoluem, apesar da oposição, dos esforços e da
cara fechada dos gramáticos. Não se trata de um ‘perigo’, mas
de um processo tão natural quanto o crescimento das crianças,
a rotação da Terra, o ciclo de vida e morte dos seres vivos.
Perigo se há, está nesse complexo de inferioridade lingüística
que nos transmitem os autonomeados conhecedores e
protetores da língua [...] existe perigo é quando nos dizem que
a língua usada pelos cento e muitos milhões de brasileiros não
merece respeito, e que apenas os especialistas é que detêm o
poder de ‘falar certo’ (PERINI, 2004, p. 24).
Segundo Parâmetros Curriculares Nacionais (2000)1, ainda são normais
práticas pedagógicas em que os professores transmitem somente concepções de
linguagem como expressão do pensamento ou como instrumento de comunicação,
por meio de situações dissociadas e descontextualizada com a realidade
comunicativa do aluno. Contudo, o que deveria ocorrer, de acordo com os
1
Trata-se de um documento com referência para o Ensino Fundamental; pode ser utilizado como recurso para
adaptações ou elaborações curriculares pelos Estados ou Municípios; pode ser utilizado como base para
elaboração do projeto educativo de cada instituição escolar e auxilia na programação das atividades de ensino e
aprendizagem na sala de aula. Ao longo da monografia será utilizada a sigla PCNs para se referir a este
documento. Adiante, abordar-se-á este assunto com mais detalhes num único capítulo.
9
PCNs(2000): os alunos serem capazes de produzir, e interpretar textos de diversos
gêneros do discurso conforme suas necessidades. Ainda no que se refere à língua
portuguesa, eles dizem que não basta saber falar e escrever, é preciso saber
usufruir da linguagem. Também direcionam para o uso da língua: leitura, escuta de
textos e produção de textos orais e escritos e reflexão da língua: análise lingüística.
No
entanto,
conforme
Geraldi(2002),
ensina-se,
irrelevantemente,
teoria,
classificação e nomenclaturas que simplesmente são inúteis para o aluno
compreender o funcionamento da variada e heterogênea Língua Portuguesa e
ampliar sua competência comunicativa para falar, ouvir, ler e escrever textos
fluentes, adequados e socialmente relevantes.
Por esta incoerência entre práticas pedagógicas e os PCNs(2000), o grau
de dificuldade identificado nos estudantes brasileiros pelos sistemas nacionais de
avaliação ENEM e SAEB para ler os textos dos mais diferentes gêneros e produzilos gera uma defasagem no ensino de língua portuguesa. É lastimável ler e ouvir
tanta teoria de como se deve aprender uma língua e evidenciar que tanto os livros
didáticos quanto professores da Língua Portuguesa não enfatizam e nem estimulam
um ensino condizente e significativo ao aluno. Com base nisso, constata-se que: “A
maioria dos professores prescreve normas ou descrevem o sistema da língua como
se essa fosse um produto acabado, do qual, o aluno se apropria para se comunicar,
quando na verdade ele sofre as ações da linguagem e também age sobre a língua
ignorando dessa forma e depreciando outras variedades da língua com base em
fatores não estritamente lingüísticos, esse culto à norma do CERTO E ERRADO”
(GERALDI,2002, p. 34). De acordo com Travaglia (2001), o tipo de prática
pedagógica citada acima cria diversos preconceitos, por se basear em modelos,
muitas vezes, enganosos, como: purismo e vernaculidade, classe social de prestígio
(de natureza econômica, política, cultural), autoridade (gramáticos, bons escritores),
lógica e histórica (tradição).
Diante dessas ponderações, deve-se convir que as escolas não estão
cumprindo seu papel de desenvolver habilidades de leitura e produção textual. Além
disso, há um desencontro entre práticas em sala de aula versus Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). Um dos motivos desta incoerência é o fato de que a
10
maioria dos professores não tiveram em seus currículos de graduação em Letras a
teoria da enunciação Bakhtiniana adotada pelos norteamentos dos PCNs (2000).
Dessa forma, um dos questionamentos que norteará esta pesquisa é: De
que forma adequar práticas em sala de aula conforme os direcionamentos dos
PCNs(2000)? Sendo que, de acordo com os PCNs (2000), na disciplina de Língua
Portuguesa, o objetivo da escola deve ser o de formar escritores competentes,
habilitados a produzir textos coerentes, organizados e claros. Então o grande
desafio dos professores do Ensino Fundamental é ensinar a ler, a escrever e a se
expressar de maneira competente.
Dada a razão e a necessidade deste projeto, ele visará a contribuir para a
busca de um ensino de língua portuguesa mais condizente com as demandas
sociais de usos da linguagem de acordo com os direcionamentos dos PCNs(2000)
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Será uma tentativa de através da
revisão bibliográfica e discussões sobre o ensino da língua portuguesa, posicionarse diante do conhecimento, aplicar o conhecimento. O suporte e a metodologia
adotada para está análise será a apresentação da linha de pensamento de
pesquisadores presentes nas referências bibliográficas dos PCNs(2000) e que, além
de serem os mais citados neles, destacam-se nos estudos da língua materna, dentre
eles Faraco (2003), Geraldi (2002), Possenti (2002), Travaglia (2001), entre outors.
Também, nesta pesquisa, devido à queixa da maioria dos professores
sobre a dificuldade em compreender os PCNs(2000), pretende-se encontrar nos
direcionamentos dos parâmetros referentes à Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental, além de um processo de reflexão, um lugar concreto para práticas nas
aulas desta disciplina.
Em relação à distribuição dos capítulos o primeiro abordará uma
perspectiva histórica da disciplina de língua portuguesa para compreender como
tudo começou. O segundo discorrerá sobre o que dizem os PCNs (2000) de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental, incluindo outros capítulos que darão a noção
de Gênero e explicarão por que esse é o objeto de estudo da Língua Portuguesa.
Num outro momento, são feitas abordagens a partir dos PCN e de autores que
teorizam a importância de se trabalhar com gêneros textuais, sugerindo propostas
para um trabalho escolar. Tudo isso utilizando a metodologia de revisão
bibliográfica.
11
1-Como tudo começou: A história da disciplina de língua portuguesa
Para Soares (2002), para entender o porquê gerou o preconceito em torno
do ensino de Gramática2 e compreender e explicar o “estatuto atual da disciplina”
(Soares,2002, p. 74.). É primordial entender um pouco da história desta disciplina
curricular. Desde a criação da gramática pela cultura greco-romana, até a gramática
das línguas modernas, seu estudo e aplicação são fundamentados por fatores
políticos, sociais, econômicos e religiosos. Em cada período da história, um
determinado modelo de gramática é adotado, conforme o objetivo dos que dominam
culturalmente o povo. Assim, a elite torna a língua subordinada aos padrões sociais
de correção e a faz homogênea sobre a melhor e “correta” forma de falar e escrever.
No Brasil, ainda segundo essa autora, consolida-se o modelo medieval de
ensino de língua, instaurado no país no século XVI com as práticas pedagógicas dos
jesuítas.
Esse modelo é herança latina do famoso gramático Prisciano, o qual faz
uma síntese em sua obra da tradição greco-romana. Essa fusão perdurou-se
durante um bom tempo na instituição escolar como disciplina curricular Gramática.
[...] três línguas conviviam no Brasil Colonial, e a língua portuguesa não era
a prevalente: ao lado do português trazido pelo colonizador, codificou-se
uma língua geral, que recobria as línguas indígenas faladas no território
brasileiro [...]; o latim era a terceira língua. pois nele se fundava lodo o
ensino secundário e superior dos jesuítas. No convívio social cotidiano, por
imposição das necessidades pragmáticas de comunicação |...| e para a
evangelização, a catequese, prevalecia a língua geral, sistematizada pelos
jesuítas. (SOARES, 2002, p. 157).
Baseado no estudo da leitura e escrita, ensinava-se Gramática, retórica- o
bem falar e escrever- e poética. Por volta do ano de 1750, Marquês de Pombal
baixou um decreto exigindo que todas as colônias de Portugal começassem a
ensinar português. Não existiam, entretanto, professores de português, então foram
os advogados, principalmente, que vieram a desempenhar a função de ensinar a
2
O termo Gramática (com letra maiúscula) refere-se ao estudo da teoria gramatical, à disciplina de Gramática, à
gramática normativa. Quando grafado com letra minúscula (gramática) a referência é ao sistema de princípios e
regras formais de construção e interpretação das expressões da língua, que foram interiorizadas pelos falantes e
por meio das quais constroem os seus enunciados, bem como também ao livro de gramática.
12
Língua Portuguesa. Ensinaram da mesma forma que se ensinava Latim: teoria
gramatical, ortografia e norma incluindo também a Gramática do Latim.
Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que
conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio
idioma, por ser indispensável, que este é um meio dos mais eficazes para desterrar
dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a
experiência que, ao mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do Príncipe,
que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao
mesmo Príncipe. |...| nesta conquista se praticou pelo contrário, que só cuidavam os
primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua, que chamamos geral,
invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que privados os índios de
todos aqueles meios que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara
sujeição, em que até agora se conservam, determina que um dos principais
cuidados dos Diretores era estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da
língua portuguesa, não consentindo por modo algum que os Meninos e Meninas,
que pertencerem às escolas, e todos aqueles Índios, que forem capazes de
instrução nesta matéria, usem da língua própria das suas nações ou da chamada
geral, mas unicamente da Portuguesa, na forma que S.M. tem recomendado com
repelidas ordens, que até agora não se observaram, com total ruína espiritual c
temporal do Estado. (Diretório de 3 de maio de 1757, citado em CUNHA, 1985, p.
79-80, apud BAGNO, 2002, p. 159-160).
Só em 1950 o latim perde ainda mais sua força, mas durante duzentos
anos ensinou-se o português tendo como objeto de ensino: ortografia, teoria
gramatical e norma.
Durante este período de 1950, o ensino era eficaz, pois só quem tinha
acesso às escolas eram os filhos das pessoas que pertenciam à elite. E para eles
saber retórica: falar bem era o suficiente.
Por volta de 1950 os menos favorecidos financeiramente também
começam a estudar, porém era muita gente para poucos professores. Aí qualquer
profissional, por exemplo, um advogado dava aula, os governantes distribuíram
livros didáticos para os professores já terem suas aulas prontas e começou-se a
pagar os “docentes” mal.
13
Está constatação encontra-se na obra de Britto(1998):
O aumento da oferta de vagas criou a necessidade de recrutamento mais
amplo e menos seletivo de professores, promoveu rebaixamento salarial,
condições de trabalho precárias e formação profissional deficiente, fatores
que, por sua vez, reduziram a autonomia intelectual dos professores,
obrigando-os a buscar formas de facilitação e de suporte de sua atividade
docente. (BRITTO, 1998, p. 253).
Em meados de 1960 entra a lingüística nas faculdades. Um dos
questionamentos que se fazia era do por que os alunos não conseguirem escrever
bem. Então, como se evidencia em Britto(2002), percebeu-se a ineficácia em ensinar
teoria gramatical com decorebas de nomenclaturas inúteis para o propósito de saber
ler e escrever devidamente. Além disso, evidenciou-se que os alunos não tinham
facilidade de interpretar os diversos gêneros do discurso que circulavam na
sociedade: bula de remédio, placas, livros entre outros.
Do ponto de vista específico da área de Língua Portuguesa, verificou-se, a
partir dos anos 70,uma grifa generalizada, inclusive dos setores conservadores, em
decorrência da dificuldade cada vez maior dos alunos egressos do segundo grau de
ler e escrever de forma correia, clara e bem articulada. Entretanto, até esse
momento, nem haviam se fixado no Brasil os estudos lingüísticos independente da
tradição normativa e filológica, nem se considerara um corpo coeso de reflexão
sobre a finalidade e os conteúdos mesmos do ensino de português. (BRITTO, 2002,
p. 100-101).
A escola estava trabalhando muito em cima da ortografia, norma e teoria
gramatical. Nas redações escolares os professores só corrigiam erros de ortografia.
Deu-se conta de que para o aluno escrever bem a teoria gramatical era
desnecessária, por exemplo, classificar o verbo em transitivo direto ou transitivo
indireto, nem para aprender a ler nem escrever está nomenclatura tinha serventia. A
norma e a ortografia são coerentes aprendê-las para saber ler e escrever, mas a
ênfase que davam à teoria gramatical estava atrapalhando um ensino de língua
portuguesa condizente e útil ao aluno.
14
A prática de produção de texto, por sua vez, se relaciona com a
apresentação da norma, com destaque para a correção dos erros limitados
de ortografia, concordância e regência. Efetivamente, ensina-se redação
apenas para fixar a norma, ainda que nem sempre se assuma
explicitamente esta perspectiva. (BRITTO, 2002, p. 108).
Atualmente a grande angústia e desafio para os professores é o tempo
que demorou a perceberem este deslize. Este erro estendeu-se durante duzentos
anos e só faz vinte e oito anos que se deu conta da necessidade em mudar o ensino
de língua portuguesa. Muitos professores ainda não estão cientes que o ensino de
teoria gramatical pode ser descartado.
Ensino de gramática, não deve permanecer na base da regra pela regra,
explicada e exercitada com palavras e frases soltas. Não adianta também
utilizar textos apenas como pretextos, ou seja, apenas retirando deles
palavras ou frases e continuando com um ensino meramente normativo e
classificatório. (Soares, 1998, p. 64)
Deste descontentamento, em 1980, surgem duas propostas de ensino: o
grupo Um, tendo como componente o escritor Perini e o grupo Dois, composto pelos
ilustres professores Geraldi3 e Possenti.
Para Britto (2002) o grupo um não agradou muito, pois propôs abandonar
a metalinguagem e trabalhar com Gramática Descritiva4 ou apontar os defeitos da
Gramática Tradicional5.
Neste tipo de trabalho, a preocupação central é tornar conhecidas, de
forma explicita as regras de fato utilizadas pelos falantes-daí a expressão regras que
são seguidas. [...] Pode haver diferença entre as regras que devem ser seguidas, em
3
As propostas de Geraldi começaram a ser discutidas e publicadas a partir da década de 80. Para efeito dessa
pesquisa, duas obras do autor foram consultadas: O texto na sala de aula (2000), em sua 3ª edição, e Portos de
Passagem (2002), 4ª edição.
4
Gramática descritiva é aquela que, de acordo com Perini (2001) descreve e registra as unidades e categorias
lingüísticas existentes, os tipos de construção possíveis e a função desses elementos, o modo e as condições de
seu uso, trabalhando com qualquer variedade da língua. Tudo isso, em um dado momento de sua existência
(abordagem sincrônica).
5
Gramática Tradicional é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão e valoriza apenas uma
variedade lingüística . Tudo o que está em desacordo com esse padrão é “errado” ou não-gramatical e o que está
de acordo é “certo” ou gramatical.
15
parte como conseqüência do fato de que as línguas mudam e as gramáticas
normativas podem continuar propondo regras que os falantes não seguem mais-ou
regras que muito poucos falantes ainda seguem, embora apenas raramente.
(POSSENTI, 2000,p. 65).
O grupo Dois teve sua proposta mais aceita. Sugeriu esquecer a teoria
gramatical e enfatizar, nas escolas, atividades contextualizadas de produção textual:
oral e escrita, leitura e escuta, e prática de análise lingüística articuladas conforme a
necessidade do aluno diante de suas produções textuais. Nesta proposta, o crucial
é: a relação do sujeito com a linguagem, o fucionamento da linguagem, as ações
lingüísticas, e as práticas pedagógicas numa perspectiva interacionista.
[...] é a dinâmica do trabalho lingüístico, que não é nem um eterno
recomeçar nem um eterno repetir, que é relevante: por ele a linguagem se
constitui marcada pela historia deste fazer continuo que a esta sempre
constituindo. Individualmente, nos processos interacionais de que
participamos, trabalhamos na construção dos sentido “aqui e agora”, e pra
isso temos como “material” para este trabalho a língua que “resultou” dos
trbalhos anteriores. (GERALDI, 2002,p. 11.)
A proposta do grupo Dois, elaborada em 1980, só foi em, 1998, adotada
pelos PCNs. Atualmente disponibiliza-se, nas escolas, os PCNs do ano de 2000
atualizados conforme os recentes estudos da língua materna.
Embora haja nas instituições de ensino o modelo proposto pelo grupo Dois
através dos PCNs(2000), nos dias atuais a gramática tradicional, para Faraco
(2003), ainda tem se mantido estagnada na prática desde a sua criação, ganhando,
assim, um aspecto artificial, normativa, porque se afasta da língua viva do cotidiano
e só é mantida, no curso da história brasileira desde suas origens, pelo apego elitista
e conservador de construir uma nação branca e europeizada, distanciando-se da
população etnicamente mista e daquela de ascendência africana.
Um traço equívoco da política lingüística adotada no Brasil e em Portugal
durante um grande lapso de tempo (de 1820 [digamos] a 1920 [digamos] foi um
ensino da língua que postulava uma modalidade única do português - com uma
gramática única e uma "luta" acirrada contra as variações até de pronúncia.
(HOUAISS, 1985, p. 25-26.
16
É só diante da compreensão deste contexto histórico que surgem criações
adequadas e relevantes de um estudo baseado no texto/discurso e que se ocupa
das manifestações lingüísticas produzidas pelos falantes de uma língua em
situações concretas, sob determinadas condições de produção. E afirma-se que é
necessário “... buscar no passado compreensão e explicação, para que não se faça,
no presente, interferências de forma a - histórica e acientifíca”. (SOARES, 2002, p.
176).
2.1 A formação do professor de língua portuguesa.
Conforme explicado no capítulo anterior, as milenares noções e
prescrições da doutrina gramática tradicional foram submetidas a um amplo
processo de crítica, revisão e reformulação Bagno(2002). Ainda segundo este autor,
as contribuições das novas concepções sobre a aprendizagem de língua têm se
lançado cada vez mais na busca da compreensão dos fenômenos da interação
social por meio da linguagem, da relação entre língua e sociedade, do controle
social exercido pelas ideologias veiculadas no discurso etc .
Entretanto, os docentes, ao saírem das universidades e entrarem na sala
de aula, na grande maioria das vezes, suas práticas pedagógicas se revelam com
pouca ou nenhuma influência de todas essas novas perspectivas de abordagem do
fenômeno da linguagem Bagno, (2002).
O autor comenta que os professores em atividade hoje e que se formaram
a mais de vinte anos “ aprenderam na universidade, a considerar a língua como um
fenômeno homôgeneo , iniciando-se numa gramática formal (sobretudo estrutural), e
tomando a sentença como seu território máximo de atuação”( Castilho, 1998, p. 12).
Diante de todas as novas propostas de ensino de língua, a reaçao de muitos desses
profissionais é de espanto e perplexidade ou, então, uma total rejeição Bagno(2002).
Por sua vez, os professores que se formam atualmente e que, em seus
cursos universitários, entram em contato com as novas propostas científicas, ainda
não conseguem colocá-las em suas efetivas práticas pedagógicas. Além disso,
embora muitos terminam seu curso universitário dispostos a inovar o ensino de
língua, deparam-se com estruturas de um sistema educacional burocrático, pouco
flexível e sobretudo, a exigência feita pelos pais dos alunos para que a escola
17
ensine “português”(gramática normativa), do mesmo modo que eles aprenderam em
sua época de escola Bagno(2002).
O ensino de língua no Brasil, neste início de século XXI, se encontra
numa nítida fase de transição. A maioria dos professores que estão se formando
agora já têm consciência de que não é mais possível simplesmente dar as costas a
todas as contribuições da ciência lingüística moderna e continuar a considerar de
acordo com os preceitos e preconceitos da Gramática Tradicional. Por outro lado
[...], ainda não sabem de que modo concretizar essa consciencia em prática de sala
de aula. (BAGNO, 2002, p. 16).
Também, segundo Marcuschi(2000), os PCNs de Língua Portuguesa
estão redigidos de tal modo que sua leitura se revela muito difícil para a maioria dos
professores, principalmente os que atuam nas escolas públicas, que não foram
preparados para ler este gênero do discurso escrito com uma terminologia que não
é tão transparente para o professor-leitor quanto parece ser para os autores do
documento.
Além disso, embora os PCNs(2000) orientem para uma prática de ensino
condizente com as novas perspectivas da aprendizagem de língua materna, afirmase que:
[...], tudo dependerá, no entanto, de como serão tais orientações tratadas
pelos usuários em sua salas de aula; seria nefasto se as indicações ali feitas
fossem tomadas como normas ou pílulas de uso e efeito indiscutíveis. Pior
ainda, se com isso se pretendesse identificar conteúdo unificados para todo o
território nacional, ignorando a heterogeneidade lingüística e a variação
social. (MARCUSCHI, 2000, p. 34).
Então, as universidades devem preparar e estimular os acadêmicos ao
conhecimento dinâmico da língua para dissipar todos os mitos e preconceitos sobre
ela. Para Bagno(2002) o grande foco de interesse da prática pedagógica e da
pesquisa do professor de língua seria o conhecimento cada vez mais detalhado da
variação lingüística e das consequências sociais dessa variação e dos fenômenos
sociológicos que levam à valorização e à atribuição de prestígio a determinadas
formas linguísticas, as que comparecem nas variedades das camadas sociais
dominantes.
18
No entanto, o autor ressalta que:
[...], é preciso distinguir aquilo que o futuro professor de língua vai estudar
na universidade e aquilo que ele vai ensinar em sala de aula. Os
estudantes de Letras têm de conhecer profundamente a tradição
gramatical, junto com as críticas que têm sido feitas a essa tradição pelas
diversas correntes da lingüística moderna. O professor de português tem
de receber uma sólida formação científica, como a de qualquer outro
profissional que sai da universidade para o mundo do trabalho. Mas isso
não quer dizer que ele vá transmitir a seus alunos exatamente aquilo que
aprendeu na universidade. ( BAGNO, 2002,p. 79).
Dessa forma, o conhecimento da Gramática Tradicional, das teorias
lingüísticas e das metodologias de pesquisa científica vai constituir a formação do
professor de língua, porém não poderá ser transmitido aos alunos como foi
aprendido. Esse conhecimento deverá ser a base para que o professor possa
desempenhar sua função, para que tenha suporte científico para analisar os
fenômenos lingüísticos e pedagógicos que vai encontrar em sua atuação profissional
Bagno (20002). Com isso, os docentes, atenderão ao objetivo da escola em relação
à língua, segundo os PCNs(2000) que é: formar cidadãos capazes de se exprimir de
modo adequado e competente, oralmente e por escrito, para que possam se inserir
de pleno direito na sociedade e ajudar na construção e na transformação dessa
sociedade.
2.2 O ensino de língua na escola: do ineficaz ao eficaz
Como já foi dito anteriormente, a função da escola não é ensinar um
padrão idealizado de língua. Mas é o que ocorre, e ainda por cima, segundo Bagno
(2002), para alcançar este objetivo, existe outra crença, igualmente prejudicial ao
sucesso do ensino de língua: a de que, para dominar este padrão idealizado do bem
falar, é preciso conhecer integralmente a doutrina gramatical tradicional, conhecer
sua nomenclatura técnica e aprender suas definições.
Para Bagno(1999) trata-se de um mito: “ É preciso conhecer a gramática
6
para falar e escrever bem”(sobre outros mitos acerca da língua, ver Bagno,1999).
6
A palavra gramática, em grego, significa a arte de escrever. É compreensível, portanto, a importância que a
escola veio dando à escrita, no decorrer da história, em detrimento da fala.
19
Isso tem levado à defasagem do ensino didático mostrado numa pesquisa,
na rede pública de São Paulo (Neves, 1995): dos 40 tipos de exercícios mais
freqüentes aplicados pelos docentes entrevistados, os quatro mais dados por eles
eram: reconhecer classes de palavras, reconhecer funções sintáticas, reconhecer e
classificar funções sintáticas e o quarto reconhecer e subclassificar classes de
palavras.
Esses eram responsáveis por 63% das ocorrências, sobrando apenas
38% para serem distribuídos entre os demais 36 tipos de exercícios. Para
Bagno(2002) trata-se de:
[...], um verdadeiro absurdo, um crime pedagógico, um desperdício enorme
de tempo e de esforço na tentativa de ensinar coisas absolutamente
irrelevantes e sem nenhuma utilidade prática objetiva, a menos que alguém
consiga me convencer da imperiosa necessidade, para a vida normal de
qualquer pessoa, de saber a diferença entre “adjunto adnominal” e
7
“complemento nominal” , por exemplo. (BAGNO, 2002, p. 49).
Assim, a escola ensina gramática tradicional descontextualizada que só é
usada como instrumento de poder e dominação de um pequeno grupo sobre os
demais da sociedade conforme as pesquisas e reflexões dos teóricos Perini(1997),
Mattos e Silva(1995), Luft(1990), Ilari(1994) e etc.
Um ensino de língua mais eficaz seria levar o aluno a desenvolver um
conjunto de habilidades e comportamentos de leitura e escrita que lhe permitam
fazer o maior e mais eficiente uso possível das capacidades técnicas de ler e
escrever. Assim, afirma-se:
De nada adianta ensinar uma pessoa a usar o garfo e a faca se ela jamais
tiver comida em seu prato para aplicar essas habilidades. De nada adianta, também,
ensinar alguém a ler e a escrever sem lhe oferecer ocasiões para o uso efetivo,
eficiente, criativo e produtivo dessas habilidades de leitura e de escrita. (BAGNO,
2002, p. 52).
[...], nosso problema não é apenas ensinar a ler e a escrever, mas é,
também, e, sobretudo, levar os indivíduos- crianças e adultos- a fazer uso
7
Ver a respeito da suposta necessidade de distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal a
interessante discussão, segundo Bagno(2002), levantada por Bechara(1999), em que se mostra a incoerência da
tentativa tradicional em marcar esta distinção.
20
da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e de
escrita.
A autora enfatiza que as aulas de língua portuguesa não poderiam se
reduzir a “aulas de gramática”. No lugar desta inútil decoreba de nomenclatura e de
aplicação mecânica de exercícios classificatórios observe o que diz Possenti(20001)
sobre como deveria ser para se ter um ensino eficaz de língua:
[...], leitura de material variado (jornal, revista,literatura- especialmente
literatura) em alta escala, e na própria escola; escrita constante, várias
vezes por dia, todos os dias: narrativas, cartas etc. uita leitura e muita
escrita, simplesmente porque é assim que se aprende. ( POSSENTI, 2001,
p. 143-144).
Esta sucinta sugestão dada por Possenti(2001), será melhor detalhada por
Soares(1999) quanto aos objetivos do ensino de língua na escola que também
dialogam com os objetivos dos PCNs(2000):
1)
promover práticas de oralidade e de escrita de forma integrada,
levando os alunos a identificar as relações entre oralidade e escrita.
2)
Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações
discursivas diversificadas em que haja: motivação e objetivo para ler textos de
diferentes tipos e gêneros e com diferentes funções. Motivação e objetivo para
produzir textos de diferentes tipos e gêneros, para diferentes interlocutores, em
diferentes situações de produção.
3)
Desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais de
diferentes gêneros e com diferentes funções, conforme os interlocutores, os seus
objetivos, a natureza do assunto sobre o qual falam ou escrevem, o contexto, enfim,
as condições de produção do texto oral e escrito.
4)
Criar situações em que os alunos tenham oportunidade de refletir
sobre os textos que lêem, escrevem, falam ou ouvem, intuindo, de forma
contextualizada, a gramática da língua, as características de cada gênero e tipo de
texto, o efeito das condições de produção do discurso na construção do texto e do
seu sentido.
21
5)
Desenvolver as habilidades de interação oral e escrita em função e
a partir do grau do grau de letramento que o aluno traz de seu grupo familiar e
cultural, uma vez há uma grande diversidade nas práticas de oralidade e no grau de
letramento entre os grupos sociais a que os alunos pertencem - diversidade na
natureza das interações orais e na maior ou menor presença de práticas de leitura e
de escrita no cotidiano familiar e cultural dos alunos. (SOARES, 1999, p. 4 e 5).
Com isso, tudo que foi dito até agora, pode-se abstrair que, apesar das
práticas em sala de aula ainda estarem muito ligadas à tradição, as contribuições
teóricas e práticas das grandes áreas das ciências lingüísticas permitirão manter o
rumo do ensino de língua para um processo ininterrupto em direção ao objetivo da
escola em relação à língua: desenvolver no aluno sua capacidade de análise e de
reflexão crítica, não só no que diz respeito à língua, mas a todos os demais campos
de conhecimento com os quais vier a entrar em contato, “florescendo e frutificando
ao longo de toda a vida”(Bagno, 2002, p 82).8
8
A proposta específicas dos PCNs para a prática de análise lingüística será configurada na seção 3.1
22
3. COMO E POR QUE SURGIRAM OS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS (PCNS)?
Em função da LDB 9.394/96, o Ministério da Educação e Desporto, em
1995 deu início à elaboração dos
PCNs(Parâmetros Curriculares Nacionais
(também conhecidos como RCNs - Referenciais Curriculares Nacionais. Ainda com
o presidente da República Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da educação
Paulo Renato Souza,em1997, foram concluídos os PCNs. A necessidade de sua
criação se deu devido à amplitude do território nacional, as diferenças de formação
do professorado e suas dificuldades de acesso a conteúdos pedagógicos
atualizados. Este documento orientativo sobre práticas pedagógicas tem por objetivo
propiciar às instituições de ensino, particularmente aos professores, subsídios à
elaboração e/ou reelaboração do currículo, visando à construção do projeto
pedagógico, em função da cidadania do aluno. (Fonte original site do MEC).
Sua organização se constitui da seguinte forma:- um documento
Introdução, que justifica e fundamenta as opções feitas para a elaboraçãodos
documentos de áreas e temas transversais- seis documentos referentes às áreas de
conhecimento:
Língua
Portuguesa,
Matemática,Ciências
Naturais,
História,
Geografia, Arte e Educação Física- três volumes com seis documentos referentes
aos Temas Transversais: o primeiro volumetraz o documento de apresentação
destes Temas, que explica e justifica a proposta de integrar questões sociais como
Temas Transversais e o documento Ética; no segundo, encontram-se os
documentos de Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, e no terceiro, os de Meio
Ambiente e Saúde.
A formação desse documento teve como fundamento o estudo de
propostas curriculares de Estados e Municípios, pesquisas e dados estatísticos
sobre o Ensino Fundamental fornecidos pela Fundação Carlos Chagas e pelo
contato com informações relativas a experiências de outros países. De acordo com
os PCNs (1998), em seu volume introdutório, no decorrer de sua elaboração,
profissionais da área da educação, de diversos níveis e de várias localidades
brasileiras, foram solicitados discutirem, refletirem, pensar e repensar a sobre a
melhor proposta rumo à execução do documento. Dessa forma, pode-se evidenciar
23
que há, nos PCNs, o dialogismo9 e a intertextualidade10 de diferentes e renomados
autores como: Faraco, Geraldi, Possenti, Travaglia, Soares, Bakhtin, Marcuschi,
entre outros. Essas diferentes vozes dão credibilidade e mostram qualidade à
proposta.
3.1 O que dizem os PCNs de língua portuguesa do ensino Fundamental
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs(2000) – propõem que o
ensino da Língua Portuguesa hoje esteja pautado na noção de gêneros do
discurso11. Com isso, é necessária uma mudança de paradigma do ensino da Língua
Portuguesa, que antes se fundamentava na gramática normativa. Diversos autores,
como Bakhtin (2000), Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2001), Val (2001),
ressaltam a importância dos gêneros do discurso para um ensino eficaz.
Este estudo, em consonância com essa literatura, fundamenta-se na
concepção enunciativa de língua proposta por Bakhtin (2000), a qual pressupõe
linguagem como ação social. Sob essa ótica, a língua é pensada como discurso,
enunciação. Como ressalta o próprio Bakthin (2000, p. 282), “o nosso pensamento
se origina e se forma no processo de interação e luta com pensamentos alheios, o
qual não pode deixar de refletir-se na forma da expressão verbal do nosso”. Os
PCNs (2000), que também incorporam essa visão de linguagem, apresentam dois
enfoques para o ensino da Língua Portuguesa: um que diz respeito ao uso, por meio
de práticas de leitura e de produção de textos orais e escritos, e outro que visa à
reflexão sobre a língua portuguesa.
Então, linguagem já não é mais uma forma de comunicação em que se
valoriza o locutor/ emissor. Ela é uma interação onde os sujeitos envolvidos realizam
locutor e receptor participam ativamente da interação e não mais somente o locutor
é a peça principal. Assim afirma-se: “Na realidade, toda palavra comporta duas
faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato
9
O princípio do dialogismo para Bakhtin pressupõe que quem ouve ou lê adota para o discurso alheio uma
atitude que ele chama de responsiva ativa, ou seja, concorda, discorda, completa, adapta, executa, embora em
grau muito variável. O autor afirma que fora do processo interacional é impossível entender as formas do
discurso interior. Sendo assim, é preciso rejeitar os conceitos de que o falante-emissor tem um papel ativo e o
ouvinte-receptor tem um papel passivo.
10
A intertextualidade, segundo Bakhtin, é o diálogo entre textos, que pode reproduzir o sentido incorporado ou
transformá-lo.
11
No tópico seguinte será apresentada a noção de gêneros do discurso.
24
de que se dirige para alguém.(...) A palavra é uma espécie de ponte lançada entre
mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se
sobre o meu interlocutor. A palavra é o territótio comum do locutor e do interlocutor.
(BAKHTIN, 1995,p. 113).
Reconhecer, segundo Antunes (2000), o locutor e interlocutor como
igualmente importantes no processo de interação, tê-los como co-autores exige uma
análise sobre as características do locutor, suas marcas pessoais, como
conhecimento, posição, linguagem e etc. E do interlocutor e do assunto também
saber suas características, tudo isso cria um contexto especial, único, em que ocorre
a interação. Por isso, o professor, de maneira alguma pode deixar de lado uma
produção textual sem leitor, sem destinatário, sem referência para se decidir sobre o
que será escrito.
Outro aspecto crucial mencionado nos PCNs(2000) é propor os gêneros
discursivos como o objeto de estudo. Está será a melhor escolha para tornar o
ensino instigante e útil. Eles orientam os professores de língua portuguesa para
centrarem suas atividades nos seguintes pontos de trabalho sugeridos por Possenti(
2002) em seu artigo “ Um programa mínimo”:
a) práticas de leitura de materiais os mais variados (jornais, revistas,
textos literários, com ênfase em textos literários bem escolhidos, com base no
interesse dos alunos e na relevância para a memória cultural) em alta escala, e na
própria escola, tão logo os alunos dominem os mecanismos básicos da escrita.
Antes disso, que os professores leiam para eles, de forma que o contato cotidiano
com textos escritos se torne constitutivo da vida escolar. Como convencer alunos de
que é importante que leiam se nas aulas não há tempo para essa prática e se há
tempo para tantas outras, talvez inúteis?
b) prática de escrita constante, várias vezes ao dia, todos os dias:
narrativas, comentários, resumos, paródias, paráfrases, diários, cartas, bilhetes, etc.
De novo, como convencer alunos de que escrever é relevante, se não se escreve na
escola e, principalmente, se os professores não escrevem nem mesmo quando os
alunos escrevem?
Possenti (2002) propõe muita leitura e muita escrita
simplesmente porque é assim que se aprende a ler e a escrever. Para ser prático, o
autor acrescenta que o tempo para essas atividades será o que vai sobrar quando
as atividades sem sentido forem efetivamente abandonadas.
25
c) como a língua é um domínio de marcação de identidades e, muito
freqüentemente, de discriminação, a escola deve assumir a obrigação de dar ênfase
aos aspectos da língua que são exatamente os pretextos para a discriminação
social. Diante destas considerações, é urgente rever a atuação e prática dos
professores de Língua Portuguesa.
Para Geraldi (2002) é primordial, em sala de aula, criar oportunidades para
que os discentes trabalhem textos que exemplifiquem diversas situações de
comunicação, em que os diferentes dialetos, linguagens formais e informais se
apresentem para sua reflexão e discussão e para dar início à produção de textos
diversificados.
Sobretudo, é porque no texto que a língua - objeto de estudos - se revela
em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer
enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio
processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões. (GERALDI,
2002, p. 135).
Esse é, afinal, o objetivo maior do ensino da língua: desenvolver no sujeito
a competência para a leitura e produção de textos. Ainda, o autor, comenta que,
para a prática discursiva é necessário: “a) se tenha o que dizer, b) se tenha uma
razão para dizer o que se tem a dizer, c) se tenha para quem dizer o que se tem a
dizer, d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para
quem diz(...), e) se escolha as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). (GERALDI,
2002,p. 137).
Centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como
indicador
dos
caminhos
que
necessariamente
deverão
ser
trilhados
no
aprofundamento que da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se fala quer
dos modos (estratégias) pelos quais se fala. (GERALDI, 2002, p. 165).
Dessa forma, o trabalho deve sempre se fazer em torno do texto. Mas,
afinal, o que é texto? Segundo os PCNs(2000) a noção de texto tem a ver com um
enfoque de linguagem, que por sua vez, é a interação, a ação entre sujeitos, o
locutor e seu interlocutor. A produção de significação depende deste trabalho
coletivo de linguagem. Tão importante quanto o locutor é o interlocutor, percebido
como elemento ativo, na medida em que produz o significado e reage ao enunciado
conforme a interpretação feita. Tal reação é percebida ou imaginada pelo locutor,
que de algum modo a leva em conta, no momento da criação.
26
Ainda, conforme os PCNs (2000), esses sujeitos participantes de uma
interação, e que agem uns sobre os outros, têm uma história, atuam num contexto
social e ideológico. Nesse contexto cada um ocupa um lugar, e é desse lugar que
produz e interpreta enunciados.
A linguagem, segundo os PCNs(2000) se constitui, portanto, nessa mão
dupla da interação, que cria um diálogo sempre diferente entre interlocutores, em
função do contexto histórico- social e de cada momento da interlocução. Nesse
sentido, um ato de linguagem jamais se repete, e cada interação tem uma unidade
de informação, ou de significação para os interlocutores.
Por isso, cada locutor vai construindo a sua língua de acordo com a
situação de interação, por isso ela é heterogênea. Essa construção se dá tanto na
experiência oral quanto na escrita. Então, explica Rojo(2000) que texto é toda e
qualquer unidade de informação, no contexto da enunciação. E, como este contexto
está em constante mudança, segundo essa autora, o falante estaria impossibilitado
de criar, modificar, alterar um gênero.
Para Antunes (2002) a razão maior de se ensinar/ aprender a língua por
meio de textos é desenvolver nos alunos sua competência discursiva para
compreender e produzir textos diversos, orais e escritos.
O autor ainda afirma que:
[...], produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de
escrever... Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e
intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela
escrita propriamente, até o momento posterior da revisão e da reescrita.”
(ANTUNES, 2002, p.54).
Nesta mesma linha de raciocínio os Parâmetros curriculares Nacionais
dizem que: “A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados
historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente,
exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes dos que satisfizerem as demandas
sociais até a bem pouco tempo-e tudo indica que essa exigência tende a ser
crescente. A necessidade de atender a essa demanda obriga à revisão substantiva
dos métodos de ensino e à constituição de práticas que possibilitem ao aluno
ampliar sua competência discursiva na interlocução.
27
Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas no
processo de ensino as que decorrem de uma análise de estratos- letras/fonemas,
silabas, palavras, sintagmas, frases- que, descontextualizados, são normalmente
tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a
competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode
ser o texto.” (PCNs, 2000, p.23).
Dito isso, os conteúdos são orientados pelo princípio da diversidade de
textos e gêneros que circulam socialmente, com finalidades e com características
diversas para que o falante da língua ao interagir com o outro possa lançar mão
daquele (gênero) que considera mais adequado à situação comunicativa. Acesso à
diversidade para o uso e domínio de um amplo e complexo repertório cultural orienta
a seleção e organização dos conteúdos previstos para cada ano e ciclo.
Diante disso, o texto tem de ser a base das atividades de ensino/
aprendizagem de Língua Portuguesa. A capacidade do uso da linguagem deve
desenvolver-se nas quatro habilidades, certamente intimamente ligadas, mas que
não são a mesma coisa: ouvir, falar, ler e escrever. Isso significa que, tanto nos
trabalhos de compreensão quanto de produção de textos, as linguagens oral e
escrita têm de ser trabalhadas cuidadosamente. Além disso, no desenvolvimento de
conteúdos de análise lingüística o texto, num contexto, deve ser a base para o
estudo. A abordagem do texto na sua dimensão social e cultural leva a classificá-lo
quanto ao gênero.
3.1 A noção de Gênero do Discurso
Segundo Marcuschi (2001) a interação verbal se dá por meio de
enunciados relativamente estáveis que se adaptam a múltiplas situações de
comunicação, tanto orais quanto escritas. Estas situações com relativa estabilidade
são chamadas de gêneros do discurso12. Alguns teóricos preferem chamá-los de
gênero textual, mas prevalecerá, nesta pesquisa, a nomenclatura gênero discursivo
para manter a tradução original da obra de Bakhtin (1979).
12
É comum encontrar na literatura outros termos correspondentes a esse, como gênero textual, gênero do texto e
gênero do discurso. Nesse trabalho, essa diferença na nomenclatura não altera os objetivos didáticos
pedagógicos que serão propostos ao longo da monografia, mas optar-se-á pela nomenclatura gênero discursivo,
pois é a forma original traduzida da obra de Bakthin.
28
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos)
[...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada
uma dessas esferas [esferas da atividade humana], não só por seu
conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada
nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –,
mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes três
elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundemse indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados
pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.
(BAKHTIN, 1979, p. 279).
Em outras palavras, pode-se definir gênero como um tipo de texto oral ou
escrito, literário ou não, formal ou informal, que pode ser reconhecido por sua
função, isto é, aquilo que as pessoas fazem com eles em contextos sociais
específicos. Por exemplo, a função de um recado de uma estudante para o seu
namorado é completamente diferente do objetivo de uma carta para pedir um
emprego. Além disso, para cumprir objetivos específicos, um genro também
apresenta uma estrutura ou uma organização identificável, mais ou menos típica e
constante. Assim sendo, a estrutura ou a organização do gênero “entrevista” será
substancialmente diferente do gênero “anúncio”, por exemplo.
Mas esta concepção nem sempre foi assim, durante muito tempo,
conforme Possenti (2000), no ambiente escolar, os gêneros foram associados
apenas à literatura, no entanto, com as propostas do Grupo 2 adotada pelos
PCNs(2000), essa idéia foi ampliada e os gêneros são reconhecidos como unidades
sociocomunicativas para qualquer finalidade de textos.
Toma-se, conforme Marcuschi (2001), como exemplo de gêneros:
resenha, piada, edital de concurso, reportagem jornalística, bilhete, bula de remédio,
lista de compras, cardápio de restaurante entre outros. Esses textos materializados
se encontram na vida diária e apresentam características sócio-comunicativas
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica.
Eles contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia.
São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer
situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e
interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não
29
são instrumentos estáticos da ação criativa, por isso a definição “relativamente
estável” dada por Bakhtin(1992) sobre as práticas de comunicação oral ou escrita
serem adaptáveis e maleáveis conforme a situação, o termo “relativamente estável
“conforme comenta o autor:,utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, ou seja,
todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável
de estruturação de um todo.”(BAKHTIN,1992,p. 301). Além disso, segundo este
mesmo autor,quanto mais complexa é a sociedade, mais atividades se realizam e
conseqüentemente maior será o número de gêneros que circularão nesta sociedade.
Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma
lingüística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em
situações sociais particulares. (MARCUSCHI, 2001, p. 67).
Sendo assim, comenta Marcuschi(2001), a escola, deveria conduzir os
alunos ao aprendizado de práticas sociais de leitura e de escrita comuns no seu diaa-dia, ou seja, de diversos gêneros discursivos
13
existentes na sociedade, para que
eles não só aprendam, mas também sintam o prazer de ler e escrever e, de forma
reflexiva e participativa, possam exercer plenamente a sua cidadania, ou seja, nada
mais eficaz que a escola trazer para dentro da sala de aula o gênero textual como
objeto de ensino e utilizá-lo como processo de ensino/aprendizagem da língua.
3.2 A diferença entre tipos e gêneros textuais
Percebe-se que na escola, a distinção entre tipos e gêneros textuais ainda
não está clara nem para os alunos nem para os professores. Para definir esse
aspecto teórico e terminológico, Marcuschi14 (2002) apresenta uma breve definição
das duas noções:
Tipos
Textuais:
constructos
teóricos
definidos
por
propriedades
lingüísticas intrínsecas; constituem seqüências lingüísticas ou seqüências de
enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos; sua nomeação
13
Nesta monografia, a expressão gênero textual, utilizada por Marcuschi, corresponde a expressão gênero do
discurso utilizada por Bakhtin.
14
Marcuschi é doutor em Filosofia da Linguagem pela Universidade de Erlangen-Nürenberg, Alemanha.
Professor em Lingüística da UFPE possui várias publicações na área da Lingüística Textual, Análise da
Conversação, Filosofia da Linguagem e Semântica.
30
abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos
lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal; designações teóricas dos tipos:
narração, argumentação, descrição,injunção e exposição;
Gêneros Textuais: realizações lingüísticas concretas definidas por
propriedades sócio-comunicativas; constituem textos empiricamente realizados
cumprindo funções em situações comunicativas; sua nomeação abrange um
conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas
pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função; exemplos de gêneros:
telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, aula expositiva, romance,
reunião de condomínio, lista de compras, conversa espontânea, cardápio, receita
culinária, inquérito policial etc. (MARCUSCHI, 2002, p. 22)
Normalmente, a expressão “tipo de texto” é usada erroneamente para
designar o que é um gênero textual. Marcuschi (2002) comprova muito bem essa
observação quando afirma que:
Quando alguém diz, por exemplo, a carta pessoal é um tipo de texto
informal, ele não está empregando o termo “tipo de texto” de maneira correta [...]”
(MARCUSCHI 2002, p. 25).
A carta pessoal, como já mencionado anteriormente, trata-se, de um
gênero textual. Um outro ponto fundamental que Marcuschi (2002) destaca é que em
todos os gêneros também se realizam diversos tipos textuais, podendo acontecer
que o mesmo gênero realize dois ou mais tipos. Assim, um texto é em geral
tipologicamente variado (heterogêneo).
Os tipos textuais são definidos por seus traços lingüísticos predominantes:
aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Por isso um tipo
textual é constituído por um conjunto de traços que formam uma seqüência e não
um texto.
Quando se nomeia um certo texto como “narrativo”, “descritivo” ou
“argumentativo”, não está nomeando o gênero e sim o predomínio de um tipo de
seqüência de base. MARCUSCHI, 2002, p. 27).
Diante disso, o importante é saber reconhecer e produzir os gêneros
adequando para a situação sociocomunicativa e utilizar um princípio de
sistematização que facilite a compreensão do problema. Além disso, a classificação
31
de gêneros não pode compor uma lista fechada, porque as situações comunicativas
são inúmeras e não há um limite.
32
3. MANEIRAS DE PRATICAR OS PCNS EM SALA DE AULA
Neste capítulo, tentar-se-á aproximar a prática pedagógica às teorias
mencionadas anteriormente sob as quais os próprios PCNs foram elaborados. No
entanto, não será apresentado um currículo padrão, pois, segundo Rojo (2000) não
se pode padronizar, por exemplo, livros didáticos para todas as escolas, tendo em
vista que cada escola vive uma realidade diferente. Por isso, não se encontram, nos
PCNs, conteúdos pré- fixados, já que tudo depende do contexto social no qual o
aluno está inserido.
Os gêneros discursivos
15
ou textuais são tomados como objetos de
ensino nos PCNs e são, portanto, responsáveis pela seleção dos textos a serem
trabalhados como unidade de ensino (Rojo,2000). Partindo-se deste pressuposto, os
docentes devem propor aos seus alunos práticas de análise lingüística, práticas de
leitura, escuta e produção textual PCNs (2000). Tudo isso sendo trabalhado não em
diferentes etapas, mas sim como um todo.
Cabe ao professor, desse modo, criar condições para que o aluno
interprete textos dos mais diferentes gêneros, assuma a palavra e produza textos
significativos e eficazes nas mais variadas situações.
[...] as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem,
principalmente, a atividades discursivas: uma prática constante de escuta
de textos orais e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e
escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os
múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos
que permitem ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência
discursiva (BRASIL, SEF, 2000, p. 27-28).
Assim sendo, para se ter uma visão menos teórica da realização deste
documento, abaixo será mostrado um exemplo prático em sala de aula que venha
ao encontro dos PCNs. A proposta baseia-se no "Programa de Gestão da
Aprendizagem Escolar - Gestar II"- programa de formação continuada, destinada a
professores da 5ª à 8ª série (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental que ministram
15
Os estudos em relação aos gêneros discursivos, tendo como fundamento as concepções de Bakhtin,
começaram a serem discutidos, no Brasil, por volta da década de 90.
33
aulas da disciplina Língua Portuguesa. O GESTAR II é uma das ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) que além de ser um programa de formação
continuada, é também, um conjunto de ações pedagógicas que incluem discussões
sobre questões prático-teóricas.
Conforme o GESTAR II baseado nos PCNs(2000), a presença de textos
variados nas atividades em sala de aula torna as práticas sociais na escola mais
próximas das situações sóciocomunicativas que ocorrem fora da sala de aula.
Apesar de ser inevitável mudar a finalidade, os textos serem utilizados como
material didático, o reconhecimento, a análise e a sistematização de critérios que
permitem ao aluno desenvolver sua competência textual é parte integrante do
conjunto de estratégias coerentes com a abordagem de língua como trabalho.
Conseqüentemente, à escola cabe mais do que focalizar as formas
lingüísticas(unidades gramaticais) como objeto de trabalho. Ela deve, também,
ajudar os alunos a se adaptar às características do contexto e mediar os recursos do
gênero adequado a cada situação de comunicação. Isto é, a instituição de ensino
não pode se focalizar somente nos estudos de regras gramaticais. É essencial, para
um ensino condizente e útil ao aluno, ir mais além e despertar nos discentes a
consciência de que nos comunicamos por textos, por gêneros e não por palavras
isoladas e descontextualizadas.
Dessa forma:
[...] as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem,
principalmente, a atividades discursivas: uma prática constante de escuta
de textos orais e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e
escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os
múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos
que permitem ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência
discursiva. Deve-se ter em mente que tal ampliação não pode ficar
reduzida apenas ao trabalho sistemático com a matéria gramatical.
Aprender a pensar e falar sobre a própria linguagem, realizar uma atividade
de natureza reflexiva, uma atividade de análise lingüística supõe o
planejamento de situações didáticas que possibilitem a reflexão não
apenas sobre os diferentes recursos expressivos utilizados pelo autor do
texto, mas também sobre a forma pela qual a seleção de tais recursos
reflete as condições de produção do discurso e as restrições impostas pelo
gênero e pelo suporte. (BRASIL, SEF, 2000, p. 27-28).
A estratégia para por em prática tudo que foi escrito acima é, segundo o
GESTAR II(2007), é propor aos alunos convidar alguém, da comunidade,
34
relacionado com trabalho ou mercado de trabalho, para falar com os alunos sobre
este tema tão polêmico e duvidoso na hora da escolha. Além deste tema sugerido
acima, para prática desta ação pode-se encaixar outro tema adequado à realidade
dos alunos, por exemplo, drogas, meio-ambiente, educação sexual, entre outros.
Abaixo serão dados os passos de como agir referente ao tema escolhido.
Em seguida crie direcionamentos adequados à realidade em sala de aula
para construir, com os alunos, um texto adequado à situação, ao tema e ao papel
social do convidado; esse texto pode ser um convite, uma carta, um telefonema, um
abaixo-assinado, um requerimento, ou outros similares gêneros adequados à
ocasião.
Depois da realização deste evento, que pode ser uma conversa, uma
palestra ou entrevista, propor uma reflexão conjunta sobre estratégias lingüísticas
utilizadas: o nível de linguagem, os diálogos, as maneiras de focalizar o tema, os
modos de comportamento lingüístico do convidado e de seus ouvintes, os gêneros
textuais realizados.
Para contrastar, propor uma estratégia didático-pedagógica em que os
alunos convidem um colega de outra turma para ser entrevistado em sala de aula
sobre o tema trabalho: como se sente um jovem hoje diante dos desafios do
mercado de trabalho?
Após começar pela atividade do próprio convite: em que gênero será
feito? Em forma de bilhete, carta ou conversa pessoal? Por quê?
Então, desenvolver por escrito, com os alunos, um roteiro de entrevista.
Depois da realização do evento, propor um debate sobre os gêneros
textuais realizados nas duas ocasiões: suas diferenças e semelhanças; sobre o uso
da modalidade escrita e oral nos textos; sobre o relacionamento social que se
estabeleceu entre os interlocutores.
Diante disso, em consonância com os PCNs(2000), esta prática
pedagógica proporcionará aos alunos uma interação entre a escola e a comunidade.
Fator de estímulo para que os alunos tomem consciência de que já são cidadãos,
mesmo antes de entrarem no mercado de trabalho e completar maior idade
PCNs(2000). Além disso, ela propiciará o uso da língua oral e escrita, propondo uma
análise do funcionamento da linguagem em situação real de interlocução. Também
essa atividade fará o aluno refletir, analisar, pensar sobre os fatos e os fenômenos
da língua e a propriedade que a linguagem tem de falar sobre a própria linguagem
35
(metalinguagem). Fará, inclusive, como já comentado anteriormente, a organização
das atividades de produção textual, leitura/escuta e análise lingüística como um todo
e não separadamente como comumente ocorre nos livros didáticos PCNs(2000).
4.1 Propostas de leitura e produção escrita realizadas com sucesso.
Abaixo há exemplos de projetos pedagógicos de leitura e produção escrita
que vão ao encontro de toda fundamentação teórica desenvolvida nesta pesquisa.
Os projetos, aplicados sob a orientação da Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi
16
,
foram realizados em diversas escolas públicas e particulares dos níveis fundamental
e médio. Os professores que desenvolveram essas práticas pedagógicas
manifestaram-se muito satisfeitos, com os resultados e surpresos pelo envolvimento
dos alunos. Lopes- Rossi(2003) comenta que adotá-la em outras instituições de
ensino mostra-se possível mesmo em escolas com poucos recursos e que sua
realização só dependerá de um professor melhor informado sobre a fundamentação
teórica básica a essa prática.
Nas escolas foram concretizados as produções dos seguintes gêneros:
a) Cartazes para divulgação de duas festas promovida pela escola fixados
em vários estabelecimentos comerciais do bairro.
b) Jornal de Classificados com anúncios de serviços prestados ou de
produtos caseiros vendidos por familiares e amigos e distribuídos pelo bairro.
c) Produzirão livros de contos lançados em evento da escola.
d) Produziram livros de poesia.
e) Confeccionarão panfletos veiculando propagandas sociais visando à
conscientização sobre temas atuais, como aquecimentos global, apresentados em
locais de circulação do público alvo.
f) Elaboração de críticas de filmes selecionados para uma semana de
cinema na escola e divulgá-las, em forma de catálogo, para orientar a escolha do
público convidado a assistir aos filmes.
g) Elaboração de paródias para um concurso na escola.
16
Doutora em Lingüística pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; Mestre em Lingüística
Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/ SP; Professora da Universidade de TaubatéUNITAU- nos Cursos de Letras, Mestrado em Lingüística Aplicada, Especialização em Leitura e Produção de
Textos, Especialização em Língua Portuguesa: gramática e uso.
36
h) Elaboração de um curriculum vitae com carta de encaminhamento
solicitando emprego.
i) Produção de livros de histórias infantis para doação à biblioteca da
escola.
j) Elaboração de panfletos sobre: alimentação saudável, drogas, entre
outros assuntos distribuídos na comunidade.
Evidentemente todas as práticas descritas acima passarão por etapas
essenciais ao processo de leitura e produção escrita eficazes ao ensino de língua e
fundamentadas pelos PCNs(2000). Então, de acordo com Lopes Rossi(2003), será
explicado abaixo os procedimentos utilizados para desenvolver este projeto:
A primeira etapa é a leitura do gênero a ser produzido para o
conhecimento de suas propriedades discursivas, temáticas e composicionais, o
conhecimento de suas condições de produção e circulação com perguntas do tipo:
quem escreve esse gênero? Com que propósito? Onde circula? Como é produzido?
Com base em que informações? Quem lê esse gênero? . Esses comentários
proporcionam gradualmente aos alunos a percepção da relação dinâmica entre os
sujeitos e a linguagem e o caráter histórico e social do gênero discursivo em estudo.
É fundamental, também, que o aluno tenha contato com o portador daquele gênero
que pode ser: um jornal, revista, embalagem, uma folha de papel. Com isso, o
professor deverá organizar esta primeira etapa em seqüências de atividades como:
seleção de alguns textos do gênero a ser estudado, distribuição desses textos para
os alunos; levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero
proposto, comentários sobre aspectos discursivos do gênero, por exemplo, suas
condições de produção e de circulação e após isso seus aspectos temáticos e
composicionais como: seu tema, sua forma de organização, sua composição, que
inclui padrão gráfico, fotos, ilustrações e outros tipos de figuras ou recursos.
A Segunda etapa, segundo a autora citada acima,
deve ser o da
produção escrita e pode ser desenvolvido com os alunos organizados em grupos ou
não, dependendo da necessidade. O professor deve avaliar a viabilidade de certas
produções, as fontes de informação disponíveis, o interesse do tema pelos alunos e
para os interlocutores. Também a consciência de que essas etapas exigem varias
aulas para ser exeqüível. Em seguida, vem a revisão e correção participativa dos
textos produzidos pelos alunos. Essa etapa de correção pode permitir ao professor
37
selecionar dificuldades gramaticais dos alunos e usá-las em exercícios de análise
lingüística, em outros momentos de aula.
A terceira etapa se constitui pela divulgação das produções dos alunos de
acordo com a forma típica de circulação do gênero aos interlocutores. É uma etapa
de grande satisfação e orgulho, e que certamente contribui para o desenvolvimento
das habilidades comunicativas dos alunos e para a ampliação de seu conhecimento
de mundo Lopes-Rossi(2002).
O sucesso dessa proposta pedagógica depende crucialmente de uma
mudança de concepção de ensino de produção escrita que requer, conforme a
autora, um professor mediador de conhecimentos, orientador e parceiro dos alunos
nas produções, um contexto que favoreça a interação entre os alunos, a troca de
conhecimento, a valorização das habilidades individuais, uma avaliação dos alunos
pelo envolvimento ao longo do processo entre outras condições.
38
CONCLUSÃO
O que se conclui nesta pesquisa, é que há a necessidade de o professor
rever suas próprias concepções e práticas pedagógicas e compreender no que se
constitui sua prática hoje, o que ela tem de deficiente ou inadequada para novos
tempos, e reorientar seu olhar para um novo perfil de homem, de escola e de
sociedade. Os PCNs(2000), documento oficial de ensino, devem fazer parte das
práticas sociais de leitura e de escrita do professor e, portanto, deve se apresentar
ao seu nível de leitura. É preciso buscar a mudança essencial na cultura escolar,
desde as séries iniciais até à formação do professor nas universidades.
O ensino de produção textual com base em gêneros discursivos demanda
uma descrição detalhada de contextos específicos, a consideração de elementos
lingüísticos, que mantêm relação sistemática com o comportamento ou eventos
sociais. Ao aprender os gêneros que estruturam um grupo social com uma dada
cultura, o aluno aprende maneiras de participar nas ações de uma comunidade .
Descobrir como fazer isso consistentemente na sala de aula parece ser o desafio
dos docentes.
Além disso, para dar conta da multiplicidade das práticas sociais que se
desenvolvem em torno da escrita e da leitura os profissionais do ensino devem
elaborar métodos que contemplem as práticas concretas dos alunos, para que então
seja possível proporcionar uma prática aliada a idéia de gêneros (PCN:2000, p.35)
que tem por objetivo cumprir, se não integralmente ao menos em boa parcela,
aquele que se entende ser o objetivo do curso Língua Portuguesa no contexto
escolar: formar alunos que dominem a norma padrão da língua e gramática, além de
levá-los a ler/produzir com relativa facilidade diferentes gêneros discursivos reais e,
mais que isso, formar cidadãos que participam participando (PCN: 2000, p.37).
Entende-se, assim, que o docente deva propor situações em que o aluno
possa exercitar as práticas sociais de compreensão e produção de textos (oral e
escrito) e de análise/reflexão da língua (oral e escrita) em situações lingüisticamente
significativas, em situações de uso de fato.
Não basta proporcionar atividades de escrita que partam apenas de temas
dados pelo professor, não é sugiciente deixar que os alunos escrevam qualquer tipo
de texto, os PCN apontam que a escrita não é uma atividade em si e mecânica. Mais
do que ter o domínio da língua padrão ou desejar escrever num determinado gênero
39
(por exemplo, uma bula de remédio), o produtor de texto deve incorporar as
dimensões discursivas, incluindo desta maneira os interlocutores, as relações que
existem entre eles, a partilha dos mesmos conhecimentos lingüísticos, as condições
sociais de produções reais dos textos, as intenções e especificidades de cada texto.
Escrever um bilhete para um colega durante uma aula de português, às escondidas
do professor que explica a matéria é completamente diferente de escrever um
bilhete a um amigo imaginário apenas para cumprir a proposta dada pelo professor
para "treinar" o gênero bilhete. São outros os motivos, um outro leitor mais ou menos
familiar, outros procedimentos de estruturação e de seleção de palavras, frases e
maneiras de dizer.
Um professor, assim, deve promover situações em que o gênero bilhete,
por exemplo, seja produzido a partir da finalidade específica que ele tem em uma
determinada comunidade: estabelecer uma "conversa" com alguém distante do autor
no momento da escrita, em uma certa estrutura composicional (data, chamamento,
assunto, despedida etc), em um certo estilo (coloquial, informal, mais íntimo). Um
bilhete que possa ser enviado ao seu destinatário, que possa ser lido como um texto
que de fato provoque interesse em seu leitor e o desejo de respondê-lo.
Um
escritor
competente
é
alguém
que
planeja
o
discurso
e
conseqüentemente o texto em função do seu objetivo e do leitor a que se destina,
sem desconsiderar características específicas do gênero. É alguém que sabe
elaborar um resumo ou tomar notas durante uma exposição oral; que sabe
esquematizar suas anotações para estudar um assunto; que sabe expressar por
escrito seus sentimentos, experiências ou opiniões. (PCN,2000,p.65).
Também, a lição que se abstrai desta pesquisa é a de que um professor
não deve criticar seus alunos dizendo que não sabem escrever textos, sugere-se
fazer a seguinte pergunta: não sabem escrever em que gênero do discurso? De
acordo com os PCNs(2000) o ato de escrever envolve múltiplas habilidades, sendo
que muitas delas podem estar relacionadas à familiaridade ao gênero em que se
está sendo desafiado a escrever. Um aluno pode dominar a prática de escrever um
bilhete ao colega durante a aula de Português, como já dito anteriormente, e ter
muita dificuldade em escrever uma carta para um jornal da cidade.
Daí, conforme os PCN(2000), a necessidade do professor proporcionar
situações em que seu aluno possa expandir sua capacidade de uso da língua e
adquirir outras que não possua em situações lingüisticamente significativas. Como,
40
por exemplo, relacionar as práticas de produção, leitura e oralidade levando-se em
conta o contexto de produção dos sentidos (sujeito enunciador, interlocutor,
finalidade da interação, lugar e momento de produção) e ainda as características
dos gêneros e suportes, operando com a dimensão semântica e gramatical da
língua.
Dessa forma, o que se conclui, também, é que os PCN assumem como
papel da escola formar sujeitos críticos, capazes de investigar, articular, descobrir de
forma ativa os objetos do mundo – a linguagem – a que eles são expostos. Para eles
é muito mais do que oferecer o convívio do aluno com a linguagem trata-se de
oferecer-lhe a proximidade com práticas sociais de compreensão e produção de
textos e de análise lingüística, nas modalidades oral e escrita, de maneira constante
e progressiva e em sua diversidade. Além do mais, trata-se ainda de partir das
possibilidades de aprendizagem do aluno, de suas necessidades para a ampliação
do seu universo de referências, propiciando-lhe familiaridade crescente com
expressões culturais e científicas cada vez mais complexas.
41
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Vera T. de; BORDINI, Maria da Glória. Literatura: a formação do leitor –
Alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto. 1993.
ANDRADE, Carlos A. Um novo movimento no ensino da língua portuguesa In:
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo:
Parábola Editorial, 2003.
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: língua portuguesa. Brasília, 2000.
BAGNO, M. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições
Loyola, 1999.
BAKHTIN, Mikail. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução de: Michel e
Yara Vieira. 6.ed. São Paulo: Hucitec, 1992.
BAKTHIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
1994._________ . Planejamento como prática educativa. 7.ed. São Paulo: Loyola,
1994.
FARACO, C. A. Ensinar X Não ensinar gramática: ainda cabe essa questão? 2003
(mimeo).
GARCIA, Regina L. No cotidiano da escola: pistas para o novo. Cadernos
CEDES, Campinas, v.28, p. 49-62.
GERALDI, C.; FIORENTINE, D.; PEREIRA, E. (orgs.). Cartografia do trabalho
docente. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2000.
GERALDI, João W. Concepções de linguagem e ensino de Português. In: _____,
João W. (org.). O texto na sala de aula. 2.ed. São Paulo: Ática, 1997.
_____. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação para promover. São Paulo: Mediação, 2000.
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 7.ed. Campinas,
SP: Pontes, 2000.
_____ ; MORAES, S.E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos
projetos da escola. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 1999.
KOCH, Ingedore; TRAVAGLIA, Luiz C. A coerência textual. 3.ed. São Paulo:
Contexto, 1990.
KOCH, Ingedore. A coesão textual. 3.ed. São Paulo: Contexto, 1991.
42
_____. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1995.
KRAMER, S. Leitura e escrita com o experiência – notas sobre seu papel na
formação. In: ZACCUR, E. (org.). A magia da linguagem. Rio de Janeiro: DP&A:
SEPE, 1999.
_____ . Por entre as pedras: arma e sonho na escola. 3.ed. São Paulo: Ática,
2000.
PERINI, M. A. Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática, 1997.
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática. 4.ed. Campinas, SP:
Mercado das Letras, 1999.
SOARES, Magda B. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2002.
_____. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. 26ª ANPED, GT
Alfabetização, leitura e escrita, out/2003.
_____. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 5.ed. São Paulo: Ática,
1991.
SCHNEWLY, Bernard. Gêneros e tipos de discurso: considerações psicológicas e
ontogenéticas. In: SCHNEWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos
na escola. Tradução e organização Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas:
Mercado de Letras, 2004. p.21-39.
TRAVAGLIA, L.C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática
no 1º e 2º graus. 6. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.
43
APÊNDICE