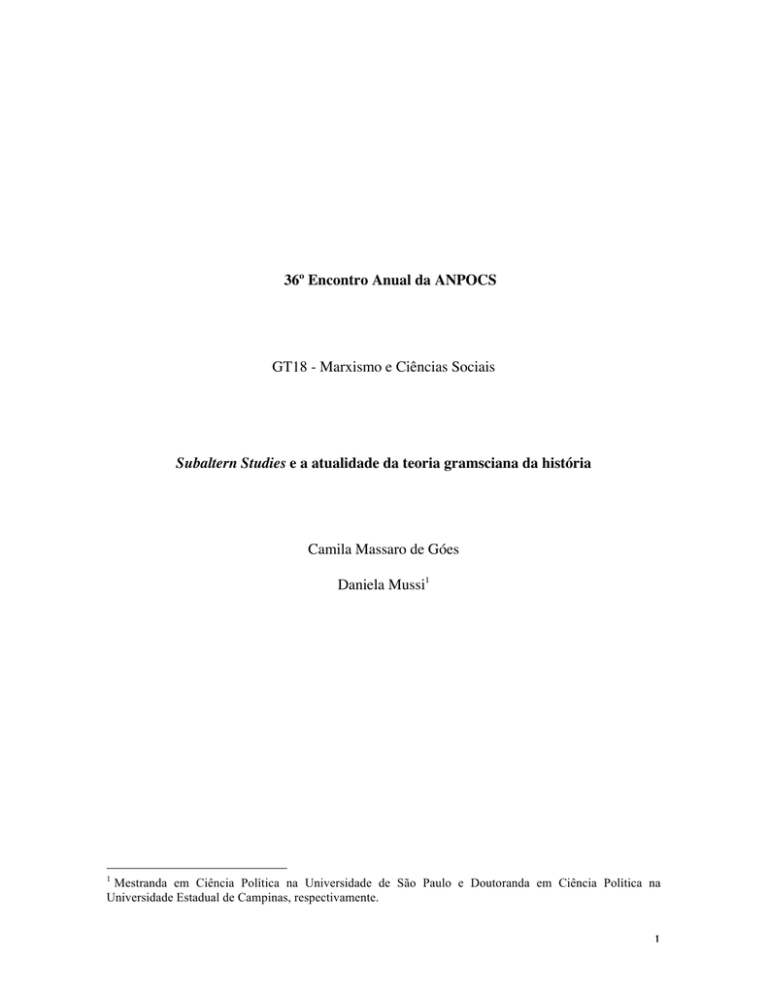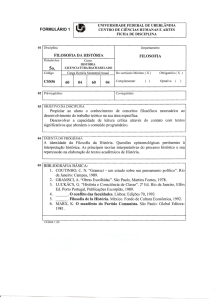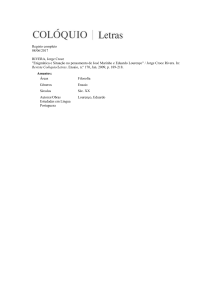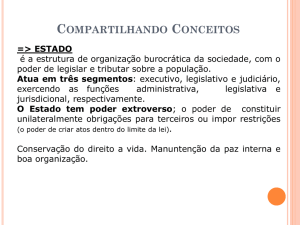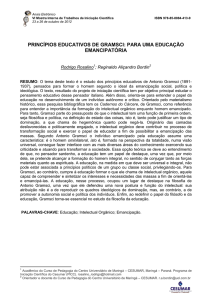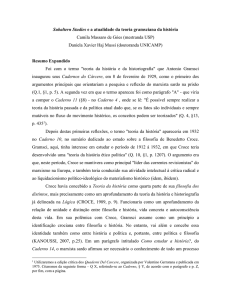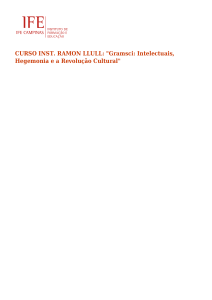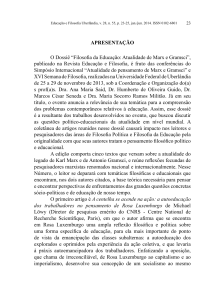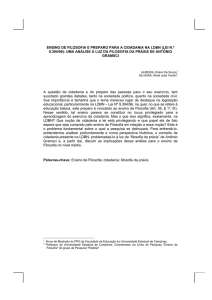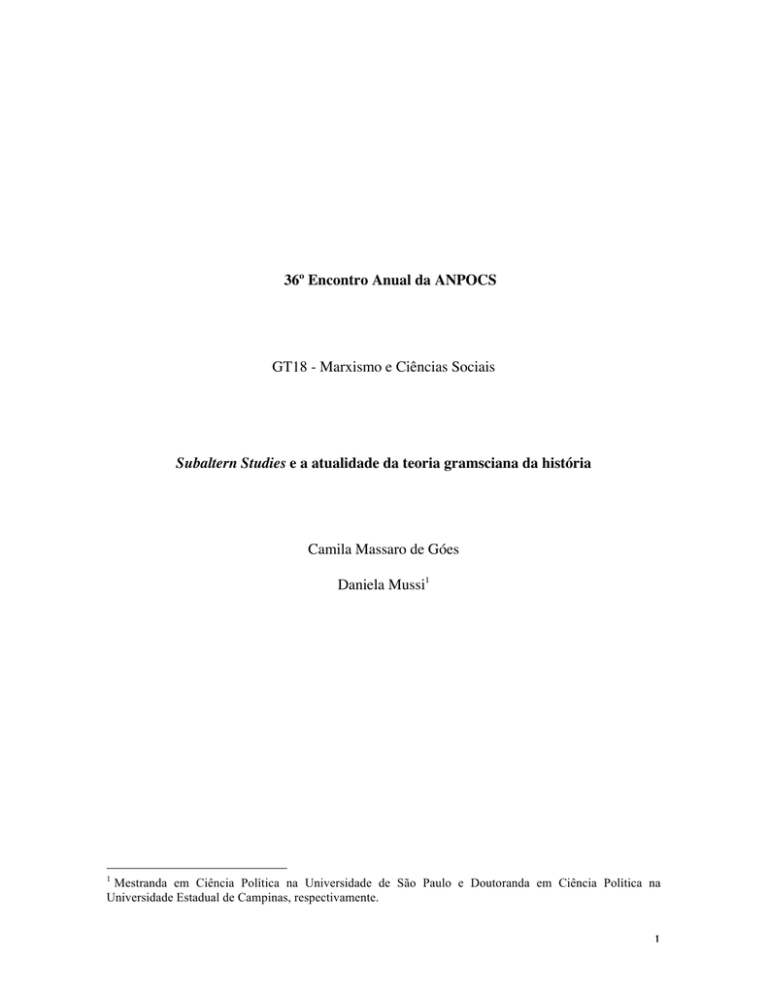
36º Encontro Anual da ANPOCS
GT18 - Marxismo e Ciências Sociais
Subaltern Studies e a atualidade da teoria gramsciana da história
Camila Massaro de Góes
Daniela Mussi1
1
Mestranda em Ciência Política na Universidade de São Paulo e Doutoranda em Ciência Política na
Universidade Estadual de Campinas, respectivamente.
1
Subaltern Studies e a atualidade da teoria gramsciana da história
Foi com o termo “teoria da história e da historiografia” que Antonio Gramsci
inaugurou seus Cadernos do Cárcere, em 8 de fevereiro de 1929,2 como o primeiro dos
argumentos principais que orientariam sua pesquisa e reflexão na prisão (Q. 1, §1, p. 5).3 A
segunda vez em que o termo apareceu foi no Caderno 4,4 em um parágrafo escrito entre
maio e agosto de 1930, onde se lê: “é possível sempre realizar a teoria da história passada e
da política atual dado que, se os fatos são individuais e sempre mutáveis no fluxo do
movimento histórico, os conceitos podem ser teorizados” (Q. 4, §13, p. 435). Gramsci
apresentava, aqui, uma surpreende correlação entre a mutabilidade dos fatos e teorização
dos conceitos, a qual pretendia desenvolver mais a fundo. Nos escritos carcerários, esta
reflexão a respeito da teoria da história evidenciou sua centralidade para pensar o marxismo
em relação: a) à trajetória do revisionismo neoidealista que dele seu objeto por excelência,
em especial a partir de Benedetto Croce (1860-1952); e b) à influência do positivismo,
especialmente da sociologia, na trajetória da interpretação dada ao marxismo por
intelectuais dos mais diversos matizes teóricos e ideológicos da época.
Aspectos do revisionismo de Benedetto Croce
O termo “teoria da história” reapareceria entre abril e maio de 1932, período já
adiantado da pesquisa gramsciana na prisão, como parte de um sumário organizado para
2
Algumas semanas depois, em 25 de março de 1929, Gramsci escreveu uma carta da prisão à sua cunhada
Tania Schucht, na qual a “teoria da história e da historiografia” aparecia como um dos principais temas sobre
os quais Gramsci pretendia escrever, ao lado da “história italiana do século XIX” (especialmente a formação e
desenvolvimento dos grupos intelectuais) e do “americanismo e fordismo”. Para o tema da teoria da história,
Gramsci anunciou que pretendia trabalhar sobre os principais livros de Benedetto Croce, os quais já tinha
acesso na prisão nessa época. Além disso, declarou que gostaria de ter acesso também a um livro do russo
Nikolai Bukharin, Theorie du materialisme historique, que havia sido publicado em francês, bem como a
alguns volumes das “obras filosóficas” de Karl Marx, que haviam sido publicadas na França, em especial a
Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel [Contribuição à crítica da filosofia do direito
de Hegel] e a Critique de la critique critique [Crítica da crítica crítica, também conhecida por A Sagrada
Família] (LC, p. 242). As Cartas do Cárcere serão aqui citadas sempre a partir da edição italiana publicada
pela Einaudi em 1973, no formato (LC, p. “Z”), sendo “Z” a página.
3
Utilizaremos a edição crítica dos Cadernos do Cárcere, organizada por Valentino Gerratana e publicada em
1975 na Itália. Citaremos da seguinte forma: Q. “X”, para o número do Caderno, § “Y”, para o parágrafo, e p.
“Z” para a página na referida edição. Os parágrafos tipo “A” se referem àqueles de primeira redação,
enquanto os “C” são os parágrafos de nova redação a partir de outros. Parágrafos tipo “B” são aqueles que
mantiveram uma redação única nos Cadernos.
4
Parágrafo tipo “A” que viria a compor o parágrafo oitavo (tipo “C”) do Caderno 11, escrito em 1932. Para
datação dos parágrafos dos Cadernos do Cárcere de Gramsci, ver Francioni (1984, p. 140-146).
2
orientar o que deveria ser um estudo monográfico sobre a filosofia de Benedetto Croce.5
Aqui, Gramsci apresentou seu interesse em estudar o período de 1912 a 1932, no qual, em
sua opinião, Croce teria desenvolvido uma completa "teoria ético-política da história" (Q.
10, §1, p. 1207). O argumento era de apreender o núcleo desta teoria da história que seria
elementar para entender a liderança assumida por Croce diante “das correntes revisionistas"
do marxismo na Europa e que, ao compreendê-la, seria possível explicar os diferentes
momentos da atividade intelectual do filósofo napolitano: em especial sua conversão, de
crítico radical, à liquidacionista político-ideológico do materialismo histórico (Ibidem, p.
1207).6 Em outras palavras, Gramsci estava interessado em conduzir um estudo capaz de
evidenciar que o desenvolvimento do pensamento crociano coincidira com uma concreta,
consciente e permanente iniciativa política com relação ao marxismo, e não o contrário.
Ainda que a teoria ético-política da história de Croce aparecesse melhor
desenvolvida e aprofundada em sua Teoria da história e da historiografia,7 publicada pela
primeira vez em 1915, em alemão, era preciso observar também os aspectos do
desenvolvimento intelectual do filósofo de Nápoles em relação à sua ambição por revisar o
materialismo histórico desde o final do século XIX, e que se convertera em rejeição
explícita deste depois de 1916, contexto da publicação desta obra na Itália (Q. 10, § 3, p.
1214). Croce havia originalmente concebido sua teoria da história como quarta parte de
sua Filosofia come scienza dello spirito, mais precisamente como um delineamento
específico da teoria da história e historiografia, concebida desde os tempos da Estetica,
publicada em 1901, e delineada a partir da Lógica, publicada em 1909 (CROCE, 1989, p. 9).
5
Foi nesse período que Gramsci mencionou pela segunda vez o termo “teoria da história” em suas cartas à
Tania, mais especificamente em 18 de abril de 1932. Nesta carta, Gramsci destacou a importância do
desenvolvimento da teoria da história por Croce nos últimos anos do século XIX, pois seus escritos
“conferiram as armas intelectuais aos dois principais movimentos “revisionistas” da época, o de Eduard
Bernstein na Alemanha, e o de Georges Sorel na França” (LC, p. 564).
6
Na carta, já citada, de 18 de abril de 1932 à Tania, Gramsci expôs de maneira mais detalhada esta ideia:
“Croce levou sua atividade revisionista além, especialmente durante a I Guerra e depois de 1917. A nova série
de ensaios sobre a teoria da história começou um pouco depois de 1910, com a memória Cronache, storie e
false storie e seguiu até os últimos capítulos da Storia della storiografia italiana nel secolo XIX, aos ensaios
sobre ciência política e às últimas manifestações literárias, entre elas a Storia dell’Europa, ao menos como
está nos capítulos que eu li. Me parece que Croce deve tudo a esta sua posição de leader do revisionismo e
que nisto ele entenda estar o melhor da sua atividade atual” (LC, p. 564).
7
Com essa afirmação não se pretende, evidentemente, esgotar a reflexão levada a cabo por Croce sobre a
teoria da história, ao longo de mais de 50 anos de atividade intelectual, a análise de uma única obra (cf.
interessantes comentários a respeito em DORSI, 1995, p. 9 e SS.) O que se quer é evidenciar aspectos de um
projeto consciente de investigação que nasce assumindo a história como centro de reflexão, por um lado, e o
marxismo como seu adversário teórico principal, por outro.
3
Em 1901, Croce falou de uma filosofia como unidade, “e, quando se trata de
Estética, de Lógica ou de Ética, se trata sempre de toda a filosofia, ainda que se ilumine,
por questões de conveniência didática, um determinado lado desta unidade incindível”
(CROCE, 1908, p. VIII). O filósofo tinha por objetivo apresentar as “partes da filosofia”
ressaltando, contudo, a unidade superior desta em relação às partes. Em outras palavras,
concebia seu método como aquele que “do esclarecimento da atividade estética [ou ética,
ou lógica] deve se esperar (...) a solução de alguns problemas filosóficos” (Ibidem, p. VIII).
Neste sentido, fazia sentido falar de uma “tentativa teórica” acompanhada de uma
“ilustração histórica”, que Croce materializava na divisão, em sua Estetica, entre a parte
teórica e a parte histórica.
Aparecia, aqui, a ideia de uma teoretica della storia, também chamada por Storica
(o Storiologia), que não se confundia com “ciência”, e sobre a qual Croce pretendia
evidenciar os enormes erros de entendimento suscitados pela influência do positivismo na
Itália. Para o filósofo:
o intelectualismo histórico fez com que emergissem muitas
pesquisas, nos dois últimos séculos, e que são feitas ainda hoje, a
respeito de uma filosofia da história, de uma história ideal, de uma
sociologia e de uma psicologia históricas, ou como variavelmente
se trate e intitule uma ciência, sobre a qual se prefigurou a tarefa de
extrair leis e conceitos universais da história (Ibidem, p. 47).8
Em seguida, colocava o problema: “porém, de que natureza devem ser estas leis,
estas universalidades? Leis históricas e conceitos históricos? Neste caso, basta uma crítica
elementar do conhecimento para esclarecer o caráter absurdo da proposta” (Ibidem, p. 47).
Para Croce a expressão “leis históricas” era uma contradição em termos, impossível
de ser pensada, assim como “quantidade qualitativa”. Isso por que a história significa
sempre concretude e individualidade, enquanto a lei e o conceito, por sua vez, significam
abstração e universalidade (Ibidem, p. 48). E sumarizava o lugar dos conceitos e leis entre
conceitos filosóficos (presentes em suas especificações Éticas, Lógicas, Estéticas); e
88
Croce não deixava de notar que as duas principais correntes historiográficas do século XIX, o romantismo e
o positivismo, cuja origem alemã e francesa conferira características muito diferentes e, sob muitos aspectos,
mesmo antagônicas, eram, ambas, reféns da aplicação na história do princípio metodológico das ciências
naturais da busca por “leis” (DORSI, 1995, p. 7). Seja a partir indivíduo, seja a partir da sociedade, Croce
buscava combater o uso da lógica causal para compreensão dos fenômenos humanos e, como veremos,
interpretou inicialmente ter encontrado em Marx um evidente e importante aliado para tal.
4
conceitos derivados da ciência empírica, tal como nas ciências naturais. Com isso, Croce
propunha a distinção radical entre filosofia e história, entre mundo conceitual e mundo
empírico, cuja unidade só poderia ser reconduzida sob a primazia primeira (Ibidem, p. 48).
Neste caso, a teoria da história teria por função aprofundar os aspectos desta relação de
unidade e distinção entre história e filosofia, entre vida concreta e autoconsciência desta
vida.
Ao contrário do que possa parecer à primeira leitura, o desenvolvimento da relação
entre filosofia e história no pensamento de Croce esteve intimamente vinculado às suas
reflexões sobre o marxismo, levadas a cabo desde a década de 1890 sob a influência de
Antonio Labriola. Esse fato não passou despercebido por Gramsci, 9 que investigou e
refletiu sobre o tema no cárcere. Um exemplo, ao qual Gramsci fez menção, diz respeito
aos comentários publicados por Croce na recém-lançada revista La Critica, em 1903, a
respeito do livro Marx e la sua dottrina, escrito pelo economista Achille Loria (1857-1943)
e publicado em 1902.
Loria era um economista e sociólogo positivista, que buscava a realização de uma
ciência econômica “objetiva, universal e positiva”. Era especialista no estudo do problema
da distribuição da riqueza e da propriedade da terra e, em polêmica com os economistas
marginalistas, Loria negara a centralidade da ação do indivíduo no equilíbrio do sistema
econômico para afirmar a centralidade da distribuição da renda. Com base nisso, realizara
uma interpretação do pensamento de Marx, especialmente da crítica deste à economia
política inglesa, para defender sua tese do marxismo como uma teoria evolucionista.
Croce, que já acompanhara com severas críticas as publicações de Loria desde os
anos 1890, reprovava o comportamento, ao mesmo tempo pouco rigoroso e excessivo em
suas manifestações emocionais, de Loria respeito de Marx, a quem o economista chamava
por “sempre incomparável Mestre” (LORIA, 1902, p. VIII; CROCE, 1903, p. 148). Croce
afirmava que Loria não criticara Marx usando razões científicas, não levara em conta aquilo
que os revisionistas mais sérios haviam percebido, ou seja, que
9
Gramsci notou que “Croce reconheceu que Marx colocara em relevo a importância histórica das invenções
técnicas (...) mas nunca quisera fazer do instrumento técnico a causa única e suprema do desenvolvimento
econômico”. Em suas leituras Croce percebera que, dada a relação de Marx com a filosofia hegeliana, não era
possível diminuir sua reflexão a uma tentativa de encontrar “uma causa última” (cf. Q. 4, §19). Em uma
resenha crítica sobre Sorel em 1907, na La Critica, Croce chamou Marx por “fiel aluno de Hegel” (CROCE,
1907, p. 317).
5
a teoria do valor de Marx é incapaz de ser fundamentada pela teoria
econômica apenas quando se subtrai da teoria subjetiva do valor
(...). [que] a lei marxista da queda tendencial da taxa de lucro se
revela errada se consideramos reservados às relações apenas os
conceitos de técnica e de economia (CROCE, 1903, p. 148).
Croce criticava o fato de Loria negligenciar em Marx a presença de uma orientação
subjetiva como componente da teoria do valor, o que o fazia considerar as relações sociais
apenas do ponto de vista técnico e econômico. Para o filósofo, a melhor crítica partiria, ao
contrário, do reconhecimento de um profundo desenvolvimento do elemento subjetivo no
marxismo, uma tentativa de realizar-se como “teoria materialista da história”, cuja falsidade
estaria no fato de que, “sendo um complexo de precisas observações empíricas”, este
jamais poderia “conferir a si mesma o ar de teoria absoluta e filosofia da história” (Ibidem,
p. 148). Em resumo, na opinião de Croce, o bom revisionista deveria apontar no marxismo
a ausência da vocação filosófica, apesar de reconhecer alguma vocação historiográfica. E o
filósofo concluía, com tom de escárnio, que Loria criticara Marx por este não ter sido
suficientemente absoluto e com isso opunha ao marxismo uma teoria sua evolucionista da
história, baseada sobre os tipos de propriedade agrária, que era, em absoluto, muito mais
raquítica que a teoria da história dos marxistas (Ibidem, p. 149).
Na Estetica, Croce afirmara o aspecto essencial do que poderia ser uma teoria
realmente original do elemento subjetivo das relações, sendo este definido a partir do
conceito de intuição, conceito cuja natureza seria independente do conhecimento de tipo
lógico e, de certa maneira, oposta a das “atividades do espírito”. Para Croce, este elemento
era imaginado como o nível ordinário da vida humana, no qual existe um mundo
gradativamente intuído, e que, com esmagadora frequência, se traduziria em algumas
poucas expressões, aquelas capazes de se desenvolver “num processo, maiores e mais
amplas, apenas com uma crescente concentração espiritual” (CROCE, 1908, p. 4). Assim,
Croce reconhecia que “cada um de nós é um pouco pintor, escultor, musicista, poeta,
prosador”;10 e afirmava, em seguida, que a baixa atividade intuitiva da maioria das pessoas
10
Em seu Breviario di Estetica, escrito em 1912, apareceu novamente a formulação presente na Estetica: “as
óbvias afirmações que, proposital ou acidentalmente, escutamos diariamente (...), tais como se apresentam a
este ou aquele indivíduo que não exerce a profissão de filósofo, mas que, como homem, é ele, em alguma
medida, filósofo” (CROCE, 2007, p. 16).
6
seria responsável pela conversão da intuição, conhecimento potencialmente expressivo, ou
científico, em mera “impressão”, “sensação”, “sentimento”, “impulso” (Ibidem, p. 5).
O elemento subjetivo das relações, portanto, não se caracterizava por uma distinção
natural, qualitativa ou de intensidade, entre os homens, tal como implícito no método
sociológico e psicológico. Croce caracterizava este elemento distintivo como quantitativo e,
portanto, descritivo e histórico (Ibidem, p. 6). Considerada a subjetividade como uma
“diferença de extensão”, Croce concluía que a história da filosofia precisaria ser tomada
como a história da atividade efetiva de um grupo social definido em determinado momento,
responsável por ter realizado expressivamente aquilo que é sempre, em alguma medida,
intuído por todos os grupos sociais. Em outras palavras, a história da filosofia deveria ser
investigada como história da filosofia dos filósofos.
Croce criticava as correntes positivistas, as quais chamava por “intelectualistas”, por
terem comprometido o esforço teórico em um nível de investigação meramente empírico,
consequência de buscarem na investigação “quantitativa” (em grande escala, tal como nas
ciências naturais) as possíveis causas das diferenças qualitativas entre os homens. A tarefa
teórica essencial, no entanto, deveria ser o desenvolvimento “qualitativo” da ciência que
poucos eram capazes de promover, a “ciência do espírito”, a única capaz de tornar-se índice
do elemento subjetivo das relações humanas em geral.
Para Croce a ciência do espírito, em toda sua história, fora e deveria continuar a ser
uma atividade específica de um grupo social; esta era necessária enquanto tal dada sua
função social diferenciada e seu caráter interno de rejeição ao mecanicismo da vida
moderna. Contrariamente ao que pensavam os filósofos positivistas, essa atividade não
poderia ter como “objeto” as multidões sociais, mas sim a tradição intelectual, restrita,
erudita, preferencialmente não nacional ou que pudesse ser “desnacionalizada”. Afinal,
como o próprio exemplo francês demonstrara, a democratização e nacionalização do objeto
do pensar haviam atrapalhado enormemente o desenvolvimento da filosofia e da crítica
artística na Europa. Da mesma forma, para realizar-se plenamente, a ciência da expressão
deveria ser vista como atividade restrita a um sujeito capaz de “distinguir-se”.
7
Em uma resenha publicada em também em 1903 na La Critica, sobre os Saggi di
critica del marxismo de Georges Sorel,11 Croce escreveu que “na obra de Marx existe uma
filosofia que é um conjunto de observações factuais e conselhos práticos (...). Qual das duas
[coisas] é digna de ser continuada?” (CROCE, 1903(b), p. 226-227). Essa era, afirmava
Croce, a melhor maneira de propor o problema do marxismo, como um problema de crítica
e continuação. Crítica “de todas as principais teorias de Marx” e reconhecimento “da sua
qualidade e eficácia do modo marxista de ver as condições e as lutas da sociedade” (Ibidem,
p. 227). Para Croce, a “filosofia não era a parte viva do marxismo” e tampouco deveria ser
reduzido a “fórmulas preconceituosas”.
Croce sabia que sua definição e caracterização do elemento subjetivo compunham
um momento fundamental de sua “marcha de destruição e correção” do marxismo, e
trabalhou neste tema por muitos anos. Para tal, o filósofo estabelecia uma distinção
importante entre a atividade do filósofo, do historiador e do político:
se o filósofo pode alcançar o verdadeiro no campo da pura ideia, se
o historiador pode alcançá-lo no passado, quem escreve sobre o
porvir eminente ou longínquo sobre a direção a tomar, não pode
nunca alcançar senão as aproximações e os sistemas provisórios
(Ibidem, p. 228).
Dado o universo caracterizado de dúvidas, restrições e observações sutis, próprio da
atividade do filósofo e do historiador, afirmava, os homens em busca da política tenderiam
a se impacientar com a filosofia e a história, e a buscar em uma única causa, em uma única
força, a explicação moral para a origem dos problemas.
Croce diferenciava a filosofia da história, mas, acima de tudo, buscava distanciar
ambas da política, bem como converter a dimensão intelectual desta em “moral”. Nos
primeiros anos de sua relação com o marxismo, Croce mediava proposição da distinção e
autonomia da atividade filosófica e histórica em relação ao “mundo ordinário”, com a
manutenção de uma visão política – que chegou a caracterizar por “liberalismo e
radicalismo democrático”12 – simpática à abertura do Estado italiano às massas populares,
11
Sorel, ao lado de Croce e de Eduard Bernstein, estavam entre os expoentes das correntes revisionistas da
Europa na virada do século XIX-XX. Tanto Bernstein, como Sorel, foram influenciados pelas ideias de Croce,
e isso foi um elemento que levou Gramsci a considerá-lo como “líder” dessas correntes (cf. ARFÉ, 1965).
12
Em 1902, Croce declarou que o contato com o marxismo “rendera o benefício de ter completado minha
cultura filosófica com o conhecimento de um lado muito importante da atividade prática do homem, que é o
8
processo que materializava especialmente no governo de Giovanni Gioliti (1842-1928), no
período entre 1901-1914.13
Antonio Gramsci
Entre julho e agosto de 1932, com a rubrica "Questões Gerais", Gramsci retomou na
prisão o problema tratado por Croce nos primeiros anos do século, e o fez da seguinte
forma: "como nasce o movimento histórico sobre a base da estrutura"? (Q. 11, §22, p.
1422).14 Para enfrentá-lo, Gramsci recuperou o Prefácio à Crítica da Economia Política,
escrito em 1859 por Karl Marx, no qual considerava estar contido o núcleo do qual seria
possível partir para o desenvolvimento do marxismo como “teoria da história",
especialmente nesta passagem: "a humanidade se propõe sempre aquelas tarefas que é
capaz de resolver...; a tarefa mesma surge apenas onde as condições materiais para a sua
resolução já existem ou ao menos estão em vias de surgir" (Ibidem, p. 1422).
A retomada do Prefácio de 1859 não era ocasional, e Gramsci sabia que Croce
conhecia o texto e que havia se servido dele algumas vezes.15 Sabia que o filósofo usara
para escrever Materialismo Storico ed Economia Marxistica: saggi critici (1900), sua
primeira e principal tentativa direta de revisão do marxismo. Gramsci mencionou, ainda, a
resenha de 1903, na La Critica, em que Croce criticara a identidade estabelecida por Loria
entre a expressão marxiana “forças materiais de produção” e o termo “instrumento técnico”,
e via nesta uma expressão do esforço do filósofo napolitano em interpretar do Prefácio.16
lado econômico; e de ter formado em mim uma convicção política que, de uma plena persuasão das teses e
previsões de Marx, se converteu em um liberalismo e radicalismo democrático” (apud GARIN, 1974, p. 10n).
13
De cujo governo Croce chegou a ser Ministro da Instrução Pública, em 1920.
14
Este parágrafo do Caderno 11 (Q.11, §22, p. 1422) é de tipo “C” e foi reescrito a partir de vários parágrafos
“A” do Caderno 7, escritos entre agosto e outubro de 1931 (Q.7, §§ 49-59, p. 1473ss.). É interessante notar
que a passagem de Marx traduzida no Caderno 11 em 1932 não consta textualmente nos parágrafos do
Caderno 7. Apesar disso, esse conjunto de parágrafos é essencial para entender o que Gramsci subentendeu
quando realizou esta tradução, ou seja, que consistia sua interpretação da relação estabelecida por Marx entre
estrutura e superestrutura; como o desenvolvimento desta era fundamental para afirmar a filosofia da práxis
como “a única que fora capaz de levar adiante o pensamento” a partir da filosofia alemã, mas “historicizando
o pensamento na medida em que o concebe como concepção de mundo”, ou seja, como difuso “de maneira a
tornar-se uma norma ativa de conduta” (Q. 7, §59, p. 1486).
15
Ver parágrafo 19 do Caderno 4, escrito entre maio e agosto de 1930 (Q.4, §19, p. 440, parágrafo tipo “A”)
e reescrito posteriormente no Caderno 11.
16
Gramsci observou, ainda, que Croce utilizara explicitamente uma passagem do Prefácio para opor-se
também à interpretação errônea feita por Loria a respeito da teoria de Marx no livro La terra e il sistema
sociale, publicado em 1892.
9
Esses eram exemplos bastante significativos e suficientes, embora Gramsci
acreditasse ser possível descobrir outros tantos e relevantes momentos em que o marxismo
apareceu como adversário sob a pena de Croce. Por isso, é preciso retornar ao Prefácio. Em
um longo parágrafo escrito na prisão em outubro de 1930,17 Gramsci se referiu à “famosa
passagem” do Prefácio, “onde se diz que os homens ‘se tornam conscientes’ do conflito
entre forma e conteúdo do mundo produtivo no terreno das ideologias”. Esta passagem
Gramsci considerava importante para reforçar sua tese de que o materialismo histórico era
muito mais difundido do que parecia, mas que, apesar disso, esta difusão se dera muito
mais em uma orientação loriana do que marxiana (Ibidem, p. 1422). A interpretação loriana
se difundira justamente por que se baseara em um erro de método muito comum aos
intelectuais, e que era o de “não saber distinguir na análise das situações econômicas e das
estruturas sociais, aquilo que é ‘relativamente permanente’ daquilo que é ‘flutuação
ocasional”. Ao invés de materialismo histórico, o que se difundira fora uma espécie de
“economicismo histórico”.
Para Gramsci, a capacidade de distinguir entre o relativamente permanente e a
flutuação ocasional no plano analítico era nada menos que a novidade do marxismo. Essa
interpretação se expressou de forma mais contundente em 1932, no Caderno 11, quando
Gramsci deu novo tratamento ao parágrafo escrito em 1930 e expôs o problema como a
“questão da objetividade do conhecimento” no marxismo:
A questão da ‘objetividade’ do conhecimento segundo a filosofia da
práxis pode ser elaborada partindo da proposição (contida no
Prefácio à Crítica da Economia Política) de que ‘os homens se
tornam conscientes (do conflito entre as forças materiais de
produção) no terreno ideológico’ das formas jurídicas, políticas,
religiosas, artísticas, filosóficas. Mas essa consciência é limitada ao
conflito ente forças materiais de produção e as relações de
produção – conforme a letra do texto – ou se refere a cada
conhecimento consciente? Este é o ponto que é preciso elaborar e
que pode sê-lo por meio de todo o conjunto da doutrina filosófica
do valor das superestruturas” (Q.11, §64, p. 1492. Grifos meus).18
17
No Caderno 4 (Q.4, §38, p. 462), um parágrafo tipo “A”, que seria reescrito em um parágrafo “C” (Q.11,
§64, p. 1492) no segundo semestre de 1932.
18
No Caderno 13, dedicado a Nicolau Machiavelli, Gramsci retomou esta passagem em um parágrafo tipo “C”
intitulado “Alguns aspectos teóricos e práticos do ‘economicismo’” (Q.13, §18, p. 1592): “É preciso ter em
mente a afirmação de Engels de que a economia ‘só em última análise’ é a mola da história (...) que deve ser
vinculada diretamente à passagem do Prefácio (...) onde se diz que os homens se tornam conscientes dos
conflitos que se verificam no mundo econômico no terreno das ideologias”.
10
A característica central da predominante concepção positivista da história era
justamente a incapacidade de oferecer um tratamento adequado para a relação entre os
pólos do problema histórico. E isso para Gramsci se tornava evidente quando, a partir da
perspectiva positivista, se buscava apresentar a perspectiva marxista:
a dialética é pressuposta muito superficialmente, não é exposta (...).
A ausência de um tratamento da dialética pode ter duas origens: a
primeira pode ser explicada pelo fato de que se pressupõe a cisão da
filosofia da práxis em duas: uma teoria da história e da política
concebida como sociologia, ou seja, constituída de acordo com os
métodos das ciências naturais (...). A segunda origem parece ser de
caráter psicológico. Se considera a dialética como algo muito árduo
e difícil, na medida em que pensar dialeticamente vai de encontro
ao senso comum vulgar, que é dogmático (...) (Q.11, § 22, p. 14241426). 19
Para Gramsci, separada da história e da política, a filosofia não poderia ser, senão,
metafísica, enquanto que a maior conquista do pensamento moderno, representada pela
filosofia da práxis, era justamente sua capacidade de historicização concreta da filosofia, de
sua identificação com a história (Q.11, §22, p. 1426). Gramsci criticava a falta de
orientação historicista que levava muitos intelectuais a uma forma ingênua de metafísica
na tentativa de construir uma “sociologia marxista”. Como “sociologia”, o materialismo
histórico era incapaz de superar a sociologia tradicional como concepção de mundo – isto é,
tornar-se “metodologia histórica” (KANOUSSI, 2007, p.84).
A reflexão gramsciana sobre a teoria da história no marxismo adquiriu, portanto, ao
mesmo tempo, um forte conteúdo crítico em relação ao mecanicismo e o economicismo
característico de muitos intelectuais da época.20 Em uma carta escrita em 02 de maio de
1932 à cunhada Tania, Grasmci expôs a questão que pretendia enfrentar: “Em que consiste
a inovação realizada por Croce, possui esta aquele significado que ele próprio atribui e,
especialmente, possui esta qualidade ‘liquidacionista’ que ele pretende?” (LC, p. 570). Em
19
A referência de Gramsci, neste parágrafo, é o Ensaio Popular de Bukharin. É interessante notar o
componente político atribuído à dificuldade de oferecer um tratamento adequado ao tema da dialética no
marxismo, qual seja a atitude teoricamente subalterna característica dos intelectuais marxistas em relação à
tradição científica burguesa, que os induzia a tratar o marxismo com as ferramentas teóricas já cristalizadas no
senso comum.
20
Foi com esse intuito que, em seus Cadernos, Gramsci retomou criticamente o Ensaio Popular de
Sociologia Marxista de Nikolai Bukharin, especialmente no Caderno 11.
11
sua polêmica com Croce, Gramsci assumiu como um princípio a identificação crociana
entre filosofia e história. No entanto, foi além desta para conceber essa identidade também
entre história e política e, portanto, entre política e filosofia (KANOUSSI, 2007, p.25).
Nesse sentido, em um parágrafo intitulado Como estudar a história?, escrito em fevereiro
de 1933 no Caderno 14, o marxista sardo afirmou que a necessidade do conhecimento de
todo um processo histórico era intimamente vinculada à necessidade de “dar conta do
presente”, ou seja, de conferir certa verossimilhança às previsões políticas do presente e,
assim, concretizá-las (Q. 14, § 63, p. 1723).
Após distinguir aquilo que é social ou “histórico” de uma determinada filosofia, que
corresponde a uma exigência da vida prática, é possível observar ainda um “resíduo” que
não pode ser explicado pelo contexto social. É fato, para Gramsci, que uma exigência
histórica seja concebida por um filósofo “individuo” de modo pessoal, e que a
personalidade particular do filósofo incida profundamente sobre a forma concreta e
expressiva de sua filosofia e a importância dessa individualidade é inegável (Ibidem,
p.1272-1273). O significado dessa importância, contudo, não é puramente instrumental ou
funcional, dado que se é verdadeiro que a filosofia não se desenvolve de outra filosofia,
mas é uma solução contínua dos problemas que o desenvolvimento histórico propõe, é
também verdadeiro que o filósofo não pode negligenciar os filósofos que o tenham
precedido, mas, ao contrário, operem propriamente como se sua filosofia fosse uma
polêmica ou um desenvolvimento das filosofias precedentes, das obras individuais
concretas das filosofias precedentes (Ibidem, p.1273). Para enfrentar a cisão, realizada por
Croce, entre filosofia e política, entre passado e presente, Gramsci realizou a defesa do
historicismo absoluto como método próprio da filosofia da práxis, vista como permanente
edificação de uma nova concepção de mundo capaz de que compreender a “mundanização”
e a “terrenalidade” absoluta do pensamento, isto é, realizar um humanismo absoluto da
história (Q. 11, §27, p.1437).
Esta reflexão madura de 1933 foi consequência do esforço do marxista sardo em
fixar nos Cadernos a teoria da história a partir da mudança e não na permanência dos fatos,
e essa ideia, desde suas primeiras reflexões, aparecia como um eixo indispensável a partir
dos quais seria necessário partir para "tratar sistematicamente o materialismo histórico", ao
12
lado da teoria da política e da teoria da economia (Q. 4, §39, p. 465).21 Contra o pressuposto
crociano do papel submisso da história em relação à filosofia, do agir em relação ao pensar,
Gramsci afirmou que nenhum "esquema geral", teórico, não poderia deixar de assumir
"forma vivente", ou seja, como teoria da história, o materialismo histórico deveria ser
considerado em uma relação orgânica com a política (Ibidem, p. 465).
O movimento duplo e concomitante de crítica ao marxismo concebido como
materialismo vulgar e ao revisionismo neoidealista foi de fundamental importância para a
construção de uma teoria da história por Gramsci. A reflexão a respeito desse tema foi
sintetizada em forma de um programa geral de pesquisa no pequeno e tardio Caderno 25,
intitulado Às margens da história. História dos grupos sociais subalternos. Escrito em
1934, esse Caderno possui oito parágrafos, apenas, sendo todos do tipo "C", reescritos
principalmente a partir dos Cadernos 1 e 3, ou seja, recupera os escritos do período das
primeiras reflexões sobre o tema da teoria da história e historiografia.
Subaltern Studies: atualidade da historiografia Gramsciana?
O método engendrado nos Cadernos do Cárcere, fundido à experiência dramática
vivenciada pelo seu autor, provê um modo de entender a história por meio de uma singular
e constitutiva capacidade de adaptação e tradução. Esta prática de "tradução das linguagens
científicas" realizada por Gramsci, por sua vez, abre caminho para, a partir de suas noções,
analisar situações muito diversas das quais o marxista sardo conheceu e viveu (BARATTA,
2009, p.17). Inspirados neste caminho, um grupo de intelectuais indianos desenvolveram os
chamados Subaltern Studies. Influenciados pelo pensamento gramsciano, entre outras
fontes teóricas, buscaram fundar uma nova historiografia própria às classes e aos grupos
subalternos indianos.
O projeto subalternista interveio no debate acerca da história moderna na Índia no
início dos anos 1980, sob liderança do historiador Ranajit Guha, que exerceu papel
fundamental e de destaque no grupo, tendo editado as seis primeiras coletâneas dos
Subaltern Studies, de 1982 à 1989. O projeto subalternista surgiu num debate, no qual dois
temas principais merecem atenção: o nacionalismo e o colonialismo. Esse debate
21
Parágrafo tardio de tipo "A", escrito no segundo semestre de 1932, que também seria reaproveitado no
Caderno 11.
13
perpassava dois extremos: de um lado, os que argumentavam ser o “nacionalismo” próprio
de uma pequena elite, erigida nas instituições educacionais criadas pelo governo britânico
na Índia. Essa interpretação colocava em primeiro plano uma visão estreita daquilo que
constituía o “interesse” político e econômico dos atores históricos, negligenciando, assim, o
papel das ideias e do “idealismo” na história. No outro extremo, numa vertente marxista de
tipo próximo ao “determinismo”, a história indiana do período colonial era vista como uma
épica batalha entre as forças do colonialismo e as do nacionalismo, sendo o primeiro uma
força regressiva que distorcia todos os desenvolvimentos da sociedade e da política indiana,
enquanto o segundo era uma “força regenerativa”, antítese do colonialismo, que unificava e
produzia um “povo indiano” mobilizado contra a Inglaterra (CHAKRABARTY, 2000,
p.10-11).
O coletivo de intelectuais que constituiu os chamados Subaltern Studies pretendia
fazer uma crítica radical à essas interpretações da história indiana, estabelecidas como
“elitistas” do tipo colonialista e nacionalista-burguês (GUHA, 1982, p.1). As duas eram
originadas de um produto ideológico do regimento britânico na Índia, que permaneceu
mesmo após a transferência de poder, sendo assimilados como discursos neocolonialistas e
neonacionalistas, na Inglaterra e na Índia respectivamente. Essas duas variedades do
elitismo partilhavam da mesma discriminação que informou este processo, do qual o
empreendimento foi exclusivamente ou predominantemente da elite, ao reduzir a nação
indiana e sua consciência ao nacionalismo (Ibidem, p. 1).
Baseados inicialmente nos critérios metodológicos propostos por Gramsci no
Caderno 25, o projeto dos Subaltern Studies adotou o paradigma de una história “que vem
de baixo” para contestar a história das “elites”, de viés nacionalista, escrita até então pelos
historiadores indianos. É interessante notar que já em fins da década de 1950, num período
em que a maioria dos marxistas ocidentais não estava ainda familiarizada com Gramsci, o
intelectual indiano Susobahn Sarkar, historiador de Bengali, já havia promovido a primeira
recepção da obra gramsciana na Índia. O interesse de Sarkar por Gramsci persistiu na
década seguinte, tendo publicado The thought of Gramsci em 1968, o que gerou um
pequeno público literato sobre Gramsci na Índia (CHATUVERDI, 2000, p.viii)
É importante destacar, bem como, que as décadas de 1980 e 1990 coincidem com
uma ampla difusão dos escritos carcerários de Gramsci fora da Itália. Os Subaltern Studies
14
reunidos inicialmente sob a influência do pensamento gramsciano chamaram a atenção, ao
longo destas décadas, para as especificidades históricas da sociedade indiana, enfatizando o
papel primordial dos laços comunitários, religiosos e culturais na formação de classes
sociais na Índia. Para tal, lançaram mão do reconhecimento da ausência de representação
do conceito gramsciano de subalterno no âmbito da historiografia. Gramsci havia realizado,
solitariamente, esta tarefa de construção conceitual, tomando como base as relações entre
Sul agrário e Norte industrializado, camponeses e trabalhadores, na Itália e como estas se
vinculavam ao universo dos costumes, das crenças, da religião e da política (RODRÍGUEZ,
2001, p.3).
A questão da adaptabilidade e tradutibilidade do pensamento gramsciano vem à
tona através da reflexão dos Subaltern Studies. O método gramsciano pode ser visto como
fundido em seu próprio pensamento. A especificidade desse “método-pensamento” está na
inseparabilidade entre o esforço de construir conceitos ou teorias gerais, e a contingência
histórica e geográfica nas quais seus conceitos e sua teoria nasceram e prosperaram. A
internacionalização da Questão Meridional, suscitada por Gramsci, avança na
argumentação de Derek Boothman (2004) em uma hipótese que pretende alcançar um novo
modelo de análise, partindo das considerações desenvolvidas no Caderno 19 que trata do
Risorgimento italiano, e mais especificamente sobre a articulação da “força urbana” e da
“força rural” entre o Norte o Sul da Itália, só que agora aplicado a um contexto mais amplo
e diversificado. A internacionalização se move, nesse caso, sobre duas empreitadas
aparentemente opostas, mas que se complementam. A primeira trata da história dos Estados
subalternos, que só se explicaria a partir da história dos Estados hegemônicos. A segunda,
por outro lado, consiste no fato de que “as forças do progresso” não deveriam ser
procuradas necessariamente “ao nível do Império”. Sendo proveniente da Sardegna, afirma
Boothman (2004) que Gramsci sabia bem que um povo oprimido pode alcançar a libertação
apenas com as suas próprias forças.
A tradutibilidade, para o marxista italiano, pressupõe que uma determinada fase da
civilização tenha uma expressão cultural “fundamentalmente” idêntica, mesmo que a
linguagem seja historicamente diversa determinada pela tradição particular de cada cultura
nacional e de cada sistema filosófico. Deve-se observar se a tradutibilidade é possível entre
expressões de diferentes fases de civilização, na medida em que estas fases são momentos
15
de desenvolvimento uma da outra e, portanto, integram-se reciprocamente; ou se uma
expressão determinada pode ser traduzida em termos de uma fase anterior de uma mesma
civilização, fase essa que, no entanto, é mais compreensível do que a linguagem dada.
Gramsci afirma ainda que só na filosofia da práxis a “tradução” é orgânica e profunda
(Q.11, §47, p.1468).
Destaca-se, nesse sentido, a tradução do conceito de subalterno para o contexto
indiano e a apropriação de Gramsci pelos Subaltern Studies no que concerne um projeto
historiográfico que possua nos grupos subalternos seu núcleo essencial, e nas noções de
subalternidade e hegemonia fontes fundamentais para sua força argumentativa. Tal
apropriação pode ser pensada a partir da interessante consideração dinâmica da hegemonia
como uma “particular condição de domínio”, desenvolvida por Guha. O modelo indiano
demonstra, assim, uma capacidade de “adaptação” a situações diversas e distantes, e se
coloca, nesse aspecto, de forma harmoniosa à obra do marxista sardo.
Nessa análise, o ponto chave, como ressalta Baratta (2009), encontra-se no destaque
de uma linha de substancial continuidade – nos confrontos dos subalternos na Índia – do
Estado colonial ao Estado nacional liberal. Nesse sentido, a “figura-chave” que representa o
elemento decisivo de continuidade entre o velho e o novo no mundo dos subordinados
consiste na figura do “camponês”. Mais que um contorno social definido, entende-se com
essa expressão uma metáfora, ligada aos movimentos e transformações demográficas que
estão em constante mudança ao redor do mundo, introduzindo elementos aparentemente
residuais e anacrônicos, mas que podem ser, ao contrário, decididamente inovadores e
progressivos, em pleno coração do capitalismo (BARATTA, 2009, p.20).
Guha insistiu que os camponeses eram contemporâneos ao colonialismo e parte
fundamental do governo colonial estabelecido na Índia, em oposição à ideia mais comum,
de que seriam “anacrônicos” à modernização do mundo colonial. A separação realizada por
Guha entre o domínio da elite e o domínio do subalterno teve implicações radicais para a
teoria social e a historiografia. A tendência mais comum à historiografia marxista global até
os anos 1970 era a de olhar para as revoltas campesinas como movimentos que
desvendavam uma “consciência atrasada” – isso é, uma consciência que não tinha chegado
aos termos da lógica institucional da modernidade ou do capitalismo (CHAKRABARTY,
2000, p.13). Guha sugeriu, de modo oposto, imbuído da crítica ao determinismo e ao
16
neoidealismo realizada por Gramsci, que a natureza da ação coletiva contra a exploração
na Índia colonial se deu de forma tal que foi necessário estender os limites imaginários da
categoria “político” para muito além dos territórios demarcados pelo pensamento político
europeu – era necessário historicizar a análise desse processo. Ao considerar o movimento
campesino como “pré-político”, e ao ignorá-lo, segundo a visão de Guha, só se poderia
gerar história de um ponto de vista elitista. Nessa iniciativa, Gramsci possui um papel
central.
Os esforços dos “subalternistas” partiram especialmente das duas observações
fundamentais do raciocínio gramsciano, esboçadas no primeiro dos parágrafos
metodológicos do Caderno 25: 1) "a história das classes subalternas é necessariamente
desagregada e episódica"; 2) "há na atividade dessas classes uma tendência à unificação,
ainda que em planos provisórios, mas essa é a parte menos visível e que se demonstra
somente com a obtenção da vitória" (Q.25, §2, p.2283).
Gramsci havia registrado, ainda, em um segundo parágrafo metodológico, que: "a
unidade histórica das classes dirigentes se realiza no Estado e a história dessas é
essencialmente a história dos Estados e dos grupos de Estados. (...) a unidade histórica
fundamental é (...) o resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e
'sociedade civil'" (Q.25, §5, p. 2287-2288). Confluentemente, os Subaltern Studies
buscaram uma abordagem com vistas à afirmação na história da relação orgânica entre
sociedade política e sociedade civil. A crítica endereçava-se, justamente, à historiografia
elitista por atribuir uma divisão tricotômica da estrutura moderna política: o Estado, a
sociedade civil, e a família (burguesa) (CHAKRABARTY, 1999, p.15). Além disso, em
seu projeto inicial, no Subaltern Studies I, de 1982, aparecia a preocupação central do
grupo promover um estudo da política indiana a partir de uma perspectiva de classe, como
meio de refutar a interpretação elitista que afirmava o domínio político como unificado e
homogêneo.
O principal objetivo dos subalternistas indianos consistia numa tentativa de desfazer
os efeitos de tal suposta unificação do domínio da política, por meio de um modo
alternativo de organização da história em diversos temas – tendo a divisão estrutural da
política como sua preocupação central. A noção de “subalterno” adquiriu importância
central e apresentou no trabalho dos Subaltern Studies tanto conotações políticas, quanto
17
intelectuais. A questão era conceitualizar todo um aspecto da história humana como história
– como um movimento que flui a partir de uma oposição entre duas distintas forças, isto é,
a luta de classes. Negar a autonomia dos subalternos seria petrificar esse aspecto do
processo histórico, reduzi-lo para a imobilidade, ou ainda, destruir sua história – e isso é o
que fez a historiografia da Índia até então (CHATTERJEE, 1983 p.59).
Cabe destacar, ainda, a apropriação realizada pelos indianos da reflexão de Gramsci
sobre a relação entre força e consenso, numa proposta metodológica unificada para a
análise do Estado. Com base nisso, Guha (1997), por exemplo, argumentou que a política
colonial da Índia nunca foi nada menos do que uma articulação mútua de "dois domínios
autônomos em interação". Considerando isso, o estudo do colonialismo abria um campo de
estudos que levaria em consideração as múltiplas diversidades, no âmbito da resistência e
também na do consenso, que estão além da extrema simplificação das quais lidaram a
interpretação elitista de tipo nacionalista.
Outro aspecto saliente seria a definição do Estado colonial como uma “dominância
sem hegemonia”. A noção de hegemonia se estabelece no argumento de Guha como uma
“condição de domínio” de tal forma que, em uma posição orgânica de composição de
domínio, a persuasão sobrepõe-se à coerção. Esse conceito definido em tais termos se torna
dinâmico e conserva, inclusive, a mais persuasiva estrutura do domínio, sempre e
necessariamente aberto à resistência. Ao mesmo tempo, esquiva-se à justaposição
gramsciana de domínio e hegemonia (GUHA, 1997, p.23).
O conceito introduzido por Guha de “domínio sem hegemonia” se tornou
importante no panorama mundial por definir a articulação da categoria de subalterno. O
ponto de vista monístico da política indiana possuiu vantagem para o discurso da elite ao
permitir que a elite se comprometesse com a simples noção de que o estado colonial era
genericamente o mesmo que o estado metropolitano posterior a esse. Questiona-se, deste
modo, “como pôde um estado constituído de cidadãos ser dito como fundamentalmente
indiferente a um estado colonial sem cidadania?” O que tornou possível sustentar o
discurso colonial e evitar tal questionamento foi a suposição de que o regulamento colonial
do sul asiático era baseado no consentimento, tanto quanto o regulamento da burguesia
metropolitana em um soberano país ocidental é baseado no consentimento de seus
“cidadãos”. Um importante aspecto dos Subaltern Studies foi o de submeter a essa
18
hegemônica conjectura, através de inúmeras formas polêmicas de exposição, uma crítica
radical:
Longe de ser abençoado com a concordância e a cooperação
daqueles pelos quais isso foi imposto por subjugação, o pesadelo
chamado de Raj foi um domínio sem hegemonia, que é, um
domínio no qual o movimento da persuasão excede em peso á
coerção, sem, no entanto, eliminá-la completamente (GUHA, 1999,
p.xvii).
Ao fixar a unidade orgânica entre a coerção e o consenso, Gramsci utilizou a
imagem do Centauro como forma de representação da vida estatal, “nessa concepção
unitária, que era de Maquiavel, não apenas a coerção que não pode existir sem o consenso.
Também o consenso não pode existir sem a coerção” (BIANCHI, 2008, p.190). O Estado
para Gramsci é um processo que se situa em um dado momento da relação de forças.
Dessa forma, é marcado pela presença de ambos os elementos que mantêm entre si uma
relação tensa de distinção, sem que cada um deles chegue a anular seu par no processo
histórico; pelo contrário, cada um molda e até mesmo reforça o outro.
A reivindicação declarada dos Subaltern Studies era a de produzir análises históricas
nas quais os grupos subalternos fossem vistos como sujeitos da história. Ao usar povo e
classes subalternas como sinônimos, e definindo ambos como “a diferença demográfica
entre o total da população indiana” e o nativo dominante e a elite estrangeira, Guha
reivindicou que havia na Índia colonial, um domínio “autônomo” da “política do povo” que
estava organizada de modo diferente do domínio da política da elite.
As duas formulações de Guha, que tanto o nacionalismo quanto o colonialismo
tinham o objetivo de instituir na Índia um governo a serviço do capital, no qual as
ideologias burguesas exerceriam um “domínio sem hegemonia”, e que as formas de poder
resultantes não poderiam ser qualificadas como “pré-políticas”, teve implicações radicais
para a teoria social e a historiografia, pois abriu o cenário movimentado em torno da
persuasão como veículo de possível resistência, ao contrário da mera subordinação e
coerção. Isso serviu como um pretexto teórico para a fabricação do “absurdo” de uma ideia
de “Estado sem coerção”, contrário ao impulso fundamental de Gramsci em seu próprio
trabalho (GUHA, 1997, p.23).
19
Os subaltenistas indianos reuniram uma série de influências intelectuais, dentre as
quais as noções de subalternidade e de hegemonia enquanto categorias analíticas no projeto
desta corrente ganharam destaque, em inícios dos anos 1980. No entanto, é preciso destacar
que a apropriação da noção de subalterno, primeiramente incitada por Guha e seguida de
outros intelectuais indianos no âmbito do grupo dos Subaltern Studies, se dá de modo
específico e se distancia daquela elaborada por Gramsci, particularmente em seus escritos
carcerários. Uma possível interpretação da noção particular de subalternidade elaborada
pelos intelectuais indianos pode ser elucidada quando vistos como próximos à Croce, antes
do que à Gramsci. A chave dessa visão, suscitada por Peter Gran (2004), está em situá-los
no âmbito do cosmopolitismo – isso explica, bem como, o percurso destes intelectuais que
passaram a situar-se fora da Índia, encontrando seu espaço em um mundo acadêmico
estrangeiro.
Guha, no primeiro volume da série dos Subaltern Studies explicitou que subalterno
seria entendido com o sentido de “nível inferior”, isto é, “em termos de classe, casta,
geração, gênero e ofício ou de qualquer outra forma” (GUHA, 1882, p.vii). Embora admita
que só é possível entender a subordinação como constitutiva de uma relação binária de
domínio, o subalterno neste sentido ampliado é estabelecido enquanto ponto de partida, de
inspiração para a busca de seu “direito”, de sua “representação” na história. Gramsci, por
outro lado, ao imergir no mundo subalterno e em especial no mundo camponês, enquanto
preocupação fundamental no que concernia a Questão Meridional italiana, tinha vistas a
condição emancipatória e insurrecional desse grupo, enquanto parte constitutiva de uma
relação de dominação propriamente capitalista – ou seja, o camponês, assim como
suscitado por Guha, era um grupo inserido no âmbito do “político”, mas Gramsci foi além
ao propor a construção de uma nova hegemonia, das classes subalternas, na qual o
proletariado deveria dirigir os demais grupos subalternos. Isto é, apesar de suas inúmeras
reservas quanto ao “escrever história”, o que Guha e Croce fizeram foi, de fato, “escrever
história”.
Trata-se, justamente, da identificação gramsciana entre história, filosofia e política –
os subalternistas, assim como Croce, avançam na primeira identificação mas permanecem
distintos à elaboração gramsciana que pressupõe “se o político é historiador (no sentido de
que não só faz a história, mas agindo no presente interpreta o passado), o historiador
20
também é político, e neste sentido, história é sempre história contemporânea, isto é, política”
(Q.10, §2, p.1242).
Referências Bibliográficas
BADALONI, Nicola. Conteúdos Gramsci, para além de sua época e de seu país. In:
COUTINHO, Carlos N.; NOGUEIRA, Marco A. (orgs.). Gramsci e a
América
Latina.
Rio se Janeiro: Paz e Terra, 1985.
BARATTA, Giorgio. Prefazione. In: SCHIRRU, Giancarlo. Gramsci, le culture e il mondo.
Roma: Viella, 2009.
BURGIO, Alberto. Gramsci storico. Una lettura dei "Quaderni del carcere". Roma-Bari:
Laterza, 2003.
CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artífice of History: Who Speaks for
“Indian” Pasts?. In: GUHA, Ranajit (ed.). A subaltern studies reader 1986-1995.
Minneapolis: Univ. of Minnesota, 1999.
______________. Subaltern Studies and Postcolonial Historiography. Nepantla:Views
from South, 2000.
CHATERJEE, Partha. More on Modes of Power and the Peasantry. In: GUHA, Ranajit, ed.
Subaltern Studies II: Writings on South Asian History and Society New Delhi: Oxford
University Press India, 1983.
CROCE, Benedetto. Materialismo storico ed economia marxistica. Bari: Laterza, 1927
[1900].
_______. Achille Loria – Marx e la sua dottrina. La Critica. Rivista de Letteratura, Storia e
Filosofia, n.1, 1903.
_______. Giorgio Sorel – Saggi di critica del marxismo. La Critica. Rivista de Letteratura,
Storia e Filosofia, n.1, 1903(b).
_______. Varietá. Cristianesimo, socialismo e metodo storico. La Critica. Rivista de
Letteratura, Storia e Filosofia, n. 5, 1907.
_______. Filosofia come scienza dello spirito. I. Estetica: come scienza dell’espressione e
linguistica generale. Bari: Laterza, 1908.
_______. Breviario di estetica: aesthetica in nuce. Milano, Adelphi, 2007 [1912].
21
_______. Filosofia, poesia, storia. Milano/Napoli: Riccardo Ricciardi, 1952.
_______. Storia d’Itália: dal 1871 al 1915. Bari: Laterza. 1962.
_______. Cultura e vita morale: intermezzi polemici. Napoli: Bibliopolis, 1993.
_______. La poesia. Milano: Adelphi Edizioni, 1994.
FRANCIONI, Gianni. L’Officina Gramsciana. Napoli: Bibliopolis, 1984.
FROSINI, Fabio, La religione dell’uomo moderno. Politica e verità nei Quaderni del
carcere di Antonio Gramsci, Roma, Carocci, 2010.
GUHA, Ranajit, ed. New Delhi: Oxford University Press India, 1983
_______. A rule of property for Bengal: an essay on the idea of permanent settlement.
Paris: Mouton & Co., 1963.
_______. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Delhi: Oxford
University Press, 1983.
_______. Dominance without hegemony: history and power in colonial India. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1997.
GRAMSCI, Antonio. Quaderni del Carcere; Turim: Einaudi, 1975. 4v.
_________. Lettere dal Carcere. Torino: G. Einaudi, 1973.
GRAN, Peter. Subaltern Studies, Racism and Class Struggle: examples from India and the
United States. International Gramsci Society, janeiro 2004.
KANOUSSI, Dora. Los Cuadernos filosoficos de Antonio Gramsci: de Bujarin a
Maquiavelo. Ciudad de Mexico: Plaza y Valdés, 2007.
LIGUORI, Guido. Gramsci storico. L'Ernesto, no.3, 2003.
LORIA, Achille. La Terra e il Sistema Sociale. Verona: Drucker, 1892.
______. Marx e la sua dottrina. Milano, Palermo, Napoli: Remo Sandron, 1902.
MORERA, Esteve. Gramsci’s Historicism. A Realistic Interpretation. Londres, Routledge,
1990.
RODRÍGUEZ, Ileana. Reading Subalterns Across Texts, Disciplines, and Theories: From
Representation to Recognition. In: RODRÍGUEZ, Ileana (ed.). The Latin American
Subaltern Studies Reader. Durham e Londres: Duke University Press, 2001.
VACCA, Giuseppe. Prefazione. In: SCHIRRU, Giancarlo. Gramsci, le culture e il mondo.
Roma: Viella, 2009.
22