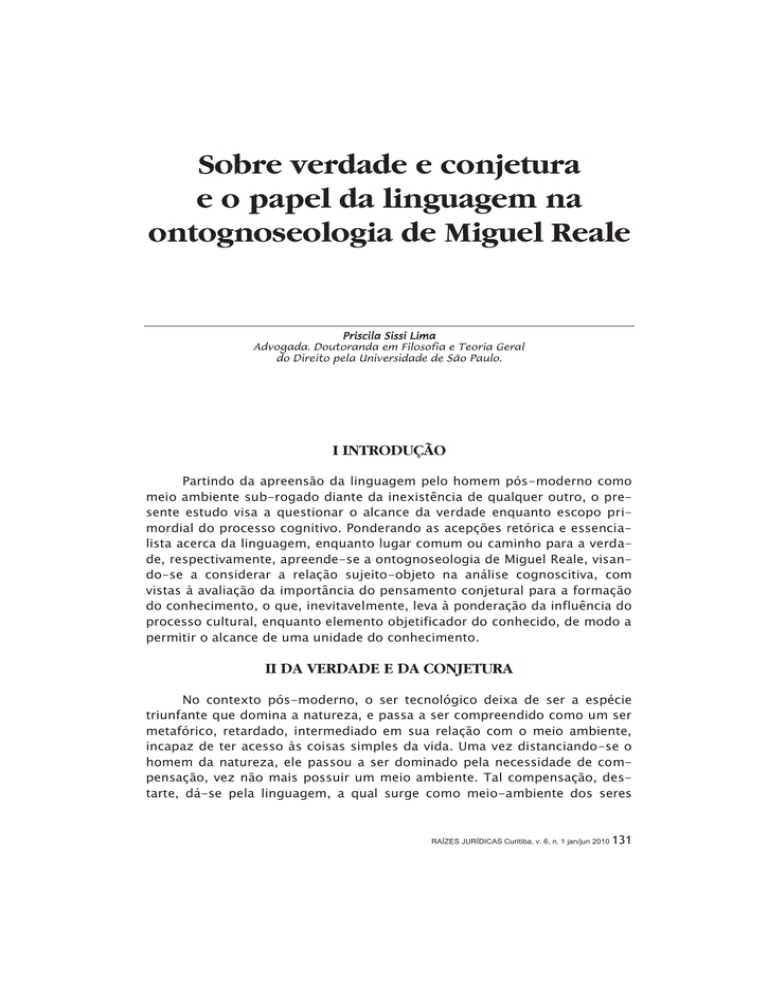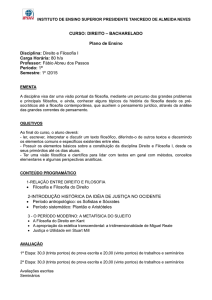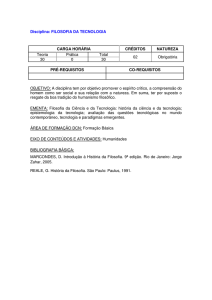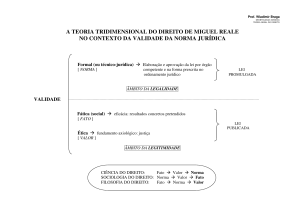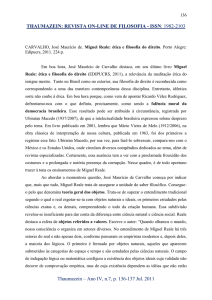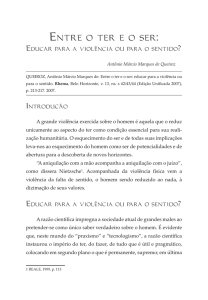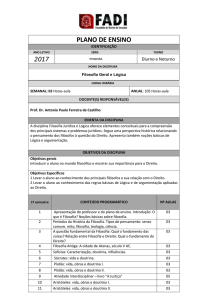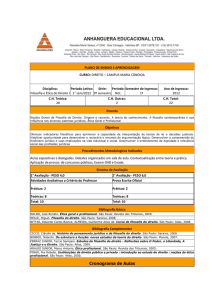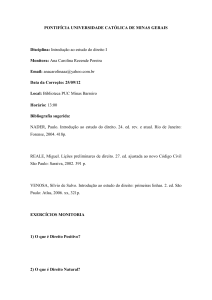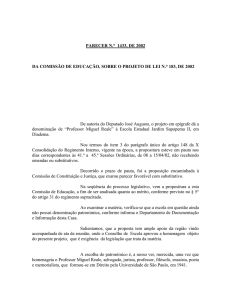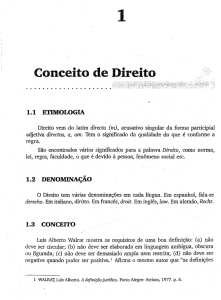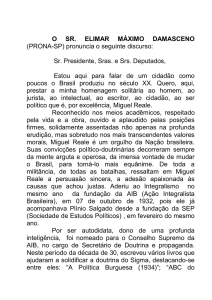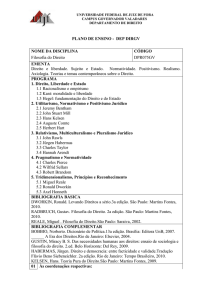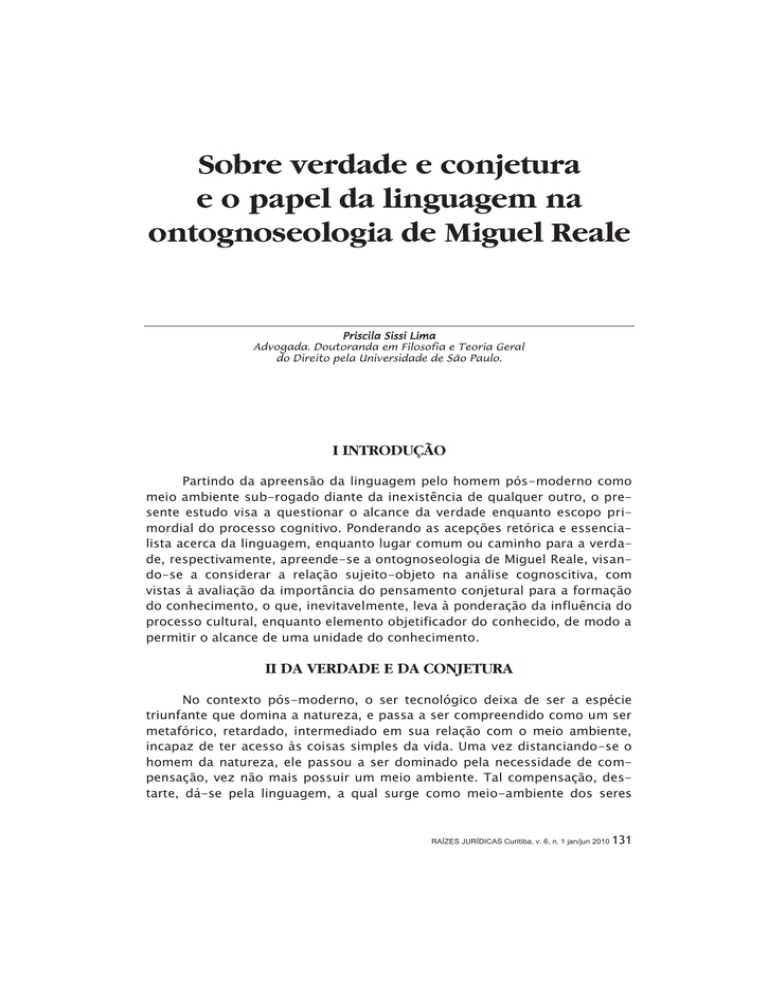
Priscila Sissi Lima
Advogada. Doutoranda em Filosofia e Teoria Geral
do Direito pela Universidade de São Paulo.
Partindo da apreensão da linguagem pelo homem pós-moderno como
meio ambiente sub-rogado diante da inexistência de qualquer outro, o presente estudo visa a questionar o alcance da verdade enquanto escopo primordial do processo cognitivo. Ponderando as acepções retórica e essencialista acerca da linguagem, enquanto lugar comum ou caminho para a verdade, respectivamente, apreende-se a ontognoseologia de Miguel Reale, visando-se a considerar a relação sujeito-objeto na análise cognoscitiva, com
vistas à avaliação da importância do pensamento conjetural para a formação
do conhecimento, o que, inevitavelmente, leva à ponderação da influência do
processo cultural, enquanto elemento objetificador do conhecido, de modo a
permitir o alcance de uma unidade do conhecimento.
No contexto pós-moderno, o ser tecnológico deixa de ser a espécie
triunfante que domina a natureza, e passa a ser compreendido como um ser
metafórico, retardado, intermediado em sua relação com o meio ambiente,
incapaz de ter acesso às coisas simples da vida. Uma vez distanciando-se o
homem da natureza, ele passou a ser dominado pela necessidade de compensação, vez não mais possuir um meio ambiente. Tal compensação, destarte, dá-se pela linguagem, a qual surge como meio-ambiente dos seres
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
131
humanos, uma vez inexistindo outro. Não obstante, há quem considere a
linguagem um instrumento para a descoberta da verdade, e há quem discorde desse posicionamento.
Fato é que, para os essencialistas, atingir a verdade pela linguagem seria possível, estando ela aparente, ou oculta por detrás de aparências. Fundamental faz-se, neste caso, o método dotado de lógica, intuição, emoção,
somadas a todo aparato cognoscitivo do ser humano aplicado adequadamente. Desse modo, seria possível aos seres humanos alcançar a verdade em
seu contato com o mundo, havendo uma conclusão que coagiria todos os
seres racionais a aceitar tal verdade.
Já os retóricos são convictos de que o alcance da verdade pela linguagem é uma quimera, sendo a linguagem o máximo de acordo possível, apenas capaz de construir um ambiente comum a todos, numa objetividade
condicionada a variados contextos, autopoiéticos, transitórios e modificáveis.
Nota-se, destarte, que uma das questões centrais da teoria do conhecimento é observar, entre os homens, se a linguagem realmente descreve as
coisas como são ou se se reduz à mera convenção estabelecida pelo arbítrio
humano, não numa relação subjetiva estabelecida por cada homem entre a
língua e o mundo, mas num consenso efêmero, sujeito a reformulações a
realizarem-se pela intervenção da própria determinação humana.
Põe-se, dessa forma, a questão dicotômica entre verdade e conjetura
que, inevitavelmente, permeia os horizontes da teoria do conhecimento. De
fato, como assevera Reale1, um dos problemas capitais da Filosofia é a perquirição acerca do “valor do pensamento mesmo e do valor do verdadeiro”.
Platão foi um dos pioneiros ao observar uma bipartição do conhecimento em δόξα (doxa), enquanto opinião ou certeza subjetiva e ἐπιστήμ
(episteme), ou conhecimento objetivo. Enquanto δόξα representaria um determinado ponto de vista subjetivo, ἐπιστήμ se referiria à crença verdadeira
e justificada.
Nesta esteira, encontra-se a denominada ontognoseologia de Reale,
voltada ao processo cultural em sua perspectiva histórica. Fundamentada na
relação sujeito-objeto, a ontognoseologia realeana propõe-se a obter não a
verdade absoluta, mas o conhecimento conjetural, abrangendo as condições
basilares do conhecimento, preocupando-se com a validade do pensamento
e das condições do objeto do conhecimento em geral e sua relação com o
sujeito que conhece, na correlação apriorística estabelecida entre sujeito
cognoscente e objeto cognoscível.
Difere, portanto, a análise ontognoseológica da metafísica, uma vez
que esta busca a verdadeira essência e condições de existência do ser. O ser
metafísico, não se trata de um objeto possível ao conhecimento, vez o ser
1
1999, p. 26.
132 RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
situar-se anteriormente a qualquer possibilidade, equivalendo à totalidade
de possibilidades. Reale caracteriza o pensamento metafísico como problemático, na medida em que, nele, estão contidas questões insolúveis.
Conforme leciona Adeodato2, é nítida a influência da metafísica de Nicolai Hartmann no pensamento de Reale, no sentido de que “o sujeito e o
objeto ocupam o mesmo plano ontológico, uma vez que a ontologia do objeto do conhecer e a ontologia do conhecer são dois aspectos de uma única
realidade conoscitiva: a ontognoseologia realeana.” Não obstante, enquanto
para Hartmann os valores devem ser compreendidos historicamente, para
Reale eles estão ontologicamente relacionados ao plano da existência, mesclando-se, num único ente, a ontologia e a axiologia.
Em verdade, o próprio Immanuel Kant já havia desvencilhado o tema
dos meandros da metafísica, engendrando a admissão da participação ativa
do sujeito no processo do conhecimento, reconhecendo a capacidade do eu
transcendental de legislar sobre a natureza, o que denomina de poder nomotético do espírito3, no sentido da habilidade de criar ou instaurar coisas
novas. Admitindo que o que se sabe depende do “eu que pensa” 4, o pensamento kantiano acolhe, portanto, uma relação intrínseca entre experiência
possível e condição de conhecimento, reunindo em uma problemática una as
facetas distintas da transcendentalidade e da experiência, na determinação,
pelo espírito, das regras norteadoras da origem e do desenvolvimento dos
fenômenos, a constituir tanto as ciências da natureza como as ciências humanas.
Corroborando com Kant, segundo Reale, o valor do conhecimento deve
ser apreciado sob o enfoque transcendental e sob o enfoque empíricopositivo, sendo este condicionado por aquele, não sendo possível determinar
qualquer objeto da experiência sem relacioná-lo às suas condições transcendentais de possibilidade, nem, ao revés, sendo concebível uma condição
transcendental não correlacionada à experiência possível 5.
Diante dessa superação da metafísica notada em Kant, conforme assevera Franklin Leopoldo e Silva, “Resta o valor heurístico, definido agora como
regulador e transcendental, e resta um outro lugar, o pensar, distinto do
conhecer”6. Na cadência do pensamento kantiano, Reale reflete sobre a distinção entre conhecer segundo conceitos e pensar segundo ideias. Tal diferenciação fora abordada por Celso Lafer 7, em cuja exposição verificou-se o
pensar como voltado à busca do significado e o conhecer ocupado com o
valor da cognição, numa dialética de mútua implicação-polaridade, como
2
ADEODATO, 2009, p. 320.
REALE, 1977, p. 21.
4
REALE, disponível em < http://www.miguelreale.com.br/artigos/teoriaser.htm>, acesso em 19 jun. 2010.
5
REALE, 1977, p. 34.
6
SILVA, 2005, p. 102.
7
Revista Cult, Ano 10, p. 58.
3
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
133
afirmaria Reale, não sendo essa uma dicotomia excludente, mas complementar, tornando-se possível, desse modo, conceber “uma expansão subjetiva da razão e uma delimitação definitiva do conhecimento objetivo”8.
Reale observa a distinção de Kant entre os conceitos ostensivos e heurísticos, vislumbrando-os como “princípios regulativos” do conhecimento,
todavia, conforme ressalta Adeodato, afastando-se, todavia, da tendência
retórica moderna em considerar tão somente o conhecimento heurístico e
sopesar a teoria como holística e essencialista 9.
É neste ponto que se faz primordial a análise do pensamento conjetural, ao qual a ontognoseologia realeana pretendeu conferir maior dignidade.
É manifesta a dificuldade em se encontrar uma conceituação precisa do
que consista o pensamento conjetural, uma vez que não há uma clara distinção entre os objetos cognoscíveis e incognoscíveis, entre os quais não há
apenas uma diferença quantitativa, mas também qualitativa. Ora, segundo
lecionou Kant, as coisas em si não podem ser conhecidas, uma vez postas
pelo conhecimento, por incidir este, exclusivamente, sobre fenômenos. Desse modo, as coisas em si devem apenas ser pensadas – e não conhecidas –,
como noumenon, para que sirvam de fundamento aos próprios fenômenos,
na medida em que restringem o conhecimento, direcionando-o para as condições da sensibilidade.
Ademais, conforme esclarece Reale, sob o olhar kantiano, “todo conhecimento depende de duas formas de sensibilidade, o espaço e o tempo”10.
Isso quer dizer que as formas a priori da sensibilidade remetem à conversão
da realidade em experiência, de modo que já não se pode apreender a realidade tal como poderia ser em si mesma. Logo, se apenas é possível conhecer
os fenômenos – submetidos às formas da sensibilidade e às categorias do
intelecto –, jamais sendo alcançada a coisa em si – que transcende o campo
do sensível e do intelectual –, as condições do conhecimento mostram-se
situadas na esfera da subjetividade, do sensível e do categorial11. Além da
órbita das sensações e dos conceitos, ultrapassar-se-ia o plano da ciência e
passar-se-ia ao plano das ideias, da insegurança e da incerteza, plano este
que, segundo Kant, é, por sua natureza, conjetural.
Desse modo, como mesmo nos objetos mais conhecidos resta um pano
de fundo no qual somente pode penetrar o pensamento conjetural, é possível afirmar que as conjeturas ocupam as brechas do conhecimento, sendo
complementares aos processos cognitivos.
Pautada em razões de plausibilidade e verossimilhança12, a conjetura, a
que Reale se refere, não se confunde com o mero palpite, com o discurso
8
SILVA, op. cit, p. 102.
ADEODATO, op. cit., p. 322.
REALE, 2000, p. 37.
11
REALE, op. cit, p. 38.
12
ADEODATO, op. cit., p. 323.
9
10
134 RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
probabilístico, assim como não se embaraça com a analogia, com a intuição,
com a fé, ou com a linguagem metafórica dos mitos 13. Pelo contrário, enquanto a probabilidade considera a possibilidade de determinado evento, a
conjetura se funda em razões verossimilhantes que preenchem os vazios do
conhecimento, sendo mais ampla e desvinculada, centrando-se no cerne da
verdade.
Tais características fazem com que a conjetura, embora fundada na
experiência, seja hábil a produzir um discurso crítico, constituindo um modo
de pensar que transcende as fronteiras do evidente e do empiricamente
comprovável, possibilitando ao homem suplantar os seus próprios limites
cognoscitivos, vez que ventila suposições plausíveis fundadas na experiência
e em concordância com ela, almejando responder questionamentos eivados
da própria atividade empírica. Nas palavras de Judith Martins Costa: “Como
toda a conjetura parte da experiência, é possível que se façam conjeturas
para transcender a experiência e alcançar uma solução plausível e que integrará o status da verdade num determinado momento histórico.” 14
Se no núcleo da verdade situa-se a conjetura, verifica-se que a afirmação kantiana, de que o que se sabe depende do “eu que pensa”, levando ao
poder nomotético do espírito do sujeito cognoscente, cede lugar a outra
conclusão: a de que “às vezes, o que se sabe depende da perspectiva ou
ponto de vista do eu que pensa.”15
Segundo conclui Reale, perspectivismo e pensamento conjetural, portanto, estão indissociavelmente ligados, mostrando-se necessários à solução
de problemas da ciência positiva, na medida em que, ao lidar com um complexo de verdades racionalmente verificadas, as quais não se mostram suficientes para suprir determinados espaços lacunosos do conhecimento, ela
requer a completude possibilitada pelo pensamento conjetural, o qual lhe
conduzirá a “quase verdades”16, isto é, a verdades resultantes de conjeturas.
Não há que se negar, destarte, a asseveração de Reale de que uma base conjetural subjaz a todo conhecimento, notando-se que a investigação
positiva e o pensamento conjetural não se excluem, mas se complementam,
numa relação dialética de complementaridade, na qual a imaginação criadora
condiciona os momentos da pesquisa científica à liberdade atinente ao pensamento conjetural, que, então, surge como sintetizadora da escolha axiológica ante o real, de que resultará a nova verdade. Desse modo, ainda na objetividade da investigação científica, verifica-se cabível o exercício da liber-
13
ADEODATO, op. cit., p. 324.
MARTINS COSTA, 2002, p. 12-13.
REALE, disponível em < http://www.miguelreale.com.br/artigos/teoriaser.htm>, acesso em 19 jun. 2010.
16
Reale faz menção direta à “Lógica Paraconsistente”, enquanto lógica não clássica heterodoxa, fundada,
entre outros, pelo matemático, lógico e filósofo brasileiro Newton Carneiro Affonso da Costa, em que se
distingue a “verdade”, racionalmente verificada, da “quase verdade” ou “verdade parcial”, oriunda do pensamento conjetural.
14
15
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
135
dade humana, na realização de conjecturas e na atualização de valores destinados a integrar o próprio discurso científico, dando-se o conhecimento, a
um só tempo “subjetivo-objetivo”17.
Não obstante, cabe salientar que os resultados eventualmente alcançados pelo pensamento conjetural devem conciliar-se com o experienciável,
não podendo essa atividade de imaginação criadora deixar de atender às
exigências do pensamento científico nem, tampouco, confundir-se com
ele18.
Outrossim, não se trata, o pensamento conjetural, embora configure
uma esfera de liberdade, de um pensar abstratamente incondicionado. Pelo
contrário, o pensamento humano, na atividade do conhecimento, é inevitavelmente condicionado a partir do próprio homem e de seu processo vital.
Em outras palavras, a cultura é condição a priori transcendental do conhecimento, sendo o ato do conhecimento um ato cultural, em que se mostra inerente o poder nomotético do espírito 19.
Na medida em que a cultura tem seu berço na afirmação da liberdade,
no momento em que o sentido teleológico passa a integrar a vida humana,
uma vez que o homem descobre seu poder em fazer escolhas e legislar sobre a natureza, daí por diante, esse contexto cultural passa a guiar suas ações.
Reconhecida a existência de um a priori cultural, o conhecimento se
torna objetivo e comunicável, sendo potencializado e convertido em base
para novos conhecimentos, dando azo a novas percepções, que possibilitam
o aperfeiçoamento da própria ciência e o surgimento de novas formas de
20
civilização , vez que a comunicação, em si, segundo Tercio Sampaio Ferraz
21
Jr., constitui a própria base de edificação dos sistemas sociais.
Todavia, não há que se reduzir cada ciência ao âmbito exclusivo de sua
linguagem pelo fato desta representar o meio-ambiente compensatório do
ser humano, embora se deva admitir a linguagem enquanto Logos socráti22
co , o lugar da verdade, sendo algo além do retórico consenso intradiscursivo. A linguagem, bem como a origem e o desenvolvimento de toda ciência,
23
mesmo sendo produto essencial do espírito , mostra-se condicionada na
17
REALE, 2000, p. 40.
ADEODATO, op. cit., 325.
REALE, 2000, p. 42.
20
REALE, 2000, p. 42.
21
FERRAZ JR. (2003: 36-37) aponta que “os sistemas sociais se formam via comunicação”, tratando-se esta
de “um fato incontornável do relacionamento humano.
22
ADEODATO, op. cit, p. 326.
23
REALE, disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/cultling.htm>, acesso em 19 jun. 2010.
18
19
136 RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
existência objetiva do mundo real. Percebe-se, dessa forma, que a língua
não é apenas a língua, havendo um mundo objetivo por trás dela.
Sendo a linguagem a expressão comunicativa da cultura e esta um
24
“complexo e sempre inconcluso mundo dos objetos do conhecimento” ,
conforme conclui Reale, “o ato de conhecer, longe de ser dual – o subjetivo
ante o objetivo – é trino, uma vez que nele está ínsito o poder nomotético de
conversão do subjetivo-objetivo em uma expressão autônoma e comunicá25
vel, que passa a valer por si.”
Logo, além da relação dialética de complementaridade havida entre as
verdades racionalmente verificadas na investigação positiva e o pensamento
conjectural, faz-se imprescindível a objetivização – de natureza cultural – do
conhecido que o torna comunicável, conduzindo, destarte, à unidade do conhecimento humano.
A partir das explanações de Reale, em sua ontognoseologia, pode-se
extrair que o caminho para o conhecimento não se detém, exclusivamente,
na análise objetiva, buscando equipar-se tão somente de verdades racionalmente verificáveis. Em virtude da permanência de espaços lacunosos não
supridos por tais verdades obtidas por meio da investigação objetiva, tornase imperiosa a utilização de conjeturas, as quais, lastreadas em razões de
plausibilidade e verossimilhança e distantes do pensamento meramente opinativo, intuitivo e fideísta, possibilitam a supressão desses espaços em branco, por meio do alcance de verdades parciais, ou quase verdades, obtidas
por meio de uma via de liberdade oriunda do pensar imaginativo-criativo,
sendo este fundado no experienciável e com ele compatível. Logo, nota-se
que tanto a verificação positiva como o pensamento conjetural não se excluem, correlacionando-se, pelo contrário, numa dialética de complementaridade, de modo a possibilitar o conhecimento, dado a um único tempo subjetivo-objetivo. Não obstante, para que tal conhecimento seja potencializado,
de modo a permitir a criação de novas bases de conhecimento e, desse modo, engendrar novas formas civilizatórias, a comunicação, por meio linguagem, sendo esta o meio ambiente compensatório do homem pós-moderno,
faz-se o terceiro artefato essencial do processo cognoscitivo, dado a partir
da assunção de um a priori cultural, enquanto elemento norteador das ações
humanas.
24
25
REALE, disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/cultling.htm>, acesso em 19 jun. 2010.
REALE, 2000, p. 44.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
137
ADEODATO, João Maurício. Ética & Retórica: para uma teoria da dogmática
jurídica. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
BITTAR, Carlos E. B. e ALMEIDA, Guilherme de Assis. Curso de filosofia do
direito. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2005.
BLANCO, Pablo Lopez. La ontología jurídica de Miguel Reale. São Paulo: Saraiva, 1975.
DELEUZE, Gilles. A filosofia crítica de Kant. Coleção “O Saber da Filosofia”.
Lisboa: Edições 70, 1963.
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2 ed. São Paulo: Atlas,
1980.
_____. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a
justiça e o direito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003.
HARTMANN, Nicolai. Ontologia I: fundamentos. Trad. José Gaos. México:
Fundo de Cultura Econômica, 1954.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Coleção “Os Pensadores”. Trad. Valério Rohden e Udo Valdur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural,
1996.
LAFER, Celso. A Filosofia do direito e Princípios gerais: considerações sobre a
pergunta “O que é a Filosofia do Direito?” in Alaôr Caffé Alves et alii, O
que é Filosofia do direito? São Paulo: Manole, 2004. p. 51-73.
_____. “O paradigma da Filosofia do Direito” in A reconstrução dos Direitos
Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 47-49.
_____. “O juízo no paradigma da Filosofia do direito: do rigor do silogismo
jurídico à busca do significado da hermenêutica” in A reconstrução dos
Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt.
São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 279-283.
_____. Entre a norma e a realidade. Dossiê – Filosofia do Direito. Revista
CULT. n. 112. Ano 10. p. 56-63.
MARTINS COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes teóricas do
novo código civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002.
REALE, Miguel. “A filosofia como autoconsciência de um povo” in Pluralismo e
liberdade. Rio de Janeiro: Editora Expressão e Cultura, 1998. p. 63-78.
138 RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
_____. MIGUEL REALE. Cultura e linguagem. 14 set. 2002. Disponível em:
<http://www.miguelreale.com.br/artigos/cultling.htm>. Acesso em:
19 jun. 2010.
_____. Experiência e cultura: para a fundamentação de uma teoria geral da
experiência. São Paulo: Grijalbo, EDUSP, 1977.
_____. Filosofia do Direito. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
_____. Lições Preliminares de Direito. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
_____. “O A Priori Cultural” in Cinco temas do culturalismo. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 25-45.
_____. MIGUEL REALE. Perspectiva e teoria do ser. 03 jan. 2004. Disponível
em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/teoriaser.htm>. Acesso
em: 19 jun. 2010.
_____. “Teoria do conhecimento e teoria da cultura” in Cinco temas do culturalismo. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 27-34.
_____. Verdade e Conjectura. 2 ed. Lisboa: Fundação Lusíada, 1996.
SILVA, Franklin Leopoldo e. Dialética e Experiência. Dois pontos, Curitiba,
São Carlos, vol. 2, n. 2, p.97-112, outubro, 2005.
RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010
139
140 RAÍZES JURÍDICAS Curitiba, v. 6, n. 1 jan/jun 2010