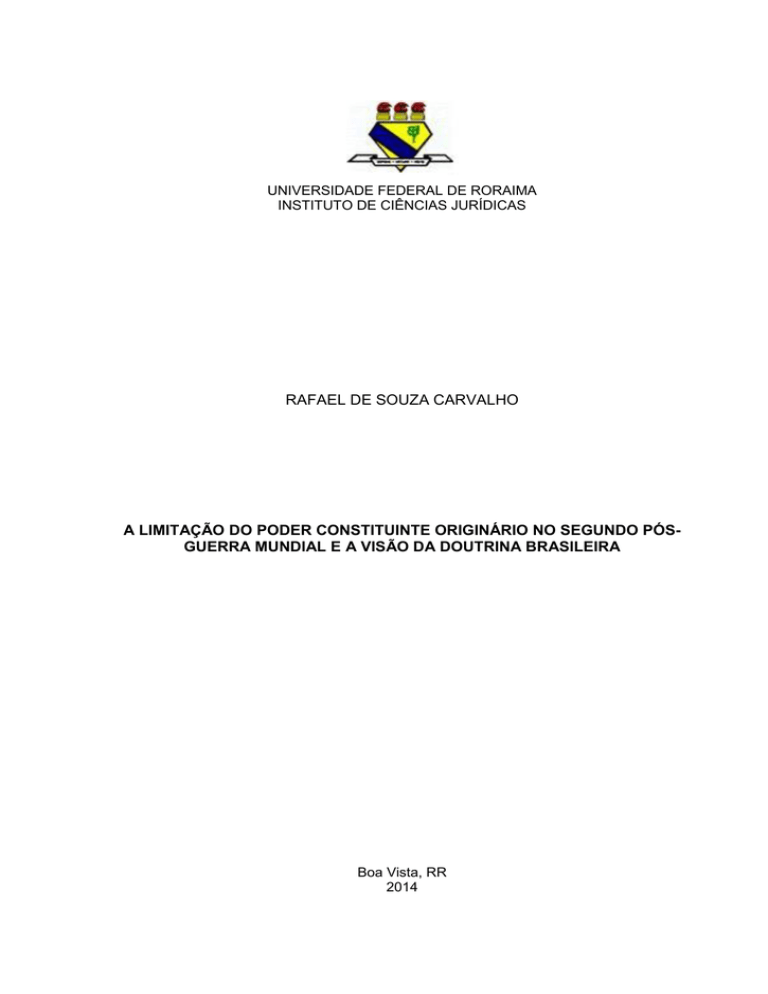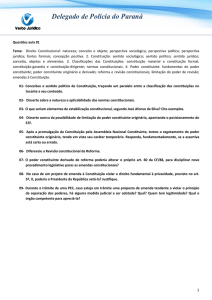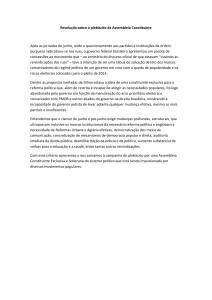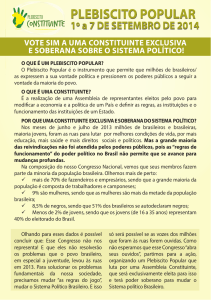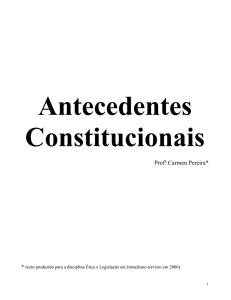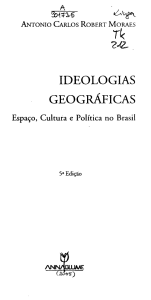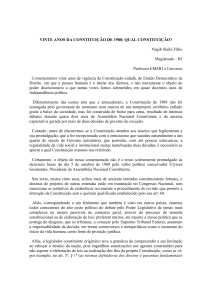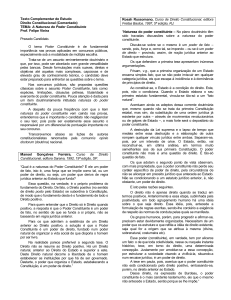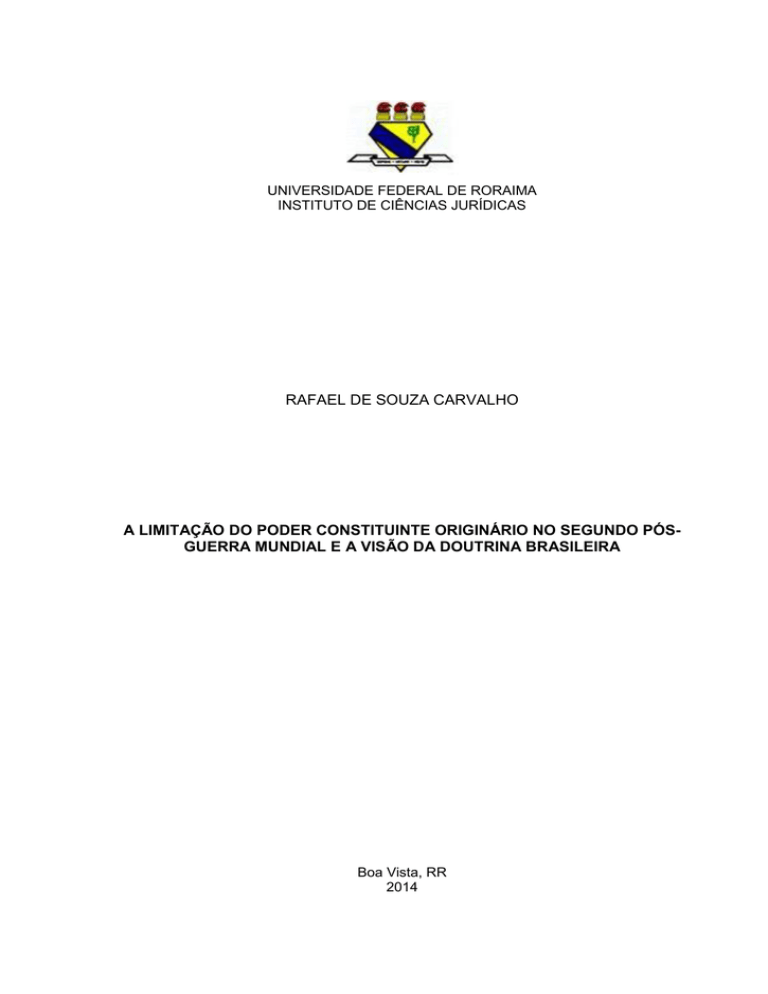
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
RAFAEL DE SOUZA CARVALHO
A LIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO NO SEGUNDO PÓSGUERRA MUNDIAL E A VISÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA
Boa Vista, RR
2014
1
RAFAEL DE SOUZA CARVALHO
A LIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO NO SEGUNDO PÓSGUERRA MUNDIAL E A VISÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA
Monografia apresentada pelo aluno
Rafael de Souza Carvalho como prérequisito para conclusão do curso de
Bacharelado em Direito.
Orientadora: Profa. Lívia Dutra Barreto.
Boa Vista, RR
2014
2
Dados Internacionais de Catalogação na publicação (CIP)
Biblioteca Central da Universidade Federal de Roraima
C331l
Carvalho, Rafael de Souza.
A limitação do Poder Constituinte originário no Segundo PósGuerra Mundial e a visão da doutrina brasileira / Rafael de Souza
Carvalho – Boa Vista, 2014.
69 f.
Orientadora: Profª. Lívia Dutra Barreto.
Monografia (graduação) – Universidade Federal de Roraima,
Curso de Direito.
CDU – 342.4(81)
1 – Poder constituinte. 2 – Segunda Guerra Mundial. 3 – Póspositivismo. I – Título. II – Barreto, Lívia Dutra (orientadora).
CDU – 342.4(81)
3
A LIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO NO SEGUNDO PÓSGUERRA MUNDIAL E A VISÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA
Monografia apresentada pelo aluno
Rafael de Souza Carvalho como prérequisito para conclusão do curso de
Bacharelado em Direito.
Orientadora: Profa. Lívia Dutra Barreto.
________________________________________________________________
Profa. Lívia Dutra Barreto
Orientadora / Curso de Direito / UFRR
________________________________________________________________
Profª. Ilaine Aparecida Pagliarini
Universidade Federal de Roraima / Curso de Direito
________________________________________________________________
Prof. Isaías Montanari Junior
Universidade Federal de Roraima / Curso de Direito
4
RESUMO
A presente pesquisa analisa a limitação do poder constituinte originário na doutrina
brasileira como consequência da afetação doutrinária decorrente da segunda guerra
mundial. Dada a natureza da pesquisa, adota abordagem qualitativa, para
compreensão do objeto de estudo em seu contexto histórico. Tendo propósito de
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito, a pesquisa é classificada como exploratória e, utilizando-se de materiais já
publicados para fornecer fundamentação teórica ao trabalho, tem procedimento
bibliográfico. A teoria do poder constituinte desenvolvida por Emmanuel Sieyès
explica encontrarem-se na nação a legitimidade e titularidade para o exercício do
poder constituinte, capacidade de dar nova ordem, criando um texto constitucional
em rompimento com o Estado anterior. Esse poder, na teoria de seu idealizador,
seria limitado pelo direito natural, que existiria antes e acima de tudo. Ocorre que a
visão positivista do direito nega a existência de um direito anterior ao positivado,
além de rejeitar questionamentos baseados em valores morais. Assim, as normas
jurídicas poderiam adotar qualquer conteúdo e o poder constituinte não encontraria
limites materiais. Tal entendimento forneceu fundamento teórico para o
desenvolvimento do regime nazista e a prática de diversos atos antes e durante a
segunda guerra mundial que posteriormente vieram a ser qualificados como crimes
contra a humanidade. Atualmente, a doutrina brasileira reconhece a existência de
limites materiais ao poder constituinte, especialmente no que diz respeito aos
direitos humanos, que passaram a desenvolver-se, sobretudo no plano internacional,
após e em decorrência das atrocidades cometidas durante a guerra.
Palavras-chave: poder constituinte, segunda guerra mundial, pós-positivismo.
5
ABSTRACT
The present research analyzes the limitation of the original constituent power in the
Brazilian doctrine as a result of doctrinal affectation following the second world war.
Given the nature of the research adopts a qualitative approach to understand the
object of study in its historical context. Having purpose of providing greater familiarity
with the problem in order to make it more explicit the search is classified as
exploratory and, using materials already published to provide theoretical basis to
work, have bibliographic procedure. The theory of constituent power developed by
Emmanuel Sieyes explains meet in the nation the legitimacy and the ownership for
the exercise of constituent power, ability to give new order, creating a constitutional
text in disruption with the previous Status. This power, in its founder theory, would be
limited by natural law, which existed before and above all. It happens that the
positivist view of law denies the existence of a prior right to positivised, and rejects
questions based on moral values. Thus, the legal rules could take any content and
constituent power would find no material limits. This understanding provided the
theoretical foundation for the development of the Nazi regime and the practice of
several acts before and during World War II who later came to be qualified as crimes
against humanity. Currently, the Brazilian doctrine recognizes the existence of the
materials limits to the constituent power, especially when it concerns human rights,
which began to be developed, especially internationally, after and as a result of the
atrocities committed during the war.
Keywords: constituent power, second world war, post-positivism.
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7
1 PODER CONSTITUINTE ....................................................................................... 10
1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS.................................................................................. 11
1.2 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO .............................................................. 16
1.3 PODER CONSTITUINTE DERIVADO................................................................. 24
2 LEGITIMAÇÃO DO REGIME NAZISTA ALEMÃO ................................................ 27
2.1 O ANTISSEMITISMO .......................................................................................... 29
2.2 O TOTALITARISMO ............................................................................................ 35
2.3 LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VALIDADE..................................................... 41
2.3.1 Positivismo jurídico e poder constituinte .................................................... 46
3 PERÍODO PÓS-GUERRA...................................................................................... 49
3.1 O PÓS-POSITIVISMO E O CONCEITO DE DIREITO ........................................ 51
3.2 OS LIMITES DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO .................................. 59
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 64
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 67
7
INTRODUÇÃO
Impossível não encontrar nas obras de Direito Constitucional abordagens
abrangentes que se reduzem à caracterização do poder constituinte originário como
poder ilimitado e incondicionado ou limitado, sem maiores explicações. Nesse
sentido, questionou-se se realmente inexistiriam limites ao poder constituinte
originário e no que se fundavam.
Na existência de limites, buscou-se a relação com as experiências jurídicas
e políticas resultantes da segunda guerra mundial, especialmente no período pósguerra, onde se discutiram responsabilidades pelo conflito acusando homens que
estariam apenas cumprindo a lei alemã. Uma teoria do direito que considerasse a
inexistência de limites ao poder constituinte originário pode ter sido decisiva para o
estabelecimento do regime nazista na Alemanha.
Dessa forma, a presente pesquisa volta-se à análise da limitação na teoria
do poder constituinte, no Brasil atual, como consequência da segunda guerra
mundial. Tendo sido alterado até mesmo o conceito de Direito pelo conflito, admite a
doutrina moderna brasileira a existência de limitações ao poder constituinte
originário relacionadas à segunda guerra mundial?
Assim, como objetivo geral, o presente estudo buscou analisar a limitação do
poder constituinte originário na ordem jurídica brasileira como consequência da
mudança ocorrida após a segunda guerra mundial. Especificamente, objetiva
explicar o contexto do surgimento da teoria do poder constituinte de Sieyès,
apresentando conceitos da doutrina brasileira; identificar o conceito de Direito
anterior à segunda guerra, na teoria positivista com inevitável menção à Hans
Kelsen, e atual, tendo Robert Alexy como principal autor do pós-positivismo; e fazer
uma correlação entre a evolução do conceito de Direito e da teoria do poder
constituinte.
O estudo justifica-se na deficiência da doutrina tradicional sobre limitações
ao poder constituinte. Apesar de ser tema de profunda relevância, vez que
inquestionável a importância, para a ordem jurídica, do texto constitucional, a
8
maioria dos autores, em seus manuais e cursos de Direito Constitucional, dedicam
apenas algumas poucas páginas ao tema, sem que se faça uma crítica necessária,
geralmente limitando-se a identificar e caracterizar os poderes constituintes
originário, derivado e decorrente.
A pesquisa é socialmente relevante especialmente em razão do momento
histórico atual. Havendo revoluções diversas em países, como no Brasil, que chegou
perto de inovar em uma constituinte exclusiva para reforma da Constituição Federal
de 1988, além de conflitos para emancipação/anexação de territórios no mundo, a
teoria do poder constituinte e suas limitações adquire fundamental relevância vez
que trata justamente sobre o estabelecimento do fundamento de uma nação.
Na persecução dos objetivos, a pesquisa desenvolve-se em três diferentes
capítulos, que de certo modo retratam momentos diferentes na história da
humanidade. O primeiro deles é dedicado ao estudo da teoria do poder constituinte,
sendo de fundamental importância o entendimento do contexto em que surge a
teoria e o que pregava, encontrando-se em Emmanuel Sieyès o francês responsável
pela elaboração do pensamento.
Além de sua obra, também o entendimento da doutrina brasileira é
abordado, extraindo-se os conceitos, classificações e características atribuídas ao
poder constituinte pelos juristas nacionais. Somente com o estabelecimento dos
conceitos iniciais é que o estudo pode aprofundar-se.
O segundo capítulo volta-se para o núcleo da segunda guerra mundial, o
agente catalisador do maior conflito bélico do século XX: o regime nazista alemão.
Primeiramente, para que se entenda a legitimação do regime, esclarecimentos sobre
a extensão e a evolução do antissemitismo europeu foram necessários, só assim
podendo partir-se para a exploração do regime totalitarista. Para tanto, encontramse em Hannah Arendt, filósofa e cientista política, grandes esclarecimentos sobre o
contexto histórico e social, sem descuidar da pluralidade de fontes que buscam
enriquecer o estudo.
9
Nesse momento da pesquisa, explora-se o regime nazista e sua legitimação,
tornando-se inevitável a abordagem do conceito de direito baseado em uma corrente
positivista. Ainda, revelam-se as mudanças operadas pelo juspositivismo sobre a
teoria do poder constituinte.
O último capítulo dedica-se ao segundo pós-guerra mundial, buscando
explicar o que se sucedeu à crise do positivismo jurídico no surgimento do póspositivismo. Dentro dessa nova visão, Robert Alexy nos fornece excelente material,
sendo o seu entendimento de conceito e validade de direito tidos como melhor
exemplo do que pregam os pensadores desta escola.
A visão do autor é complementada pelos apontamentos feitos pelos
doutrinadores brasileiros, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento de
limites ao poder constituinte originário. Demonstra-se que a aversão ao positivismo
puro no pós-guerra não levou ao outro extremo, o jusnaturalismo, mas que a
tendência atual é uma combinação de ambos os posicionamentos.
10
1 PODER CONSTITUINTE
Pelo conceito que apresenta Bernardo Gonçalves Fernandes (2014),
resumindo a um ponto comum os apresentados por diversos outros autores, é o
poder ao qual incumbe criar ou elaborar, alterar ou reformar, e complementar uma
Constituição.
Em harmonia, com maior densidade, Pedro Lenza (2014, p. 211), citando
J.J. Gomes Canotilho, defende que “o poder constituinte se revela sempre como
uma questão de ‘poder’, de ‘força’ ou de ‘autoridade’ política que está em condições
de, numa determinada situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição
entendida como lei fundamental da comunidade política”.
Com tal entendimento, é fácil relacionar o Poder Constituinte à figura da
Constituição escrita que surge no século XVIII com o movimento constitucionalista
(FERNANDES, 2014). Esse poder que legitima a ordem jurídica trazida no texto
constitucional é fonte de todo poder estatal, pois cria a Constituição a qual o Estado
deve se submeter (TAVARES, 2011).
Como muito bem coloca Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012), a
supremacia da Constituição decorre de sua origem. Explica: provém a Constituição
de um poder que institui a todos os outros e não é instituído por qualquer outro, de
um poder que constitui os demais e é por isso denominado Poder Constituinte.
No mesmo sentido, André Ramos Tavares (2011) afirma que o fundamento
da Constituição não poderá ser encontrado em nenhuma regra de matiz jurídicopositivo. “O poder constituinte é o supremo fornecedor das diretrizes normativas que
constarão desse documento supremo” (TAVARES, 2011, p. 52).
Assim, o Poder Constituinte é o que estabelece a organização jurídica
fundamental: o conjunto de regras jurídicas concernentes à forma do Estado, do
governo, ao modo de aquisição e exercício do governo, ao estabelecimento de seus
órgãos e aos limites de sua ação, bem como as regras referentes às bases do
ordenamento econômico e social (FERREIRA FILHO, 2012).
11
1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS
Quando falamos dos aspectos históricos do poder constituinte, é importante
distingui-lo de sua teoria. Como bem assevera Paulo Bonavides (2012, p. 147):
Poder constituinte sempre houve em toda sociedade política. Uma
teorização desse poder para legitimá-lo, numa de suas formas ou variantes,
só veio a existir desde o século XVIII, por obra da sua reflexão iluminista, da
filosofia do contrato social, do pensamento mecanicista anti-historicista e
antiautoritário do racionalismo francês, com sua concepção de sociedade.
Dessa forma, fica claro que poder constituinte não surge com sua teoria,
acreditando-se que, como está sempre ligado à ideia do estabelecimento de uma
ordem jurídica e da organização de uma sociedade, é correto dizer que existe desde
o início da vida do homem em grupo.
Nesse sentido, Rios Júnior (2013), afirma que desde os tempos primordiais
na história da humanidade, destacando-se o surgimento das primeiras civilizações, o
poder constituinte esteve presente, sendo exercido para o estabelecimento de
regras fundamentais da organização de sociedades e justificando a origem do
detentor de poder.
A ideia de que a Constituição é fruto de um poder distinto dos que
estabelece, a afirmação da existência de um Poder Constituinte, fonte da
Constituição e, portanto, dos poderes constituídos (dentre os quais o Legislativo) é
contemporânea da Constituição escrita (FERREIRA FILHO, 2012).
De um ponto de vista formal, como assevera Bonavides (2012) considerando
o Poder Constituinte como um instrumento ou meio para estabelecer a constituição
de uma sociedade, com sua organização e estrutura política, ele sempre existiu e
continuará existindo. Nesse sentido, a terminologia é usada apenas para designar a
presença de uma vontade criadora ou primária, capaz de fundar instituições políticas
de maneira originária.
É nesse sentido que Luís Roberto Barroso (2013, p. 117) afirma que assim
como “(...) é possível falar em uma Constituição histórica, cuja existência antecedeu
12
à compreensão teórica do fenômeno constitucional, também o poder constituinte,
como intuitivo, está presente desde as primeiras organizações políticas”.
Da mesma forma, André Ramos Tavares (2011), destaca que, apesar da
teoria do poder constituinte ter surgido apenas alguns anos antes da Revolução
Francesa, a realidade do poder precedeu historicamente essa elaboração técnica,
vez que é correlato da existência de qualquer Estado. Entretanto, reconhece o valor
de sua sistematização citando Luzia Cabral Pinto (1994, p. 11), que defende:
Não se pode, no entanto, subestimar a importância da teorização do poder
constituinte como fundamento originário da ordem constitucional do Estado:
essa teorização teve o mérito de trazer a constituição do inconsciente
político e social para o consciente jurídico e para o discurso crítico da
legitimação.
A obra “O Que é o Terceiro Estado?” de Emmanuel Joseph Sieyès, lançada
às vésperas da revolução francesa, é apontada como responsável pelo
reconhecimento da teoria do poder constituinte, nascendo como uma tentativa de
fundamentar a inserção do Terceiro Estado (desenvolvendo o conceito de nação) na
participação das decisões fundamentais do governo (RIOS JUNIOR, 2013).
Pelo conceito apresentado por Sieyès (p. 04) nessa obra, uma nação é “Um
corpo de associados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma
legislatura”. Sendo a única verdadeira detentora do poder, “a nação existe antes de
tudo, ela é a origem de tudo, Sua vontade sempre legal é a própria lei, antes dela e
acima dela só existe o direito natural” (SIEYÈS, p. 30). Por isso, acredita Paulo
Bonavides (2012) que a teoria do poder constituinte é, basicamente, uma teoria da
legitimação do poder.
Contextualizando o surgimento da obra, Carlos Alberto dos Rios Júnior
(2013, p. 81), lembra aos leitores que
A França vivia uma crise institucional. A maioria da população, composta
pelo Terceiro Estado, já não tolerava os privilégios concedidos ao Primeiro e
Segundo Estados (clero e nobreza). A revolução na América, com a
independência dos Estados Unidos e a promulgação de sua Constituição,
também contribuiu para o surgimento de novos ideais e pensamentos na
França.
13
Carla Dumont Oliveira (2006, p. 13), em sua dissertação para obtenção do
título de Mestra em Direito Público na qual estudou limites ao poder constituinte
originário, também traz uma contextualização interessante. De acordo com a autora,
o que marcou aquele momento histórico francês foi a luta contra o absolutismo e os
privilégios dos dois primeiros estados (nobreza e clero) contra o terceiro, formado
pelo povo. Assim, impunha-se “a necessidade de ruptura radical com a antiga ordem
e criação de outra com novos fundamentos, sem qualquer remissão ao passado”.
Anteriores ao panfleto de Sieyès, tendo notória influência sobre a construção
da teoria do poder constituinte, Rios Júnior (2013), identifica subsídios históricos que
demonstram, na visão do autor, esforços para justificar a origem do poder e do
próprio Direito.
Citando Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1999), Rios Júnior (2013), aponta
a doutrina das leis fundamentais, na França. Os estudiosos da época reconheciam a
superioridade de certas normas, superiores ao próprio monarca, que só poderiam
ser alteradas através de um procedimento especial, na convocação dos Estados
Gerais da França.
Nesse momento histórico, destaca o autor, é possível perceber o surgimento
da ideia de rigidez constitucional, mas ainda faltava a definição ou reconhecimento
de um poder especial que estabeleceria estas normas superiores regedoras do
governo e da vida dos que vivem sob sua jurisdição (RIOS JUNIOR, 2013). Destacase, nesse ponto, a fala de Bonavides (2012, p. 147):
Esse novo poder, oposto ao poder decadente e absoluto das monarquias de
direito divino, invoca a razão humana ao mesmo passo que substitui Deus
pela Nação como titular da soberania. Nasce assim a teoria do poder
constituinte, legitimando uma nova titularidade do poder soberano e
conferindo expressão jurídica aos conceitos de soberania nacional e
soberania popular.
Em
seguida,
nessa
linha
histórica,
identificam-se
doutrinas
pactistas/contratualistas que fundam a origem do poder no acordo dos governados,
apontando-se Jean-Jacques Rousseau (2011) como uma das principais influências.
O autor, em sua obra “Do Contrato Social”, traz a compreensão da sociedade como
14
se estruturada por meio de um pacto social (FERREIRA FILHO, 1999 apud RIOS
JUNIOR, 2013).
Nesse sentido, também é o entendimento de Sérgio Resende de Barros, que
acredita terem sido abertas as portas da história para a ideia do poder constituinte
pelo contratualismo. De acordo com o autor:
Dominando o pensamento político nos séculos XVII e XVIII, o
contratualismo partiu da hipótese de um contrato social – de todos os
indivíduos com todos os indivíduos – para explicar e justificar com certas
características a constituição da sociedade política geral. Em particular, a
doutrina do contrato social de Rousseau implicava a condenação das
instituições vigentes na França (BARROS).
Ao reduzir a essência do pacto social, Rousseau (2011, p. 26) afirma que
“(...) cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema
direção da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro como parte
indivisível do todo”.
Mesmo nesse pequeno fragmento de texto, é possível perceber similitudes
entre as teorias do autor contratualista e a de Sieyès, tendo ambos desenvolvido
teorias que tem como ator principal uma determinada coletividade, estando a
sociedade compreendida como se estruturada por meio de um pacto (FERREIRA
FILHO, 1991 apud RIOS JUNIOR, 2013).
A teoria do Poder Constituinte surge para legitimar um rompimento com o
absolutismo da monarquia, destituindo-se o rei (ou o Deus que o investia de
poderes) da titularidade da soberania e reconhecendo-a como pertencente à nação
(BONAVIDES, 2012).
Interessante notar que o próprio conceito de nação surge em razão do
desenvolvimento filosófico ocasionado pela efervescência revolucionária francesa.
Com visão crítica sobre o surgimento do conceito de nação, Dalmo de Abreu Dallari
(2010) diz tratar-se de um símbolo da unidade popular criado pela burguesia para
obter adesão do povo na luta contra o absolutismo e institucionalização de
lideranças, “Era em nome da Nação que se lutava contra a monarquia absoluta,
15
dando-se a entender que era justo e necessário que o povo assumisse o seu próprio
governo” (DALLARI, 2010, p. 132).
Anterior à obra de Sieyès, que traz o início do desenvolvimento da teoria do
poder constituinte, há o que identifica-se como a primeira Constituição escrita do
mundo, a americana, em 1787. Apesar de ser claro o exercício do Poder
Constitucional para elaboração e imposição da vigência do texto constitucional, não
houve debate sobre a legitimação deste “dizer o direito” por se tratar de um contexto
diferente do francês (BARROSO, 2013).
Apenas posteriormente, já durante o processo de ratificação da Constituição
americana, houve a publicação de um conjunto de escritos explicativos do
documento aprovado que, reunidos em um volume, integram a obra The Federalist
pelas mãos de Alexander Hamiton, James Madison e John Jay, mas seu conteúdo
não guarda relação com a teoria de Sieyès, tampouco seus escritos se ocupam de
objeto semelhante (BARROSO, 2013).
Tratava-se de uma coletânea de artigos publicados principalmente para
convencer o povo de Nova Iorque, com o objetivo de defender o projeto de
Constituição que deveria formalizar a união entre os estados americanos, criação do
federalismo (LIBRARY OF CONGRESS).
Como bem retrata BARROSO (2013, p. 118):
A Constituição francesa de 1791 foi contemporânea da Constituição
americana, mais por coincidência histórica do que por afinidades nas suas
causas e consequências. Nos Estados Unidos, a Constituição foi o
momento de conclusão de um processo revolucionário – ou, mais
propriamente, de emancipação da colônia em relação à metrópole. Na
França, ao revés, o processo constituinte deflagrou o movimento
revolucionário, que teve como marco inicial a convocação dos EstadosGerais e sua conversão em assembleia nacional constituinte.
No momento constitucionalista americano, o exercício do Poder Constituinte
para trazer à realidade jurídica a Constituição que registrou um conjunto normativo
protetivo é resultado da conclusão de um processo revolucionário no qual houve a
emancipação da colônia com relação à metrópole (BARROSO, 2013).
16
Ou seja, como bem percebe Barroso (2013), em sentido contrário ao
movimento americano, na França, o processo constituinte deflagrou o movimento
revolucionário. Criava-se uma nova ordem político-jurídico-social para romper com o
antigo regime absolutista (FERNANDES, 2014).
Essa origem histórica, no entendimento de Barros ocasionou a origem lógica
do poder constituinte. Na visão do autor, a necessidade lógica teria atendido a uma
necessidade histórica. No momento revolucionário vivido na França do final do
século XVIII, o poder constituinte teve sua existência deduzida racionalmente dos
poderes constituídos, ele surge diante da necessidade de teorizar um poder que
aparelhasse e justificasse a ação dos representantes do Terceiro Estado contra o
absolutismo do rei.
1.2 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
Inicialmente, para que se compreenda o conceito de poder constituinte
originário, não se pode ignorar a distinção feita por Sieyès entre poder constituinte e
poder constituído. Ferreira Filho (2013, p. 52), para que se comece a entender a
diferença, explica:
O reconhecimento de um poder capaz de estabelecer regras
constitucionais, diverso do de estabelecer regras segundo a Constituição, é,
desde que se pretenda serem aquelas superioras a estas, uma exigência
lógica. A superioridade daquelas, que se impõe aos próprios órgãos do
Estado, deriva de terem uma origem distinta, provindo de um poder que é
fonte de todos os demais, pois é o que constitui o Estado, estabelecendo
seus poderes, atribuindo-lhes e limitando-lhes a competência: o Poder
Constituinte.
Portanto, conclui o autor, deve-se reconhecer a existência de um poder
constituinte do Estado e dos poderes deste, os constituídos. O próprio Sieyès, ao
escrever a obra “O Que É o Terceiro Estado?”, faz essa diferenciação, como bem
destacam Barroso (2013), Branco (2014) e Falcão (2014).
O poder constituinte, que Barroso (2013) identifica na obra de Sieyès como
incondicionado e permanente, seria a vontade da nação, que só encontraria limites
no direito natural. Por sua vez, o poder constituído receberia do primeiro sua
existência e competências, sendo juridicamente limitado.
17
Falcão (2014), da mesma forma, percebe que Sieyès elaborou uma
importante distinção entre poder constituinte e constituído, reconhecendo, no
primeiro, a soberania popular. Em sua interpretação, acredita que o autor sustentava
“(...) que ao delegar parte de seu poder às autoridades, o povo ainda assim
conserva seu poder constituinte, não estando vinculado, portanto, à Constituição.
Tratou em sua teoria, também, da concepção de autonomia do poder constituinte”.
Identificando a mesma lógica no pensamento, Barros o aprofunda
explicando que “A existência de um poder constituinte anterior e superior aos
poderes constituídos é exigência lógica. Se existe um fato constituído, antes dele
existe um fator constituinte, que é superior a ele, porque é causa dele”. Para
demonstrar o fundamento de sua dedução na obra de Sieyès (p. 30), destaca o
trecho:
Essas leis são chamadas de fundamentais, não no sentido de que possam
tornar-se independentes da vontade nacional, mas porque os corpos que
existem e agem por elas não podem tocá-las. Em cada parte, a Constituição
não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte.
Branco (2014, p. 103), já fazendo relação com o conceito de poder
constituinte originário, diferencia afirmando que “Sieyès enfatiza que a Constituição
é produto do poder constituinte originário, que gera e organiza os poderes do Estado
(os poderes constituídos), sendo, até por isso, superior a eles”.
Por sua vez, Tavares (2011) faz interessante observação, destacando um
problema nas expressões utilizadas pela doutrina brasileira no estudo do tema. É
tradicional a distinção entre “poder constituinte originário” e “poder constituinte
derivado”, o que pode induzir em erro em razão de não ser o elemento constitutivo
traço comum a todas as espécies. Identifica essa situação como um problema
terminológico com o qual se deparam os estudiosos de Direito Constitucional.
Também tentando explicar as expressões utilizadas, Novelino (2014)
destaca que poder constituinte originário refere-se ao poder instituidor da
Constituição, diferenciando-se, assim, do poder responsável pela alteração do texto
18
constitucional (poder constituinte derivado) e do encarregado da Constituição dos
Estados-membros (poder constituinte decorrente).
Feita a observação, com tal cautela, é preciso conceituar o poder
constituinte originário, objeto da pesquisa. Rios Júnior (2013) relaciona o poder
constituinte com o surgimento do próprio Direito, dizendo ser aquele que inaugura
um “novo direito” em uma sociedade.
Fernandes (2014), conceitua-o partindo da afirmação de que tal poder visa a
produção de uma constituição. Nesse sentido, entende o autor tratar-se o poder
constituinte de “(...) uma prerrogativa extraordinária que ocorre em um momento
extraordinário e que visa à desconstituição de uma ordem anterior e a constituição
de uma nova ordem constitucional” (FERNANDES, 2014, p. 123). Seria um poder
desconstitutivo/constitutivo ou de despositivação/positivação.
Novelino (2014), concordando com o posicionamento de Anna Cândida
Ferraz (1979, p. 14), citando-a, conceitua como um poder
(...) que intervém para estabelecer a Constituição, tendo capacidade de
organizar o Estado, sem nenhuma limitação ou condicionamento do direito
positivo anterior. O Poder Constituinte Originário manifesta-se para criar a
ordem jurídica interna e em sua obra fundamentam-se todas as instituições
do Estado.
Branco (2014) constrói o conceito partindo do pressuposto de não retirar a
Constituição seu fundamento de validade de um diploma legal, mas se firmar pela
vontade das forças determinantes da sociedade. Define como “a força política
consciente de si que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência na
comunidade política” (BRANCO, 2014, p. 103).
Em harmonia com os demais autores, Lenza (2014), identificando o poder
constituinte originário também como inicial, inaugural, genuíno ou de 1º grau,
conceitua-o como o responsável por instaurar uma nova ordem jurídica, em
completo rompimento com a ordem jurídica anterior. Objetiva, portanto, na visão do
autor, a criação de um novo Estado.
19
Ferreira Filho (2011), defende que quando se fala em poder constituinte, é
ao originário que se faz referência. Como também observa Tavares (2011), o autor
afirma que os poderes constituídos são impropriamente chamados de constituintes.
O poder constituinte é aquele que, editando Constituição nova ou dando
organização a um novo Estado, substitui uma ordem anterior. A essência está na
atividade criativa original.
E a quem caberia a titularidade do poder constituinte? Analisando a obra de
Sieyès, Branco (2014) percebe que, na teoria do autor, havia uma discussão sobre
legitimação do poder que vigia. Discorrendo sobre quem é o Terceiro Estado, Sieyès
questiona a inexistência de uma representação igualitária entre nobreza, alto clero e
o Terceiro Estado, que engloba todo o resto, incluindo a nobreza (RIOS JUNIOR,
2013).
O chamado Terceiro Estado – que englobava quem não pertencesse à
nobreza ou ao alto clero, e que, portanto, incluía a burguesia –, embora
fosse quem produzisse a riqueza do país, não dispunha de privilégios e não
tinha a voz ativa na condução política do Estado (BRANCO, 2014, p. 103).
Para a elaboração de uma nova Constituição, com a convocação dos
Estados Gerais, na França, reunir-se-iam representantes da nobreza, do clero e do
“povo” (os três Estados), que teriam voto por classe. Assim havia grande
desproporcionalidade, vez que o povo, mesmo em número muito superior, tinha
seus interesses ignorados em razão de restar como minoria diante da estreita
relação existente entre o clero e a nobreza para manutenção de seus interesses
(RIOS JUNIOR, 2013).
Sieyès procurou, então, desenvolver uma teoria que fundamentasse a
origem do poder e a própria legitimidade do poder jurídico em uma representação da
vontade geral. A nação seria a única e verdadeira detentora do poder, e todo poder
que não partisse dela ou fosse contrário, seria ilegítimo (RIOS JUNIOR, 2013).
Seguindo tal pensamento, Fernandes (2014, p. 123) explica que, na visão
clássica, o poder constituinte originário “representava um modo de legitimação do
poder político da nação (seu titular), que criava uma nova ordem para a sociedade,
quebrando com uma ordem eminentemente tradicional (dinástica) anterior”.
20
O reconhecimento da vontade comum na vontade da maioria, pela teoria de
Sieyès, é uma máxima incontestável. Sobre o tema, Novelino (2014, p. 50) entende
que
Em um de seus aspectos, o Terceiro Estado é a nação, sendo que, como
tal, seus representantes formam a Assembleia Nacional e detêm todos os
seus poderes. Por serem os verdadeiros depositários da vontade nacional,
cabe aos representantes do Terceiro Estado falar em nome de toda a
nação.
Modernamente, como apontam Lenza (2014) e Branco (2014), a titularidade
pertence ao povo que, sendo mais que um conjunto de pessoas vinculadas por sua
origem étnica ou pela cultura comum, é, no conceito de Böckenförde (apud
BRANCO, 2014, p. 104), “um grupo de pessoas que se delimita e se reúne
politicamente, que é consciente de si mesmo como magnitude política e que entra
na história atuando como tal”.
Assim, Sieyès desenvolveu sua teoria buscando legitimar uma mudança na
titularidade do poder, do qual a nação passa a ser reconhecida como titular. Nesse
ponto, é oportuna a diferenciação entre titularidade e exercício feita por Novelino
(2014, p. 51), para o qual “Titular é aquele que detém o poder, ainda que, em certos
casos, este seja exercido por outros agentes”.
Com a ideia de soberania nacional sustentada pela teoria de Sieyès, o poder
constituinte deixava as mãos tanto do monarca quanto dos poderes constituídos,
passando a nação. Entretanto, combinando o poder constituinte com um sistema
representativo, o autor admitiu que a Constituição fosse elaborada não diretamente
pelos titulares, mas por representantes extraordinários que comporiam uma
assembleia constituinte apta a expressar a vontade da nação (BARROSO, 2013).
Analisando a proposta de Sieyès, Bonavides (2012) diz que o autor
engenhosamente insere o poder constituinte na moldura do regime representativo.
Teoricamente, isso atenuaria as consequências do sistema de soberania popular
preconizado por Rousseau no qual o povo é a fonte da qual procedem todos os
poderes públicos.
21
Essa representação da vontade nacional por parte dos que Sieyès chama de
representantes extraordinários ia ao encontro dos interesses da burguesia na
Revolução Francesa, ansiosa por representar o povo para atuar como poder
constituinte originário (BRANCO, 2014).
Tradicionalmente, existem algumas características citadas que diferenciam o
poder constituinte originário dos poderes constituídos. Como muito bem explica
Novelino (2014), nessa caracterização, é possível percebermos uma variação
dualista na qual positivistas e jusnaturalistas têm visões diferentes sobre o que
caracteriza o poder constituinte originário. Nesse sentido, o autor indica, dentro de
uma visão positivista, as seguintes características:
I)
Inicial: inexiste qualquer outro antes ou acima dele;
II)
Autônomo: cabe apenas ao seu titular a escolha do conteúdo a ser
consagrado na Constituição;
III)
Incondicionado: não se submete a nenhuma regra de forma ou de
conteúdo.
Ainda sobre o tema, Novelino (2014) identifica as características
apresentadas por Sieyès em sua obra, sob um viés jusnaturalista. O poder
constituinte caracteriza-se por ser:
I)
Limitado: submete-se aos princípios do direito natural, que servem
como limite, apesar de ser incondicionado juridicamente pelo direito positivo;
II)
Permanente: continua existindo mesmo após a concretização da
Constituição, não se exaurindo no ato;
III)
Inalienável: sua titularidade não é passível de transferência, pois a
nação nunca perde o poder de querer mudar sua vontade.
Discorrendo sobre a caracterização com mais profundidade, Fernandes
(2014) descreve cinco características que atribui ao poder constituinte originário,
dando especial destaque à questão da limitação. De acordo com o autor,
caracteriza-se como:
22
I)
Inicial: é o marco inicial de uma ordem jurídica e de um Estado,
rompendo com o anteriormente estabelecido. A corrente majoritária, pelo que
afirma o autor, entende que no momento de ruptura jurídico-política, o poder
constituinte originário estabelece um Estado Novo;
II)
Autônomo: a fixação das bases em que a nova Constituição será
estabelecida e qual o direito a ser implantado só cabe a ele;
III)
Incondicionado: as regras procedimentais que guiam a elaboração de
um novo texto constitucional não estão prefixadas, sendo o próprio poder apto a
cria-las;
IV)
Permanente: continua presente em estado de latência, não se
exaurindo com a elaboração da nova Constituição. O autor salienta residir nessa
característica a diferença entre titularidade e exercício do poder, distinguindo-se
o povo do agente do poder constituinte que recebe o mandato para redação
constitucional. Apenas o que chama de poder constituinte material seria
permanente, o formal, dos quais os agentes são dotados, não;
V)
Ilimitado: nesse ponto, indica a existência de três teorias.
A primeira dessas teorias, a jusnaturalista, é a presente na obra de Sieyès.
Para seus adeptos, o poder constituinte originário não é ilimitado, guardando limites
nos princípios do Direito natural. Dentro da obra do francês, indo ao encontro do
exposto por Fernandes (2014), é possível citar trecho no qual Sieyès (p. 30), em sua
obra, afirma que “A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade
sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela só existe o direito natural”.
Dentro dessa visão jusnaturalista, Barros explica que a adoção da teoria
implica em dizer que o direito já existe de forma natural antes de ser positivado pelo
legislador. Dessa forma, o direito positivo não é nada além da formalização que
desdobra e aprimora o conteúdo e a expressão do anterior e superior direito natural,
ficando subordinado a este, que limita o legislador constituinte.
Em perfeita harmonia está a posição de Falcão (2014) para o qual, em uma
corrente jusnaturalista, o fato de inexistir vinculação entre o poder constituinte
originário e qualquer regra ou norma jurídica pré-existente não confere um caráter
23
ilimitado a ele. Significa apenas que o poder não está sujeito a influências jurídicas
anteriores do Estado que se supera.
A segunda teoria apresentada por Fernandes (2014) para explicar a
limitação ou não do poder constituinte originário é a positivista, que tem como autor
mais célebre Hans Kelsen. Segundo os adeptos dessa linha, sendo o poder um
marco inicial na criação de uma nova ordem jurídica, é ilimitado.
Para entender melhor a questão, Ferreira Filho (2012) explica que, para esta
escola, o direito somente é direito quando positivo, o que significa dizer que inexiste
algo anterior a ele. Sendo consenso que o poder constituinte originário não encontra
limites na ordem jurídica anterior, por entenderem que não existe Direito que não o
positivo, fica claro o motivo pelo qual, em uma visão positivista, caracteriza-se o
poder constituinte como ilimitado.
No mesmo sentido, Barros diz que o positivismo jurídico não admite senão o
direito positivo, que histórica e hierarquicamente principia com a Constituição. Assim,
não há direito anterior à entrada em vigor da nova Constituição que surge com o
novo Estado.
Os que se posicionam em alinho com tal teoria sustentam a inexistência de
Direito natural nascido anteriormente ao positivo. Antes da Constituição, não há
direito sobre ou contra ela, sendo, portanto, verdadeiramente ilimitado o poder
constituinte originário (BARROS).
Por fim, Fernandes (2014, p. 126) apresenta uma terceira teoria, que
também defende a existência de limites ao poder constituinte, com tendência
sociológica. Segundo esta, há autonomia em razão de exercer funções ilimitadas do
ponto de vista do Direito positivo, não encontrando obstáculos na ordem jurídica
anterior, porém, guarda limites no movimento revolucionário que fez com que se
manifestasse. Exemplificando, o autor acrescenta:
Seria inconcebível, após a Revolução socialista, a elaboração de uma
Constituição czarista ou mesmo capitalista na nova Rússia, que se
descortina fruto da referida Revolução de 1917. No mesmo sentido, não
24
seria viável após a ruptura com a ditadura e o advento da democracia, que
a Constituição de 1988 fosse em sua essência fechada, antidemocrática,
não dotada de pluralismo e contrária aos cânones democráticos que
estavam se afirmando após a eleição de Tancredo Neves em 1985.
Nesse ponto, também reconhece a limitação do poder constituinte originário
Barroso (2013, p. 133), afirmando que seu exercício e sua obra devem ser pautados
pela realidade fática. Contemporaneamente, na visão do jurista, “é a observância de
critérios básicos de justiça que diferencia o direito do ‘não direito’”.
A escola de destaque, no momento histórico do desenvolvimento da teoria
do poder constituinte, é a jusnaturalista, tendo sido esta a adotada por Sieyès, como
já referido anteriormente. Os outros dois posicionamentos serão desenvolvidos em
momento distinto durante a pesquisa.
1.3 PODER CONSTITUINTE DERIVADO
O poder constituinte derivado, também chamado por Lenza (2014) de
instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente, como
sugerem as nomenclaturas, é criado pelo originário. Justamente por isso, por
descender do poder inicial, sua limitação é indiscutível.
Como características, Ferreira Filho (2012) o identifica como derivado (por
ser proveniente do originário), subordinado (por estar abaixo e ser limitado pelo
primeiro) e condicionado (só podendo agir nas condições pré-fixadas) pelo poder
constituinte originário.
Novelino (2014, p. 55), por sua vez, sem descer a pormenores explicando
sua posição, entende tratar-se de “um poder de direito, secundário, limitado e
condicionado”. Ainda, o jurista o visualiza como sendo dotado de características
diametralmente opostas às do poder constituinte originário.
Destaca-se que o poder derivado é limitado por ser positivado. Havendo a
Constituição, fruto de uma manifestação do poder originário, tudo o que derivar dela,
25
está condicionado e limitado ao seu conteúdo. São restrições que são impostas no
texto legislativo pelo constituinte originário (BARROS).
Após apresentar a ideia da Constituição como extrato da vontade nacional,
Sieyès (p. 31) busca desenvolver a ideia do poder constituído (ou derivado) dizendo
que “É possível conceber-se facilmente, em seguida, como as leis propriamente
ditas, as que protegem os cidadãos e decidem do interesse comum, são obra do
corpo legislativo formado e que se move de acordo com as condições constitutivas”.
Acrescenta o autor, diferenciando os poderes constituinte do constituído, que
“O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. Só é legal enquanto é
fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, só precisa de sua
realidade para ser sempre legal: ela é a origem de toda legalidade” (SIEYÈS, p. 31)
Criticando a nomenclatura que designa como “poder” constituinte derivado,
José Afonso da Silva (2012) explica seu entendimento usando como base a
Constituição brasileira, que conferiu ao Congresso Nacional a competência para
emenda-la.
O autor chama atenção para o fato de não pertencer ao Congresso o Poder,
mas a designação deriva de uma manifestação do poder constituinte originário. Por
esse motivo, acredita que o mais adequado seria utilizar a expressão “competência
constituinte derivada” (SILVA, 2012).
Hodiernamente, no Brasil, entende-se haver uma divisão no poder
constituinte derivado. Tavares (2011) desmembra-o em duas espécies: reformador
ou decorrente.
A primeira espécie, prevista no texto constitucional, presente nas
Constituições que não classificam-se como fixas (aquelas sem possibilidade de
modificação que não pelo poder constituinte que as elaborou) é responsável pela
alteração do texto, efetivando adaptações aos novos tempos (FERREIRA FILHO,
2012).
26
Bonavides (2012, p. 148) destaca que “a distinção fundamental entre poder
constituinte e poderes constituídos consentiu com o advento das Constituições
rígidas”. De fato, na obra de Sieyès, é possível identificar o gérmen da ideia na
preocupação
do
autor
em
diferenciar
os
representantes
ordinários
dos
extraordinários.
Uma Constituição classifica-se como rígida quando “o procedimento de
modificação da Constituição é mais complexo do que aquele estipulado para a
criação de legislação infraconstitucional” (BARROSO, 2013, p.104). Sieyès (p. 33)
indica a existência de representantes extraordinários, com competência distinta dos
responsáveis pela legislação ordinária, para decidir questões relativas à Constituição
quando houvesse questionamento.
Como é que um corpo constituído pode decidir sobre sua Constituição?
Uma ou várias partes integrantes de um corpo moral não são nada
separadamente. O poder só pertence ao conjunto. A partir do momento em
que uma parte reclama, não há mais conjunto; e se existisse, como é que
ele poderia julgar? Assim, devemos sentir que não mais haveria constituição
em um país desde o momento em que surgissem problemas entre suas
partes, se a nação não existisse independentemente de qualquer regra e de
qualquer forma constitucional.
A competência dos representantes ordinários se limitaria aos assuntos do
governo. Eles teriam a incumbência de exercer, em conformidade com o texto
constitucional, apenas uma porção da vontade comum que é necessária para a
“manutenção da administração” (SIEYÈS).
Já os representantes extraordinários possuem poderes especiais, conferidos
pela nação, não se limitando pelas formas constitucionais para regulamentar a
Constituição. “Como uma grande nação não pode, na realidade, se reunir todas as
vezes que circunstâncias fora da ordem comum exigem, é preciso que ela confie a
representantes extraordinários os poderes necessários a essas ocasiões” (SIEYÈS,
p. 34)
A segunda espécie do poder constituinte derivado, chamado de decorrente,
também deriva diretamente do poder originário, entretanto, não serve à revisão de
27
sua obra. Entre os poderes decorrente e reformador há um grau de liberdade
diferente, também havendo uma diferença hierárquica (TAVARES, 2011).
Fernandes (2014, p. 150), com base na obra de Alexandre de Moraes (2008)
o conceitua como um poder que “representa a possibilidade que os Estadosmembros, como consequência da autonomia político-administrativa garantida
constitucionalmente, têm de se auto-organizarem por meio de suas respectivas
Constituições estaduais”. É uma construção moderna, um desenvolvimento da teoria
do poder constituinte para abarcar novos fenômenos.
Também Novelino (2014, p. 53) faz interessantes apontamentos sobre o
tema. Citando os estudos de Ferraz (1979, p.19), aponta que esse poder possui
“caráter de complementaridade em relação à Constituição; destina-se a perfazer a
obra do Poder Constituinte Originário nos Estados Federais, para estabelecer a
Constituição dos seus Estados componentes”.
Sobre a natureza jurídica, é interessante o apontamento da obra de Raul
Machado Horta (apud NOVELINO, 2014, p. 54) que identifica nele uma duplicidade.
“É um poder originário em relação à Constituição do Estado-membro e, ao mesmo
tempo, é um poder derivado por ter sua origem na Constituição da República, cujos
princípios deverão ser obedecidos”.
Tendo sido feita a conceituação e os relevantes apontamentos sobre a teoria
do poder constituinte desenvolvida inicialmente por Sieyès, dando destaque ao
poder originário e sua limitação pelo direito natural, o foco volta-se para a segunda
guerra mundial e as circunstâncias e acontecimentos que guardam relação com o
tema da pesquisa. Nesse sentido, o esclarecimento da legitimação e legalidade do
regime nazista alemão ganha especial relevo.
2 LEGITIMAÇÃO DO REGIME NAZISTA ALEMÃO
Anos após a segunda grande guerra mundial, Hanna Arendt (2012) lançou a
um dos seus mais conhecidos livros, “Origens do Totalitarismo”, fruto de longos anos
de estudo que partem da história anterior ao nazismo (um regime totalitarista), o que
28
não poderia ignorar o antissemitismo e a história do povo judeu em suas relações
com o Estado, reflexões sobre a sociedade europeia e suas relações de poder que
criaram um cenário no qual as maiores catástrofes do mundo moderno se
desenvolveram.
A autora explica o desenvolvimento da obra no segundo pós-guerra,
momento “em que se podia elaborar e articular as perguntas com as quais a minha
geração havia sido obrigada a viver a maior parte da sua vida adulta: O que havia
acontecido? Por que havia acontecido? Como pôde ter acontecido?” (ARENDT,
2012, p. 415).
Diante dos resultados da perseguição (e tentativa de extermínio) judaica
promovida pelo regime nazista alemão, especialmente em face das consequências,
é comum que se julgue ter o regime girado em torno do antissemitismo. De fato, o
horror gerado diante do resultado de tal política deu à questão judaica grande relevo,
sendo impossível falar em segunda guerra mundial sem fazer tal relação. Entretanto,
(...) o que os nazistas apresentaram como sua principal descoberta - o
papel dos judeus na política - e o que propagavam como principal alvo - a
perseguição dos judeus no mundo inteiro - foi considerado pela opinião
pública mero pretexto, interessante truque demagógico para conquistar as
massas (ARENDT, 2012, p. 25).
A derrota da Alemanha nazista ao final da guerra pôs fim a um dos mais
obscuros momentos da história moderna, trazendo consigo um momento no qual se
olharam “os eventos contemporâneos com a retrospecção do historiador e o zelo
analítico do cientista político, a primeira oportunidade para tentar narrar e
compreender o que havia acontecido” (ARENDT, 2012, p. 415).
O início da análise, nesse sentido, se remete a períodos da história ainda
anteriores ao início da primeira guerra mundial, dedicando-se ao antissemitismo que
supera a mera antipatia ao povo judeu, tomando contornos políticos, e inicia uma
fase na qual há a instrumentalização do ódio e o surgimento dos primeiros partidos
antissemitas. Ainda, como observa Peter Pulzer (1988), o estudo do antissemitismo
está necessariamente ligado ao estudo, mesmo que feito de forma breve, de suas
vítimas, os judeus.
29
2.1 O ANTISSEMITISMO
Hanna Arendt (2012) diz ser difícil aceitar que o antissemitismo,
preexistente, possa ter sido a pedra sobre a qual se assentou o totalitarismo alemão.
Na história contemporânea, não há aspecto que cause mais estranhamento que o
fato de, entre tantas questões políticas fundamentais, o problema judaico tenha
posto em movimento um Estado que promoveu um inferno.
Apesar de fazer tais observações, a autora não nega a relação do
antissemitismo com a legitimação do regime nazista. Desenvolvendo o pensamento,
passa a falar sobre o terror como instrumento para governo de massas. Nesse
sentido, houve a escolha estratégica dos judeus.
O estabelecimento de um regime totalitário requer a apresentação do terror
como um instrumento necessário para a realização de uma ideologia
específica, e essa ideologia deve obter a adesão de muitos, até mesmo da
maioria, antes que o terror possa ser estabelecido. O que interessa ao
historiador é que os judeus, antes de se tornarem as principais vítimas do
terror moderno, constituíam o centro de interesse da ideologia nazista. Ora,
uma ideologia que tem de persuadir e mobilizar as massas não pode
escolher sua vítima arbitrariamente (ARENDT, 2012, p. 30).
A publicação do programa do Partido Nazista em 1920 já deixou clara a
adição do antissemitismo e da perseguição aos judeus como os princípios centrais
da ideologia nazista. Nos pontos do programa do Partido Nazista era publicamente
declarada a intenção de segregar os judeus da sociedade "ariana" e de revogar seus
direitos civis, políticos e legais (HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM).
Ao assumirem o poder, a promessa não foi abandonada, tendo os líderes
nazistas iniciado a perseguição aos judeus alemães. Pelo período da ditadura
hitlerista que antecedeu a guerra, de 1933 até 1939, os judeus sentiram os efeitos
de cerca de quatrocentos decretos e regulamentações, de escopo nacional, que
restringiam todos os aspectos de sua vida pública e privada. Nenhuma parte da
Alemanha esteve livre do antissemitismo e da perseguição (HOLOCAUST
MEMORIAL MUSEUM).
30
Entretanto, destaca-se que o modelo antissemita alemão já estava
plenamente desenvolvido na Alemanha do século XIX e início do XX. A propaganda
nazista simplesmente utilizou uma predisposição histórica do público para uma
explicação antissemita de ressentimentos culturais, econômicos e políticos da
Alemanha (LIMA; NORONHA). Nesse mesmo sentido:
O regime nazista não teria criado o ódio aos judeus, mas se aproveitado de
um sentimento antigo e disseminado pela sociedade alemã como um todo.
Tanto seria assim que as leis anti-semitas e o próprio Holocausto teriam
sido integralmente apoiados pela sociedade alemã, mesmo entre os grupos
(católicos, conservadores etc.) que, por outros motivos, opunham-se ao
menos parcialmente, ao Reich (BERTONHA, 1999).
O caso Dreyfus, ocorrido na França, merece destaque vez que pode ser
visto como uma revelação das potencialidades do antissemitismo na Europa como
"importante arma política dentro da estrutura política do século XIX" (ARENDT,
2012, p. 35). Entretanto, antes de adentrar na análise do caso, existem
apontamentos históricos sobre o nascimento do antissemitismo, surgido muito antes
dos primeiros partidos na década de 1870.
Os judeus, desde o século XVII, mantiveram estreitas relações com o
Estado, com a aristocracia. Em diversos países, em grupos e individualmente,
financiaram e cuidaram das finanças do Estado-nação e aristocracia. A nação
judaica foi a única a não ter um território, mas os indivíduos dentro dos países
constantemente desenvolviam papéis importantes (BRUSTEIN, 2003).
Entretanto, Arendt (2012) avalia que os judeus não tinham conhecimento ou
interesse pelo poder que tinham em um contexto intereuropeu, havendo a
possibilidade de ser explicado o papel de "poder mundial secreto" atribuído ao povo
judeu também em razão da forma como os banqueiros judeus transferiam sua
lealdade de um governo para outro, mesmo após mudanças revolucionárias.
Estando isolados, os judeus não teriam sabido avaliar a gravidade do
antissemitismo e ignorado o momento em que a discriminação se transformou em
argumento político como resultado de um processo que durou mais de cem anos no
qual "(...) o antissemitismo havia, lenta e gradualmente, penetrado em quase todas
31
as camadas sociais em quase todos os países europeus, até emergir como a única
questão que podia unir a opinião pública" (ARENDT, 2012, p. 53).
Explicando o processo de maneira sintética, Arendt (2012, p. 54) diz ter sido
simples: "cada classe social que entrava em conflito com o Estado virava
antissemita, porque o único grupo que parecia representar o Estado, identificando-se
com ele servilmente, eram os judeus".
Ainda para ajudar no entendimento de como se desenvolveu o ódio aos
judeus e a ideia de existir uma sociedade secreta judia de âmbito internacional,
merece atenção o caso da família de Meyer Amschel Rothschild, com o
estabelecimento de seus cinco filhos nas cinco capitais financeiras da Europa:
Frankfurt, Paris, Londres, Nápoles e Viena (BRUSTEIN, 2003).
O ingresso no mundo dos grandes negócios ocorreu nos anos finais das
guerras napoleônicas, mas se consolida após a derrota de Napoleão, quando a
Europa "(...) precisava de elevados empréstimos para reorganizar suas máquinas
estatais e reconstituir estruturas financeiras" (ARENDT, 2012, p. 55).
Para que demonstrar a grandeza dos empreendimentos multinacionais
desenvolvidos, Brustein (2003) afirma ter a família Rothschild dominado por mais da
metade do século XIX o mercado financeiro. Ao final do século, os investimentos em
indústria haviam alcançado seis continentes.
Esse modelo mudou a estrutura de negócios estatais judaicos, havendo "o
aproveitamento sistemático das oportunidades esparsas por uma única firma,
fisicamente presente em todas as importantes capitais europeias, e em constante
contato com todas as camadas do povo judeu (...)" (ARENDT, 2012, p. 56).
A construção da ideia de que os judeus eram um conjunto, unidos por laços
mais estreitos que os sanguíneos, ocorre concomitantemente na sociedade e dentro
do próprio povo judeu, reforçando-se pela percepção do ocorrido com a família
Rothschild, unidos internacionalmente (ARENDT, 2012).
32
Em adição, começam a ser desenvolvidas diversas teorias que os
estudavam não como pertencentes a uma religião, mas uma raça diferente. Os
judeus se tornaram o principal alvo das doutrinas e ideologias que definiam grupos
humanos por laços de sangue e por características genéticas familiares, que serve
de base para o antissemitismo racista no qual se baseou a perseguição e execução
em massa durante a segunda guerra mundial (LAQUEUR, 2008).
O povo judeu, sem ter um território, sobrevivendo em ambiente hostil e
estranho, começa a considerar os membros de seu grupo como integrantes de uma
grande família, o que significa que a ideia antissemita de estarem todos ligados por
estreitos laços tinha afinidade com a ideia que os próprios judeus faziam de si
mesmos (ARENDT, 2012).
Nesse ponto, os judeus passam a ser vistos pelos antissemitas como uma
organização de comércio internacional, "uma força secreta atrás do trono",
manipulando os governos e governantes. A íntima relação com o poder estatal, o
desligamento da sociedade e a concentração em fechados círculos familiares os
tornavam alvo de suspeitas de tramas para a destruição da sociedade e suas
estruturas (ARENDT, 2012).
Era frequente afirmar-se que os judeus tinham predominância em certas
ocupações e profissões, tendo uma predileção por atividades intermediárias que não
de produção de bens. Desenvolve-se uma crença na dominação judaica da política,
da imprensa, das finanças e outros setores que seriam instrumentos para comandar,
influenciar e explorar, parasitando-se o trabalho produtor dos demais membros da
nação (PULZER, 1988).
Os primeiros partidos antissemitas, surgidos nos últimos vinte anos do
século XIX, tinham a intenção estar acima dos demais, não sendo apenas mais um
partido. O interesse dos partidos antissemitas era de representar toda a nação,
apoderando-se da máquina estatal. Àquela época, só o Estado e o governo estavam
acima dos partidos e classes, representando a nação como um todo (ARENDT,
2012).
33
Os partidos eram reconhecidamente grupos cujos deputados
representavam os interesses de seus eleitores. Embora lutassem pelo
poder, ficava implícito que cabia ao governo estabelecer o equilíbrio entre
os interesses em conflito e entre seus representantes (ARENDT, 2012, p.
71).
Nesse ponto, a autora ressalta que os partidos antissemitas não surgem
apenas para o antissemitismo. Se fosse o caso, desejando apenas livrarem-se dos
judeus, não haveria a necessidade de criação de um partido, mas apenas
disseminar o ódio aos judeus a ponto de que todos os partidos se tornassem hostis
aos judeus (ARENDT, 2012).
Os antissemitas estavam convencidos de que a sua pretensão de tomar o
poder absoluto não era outra coisa senão aquilo que os judeus já haviam
conseguido, e que o seu antissemitismo era justificado pela necessidade de
eliminar os reais ocupantes dos postos de mando: os judeus. Assim, era
necessário ingressar na área da luta contra os judeus para conquistar o
poder político (ARENDT, 2012, p. 73).
Outra característica dos partidos antissemitas é organização supranacional
desses partidos que revela a pretensão de, além de conquistar o poder político da
nação, criar um governo intereuropeu acima de todas as nações. Nesse sentido,
Brito e Souza Júnior (2013, p. 42) identificam uma “pretensão de expansão
internacional para conquista mundial, que o leva a não admitir adversários políticos”.
Parte do ódio histórico na Europa se deu, como afirmam Brito e Souza
Júnior (2013), em razão da indicação do povo judaico como assassinos de Cristo,
que se prolonga no tempo como herança da Idade Média. Esse antissemitismo que
tinha fundo religioso passa por um processo de evolução durante o século XIX
transformando-se em argumento político, quando os judeus passam a ser vistos não
em contraposição aos cristãos, mas como contraponto dos nacionais (PULZER,
1988).
Nesse sentido, Arendt (2012, p. 91) aponta ser muito mais fácil para um
judeu austríaco ser aceito como austríaco na França do que na Áustria, o que
permitiria vislumbrar, de relance, o que aconteceria no futuro:
A espúria cidadania mundial dessa geração, essa nacionalidade fictícia que
sublinhavam sempre quando se mencionava sua origem judaica, já fazia
34
lembrar aqueles passaportes que, mais tarde, davam ao portador o direito
de passear em qualquer país, menos naquele que os emitia.
O
antissemitismo
apresentava
duas
faces
que
originaram-se
da
emancipação dos judeus com a garantia de direitos civis e políticos a eles: a mera
antipatia e o argumento político. Mesmo deixando de serem párias políticos e civis,
continuavam sendo párias sociais, havendo um descompasso entre a garantia da
igualdade legal e o trato social (ARENDT, 2012).
Em um processo que se inicia com a revolução francesa, os judeus deixam
de serem andarilhos sem cidadania e passam a viver sob a proteção do Estado
como cidadãos. Apesar de deixarem de viver isolados em suas comunidades
autônomas caminhando para uma assimilação, a rejeição antissemita negava o
caráter de “integrantes da nação” (SZNAIDER, 2010).
O caso Dreyfus aconteceu na França, no final do ano de 1894. Oficial judeu
do Estado-Maior francês, Alfred Dreyfus foi acusado e condenado à prisão perpétua
por espionagem em favor da Alemanha. O único documento exibido de todo o
dossiê da acusação foi uma carta supostamente escrita por Dreyfus ao adido militar
alemão Schwartz Koppen (ARENDT, 2012).
Entretanto, o que merece atenção no caso não são os aspectos legais, não
é o processo contra Dreyfus, com seus julgamentos, mas o caso, em suas
implicações, que contém uma antevisão do século XX. O caso Dreyfus se tornou um
símbolo do antissemitismo europeu (SZNAIDER, 2010).
A condenação de Dreyfus foi fruto do deliberado uso de um documento
forjado visando estigmatizar um judeu como traidor. Natan Sznaider (2010) afirma
que para muitos judeus, especialmente os sionistas, o caso marca o começo do fim
da emancipação judaica na Europa, mesmo décadas antes da subida ao poder dos
nazistas.
Para os partidários do antissemitismo na França, a suposta traição de
Dreyfus constituía uma evidência do antipatriotismo da comunidade judaica que
estaria disposta a vender segredos franceses para os alemães. Nesse sentido, os
35
antissemitas afirmavam ter Dreyfus agido sob ordens de banqueiros judeus
(BRUSTEIN, 2003).
O caso havia revelado a força e violência do antissemitismo, demonstrando
a visão sobre o povo judeu como párias sem nação aos quais se nega honra e
dignidade. Os judeus tinham muitas particularidades para serem considerados
integrantes de um determinado Estado-nação e sua caracterização era muito
universal para que fossem identificados como membros de uma comunidade que
não a judaica (SZNAIDER, 2010).
Hodiernamente, muitos ramos do povo judeu desapareceram, e a maioria
dos judeus que vivem fora de Israel não se identificam como membros de um grupo
exceto pela sua origem. Muitos não são mais praticantes da religião, certamente não
ortodoxos. Essa assimilação, entretanto, era quase inexistente no século XIX,
quando se percebia o povo judeu como uma minoria particular presente em vários
países do mundo (LAQUEUR, 2008).
2.2 O TOTALITARISMO
Hannah Arendt (2012) inicia sua fala sobre totalitarismo demonstrando que
os regimes totalitaristas se sustentam pela popularidade dos líderes e que tais
regimes só se mantêm pelo apoio das massas. Em concordância, Brito e Souza
Júnior (2013) afirmam que os regimes totalitários centralizam seu apoio político nas
massas. A ascensão de Hitler ao poder, nesse sentido, como indica, ocorreu dentro
do sistema majoritário,
(...) ele não poderia ter mantido a liderança de tão grande população,
sobrevivido a tantas crises internas e externas, e enfrentado tantos perigos
de lutas intrapartidárias, se não tivesse contado com a confiança das
massas. (ARENDT, 2012, p. 435)
A popularidade, porém, não era simples fruto de uma propaganda partidária
que arrolava a ignorância. Apesar de seu caráter criminoso, o regime totalitário
alemão contava com o apoio das massas (OLIVEIRA, 2012). Nesse ponto, é de se
36
questionar o quanto sabia a população alemã sobre a “solução final” com a
eliminação física dos judeus em campos de concentração.
De acordo com os estudos feitos por Robert Gellately (2001), havia não
apenas conhecimento sobre as mortes dentro dos campos de concentração como
também uma ativa participação da população. Sem o consentimento popular, afirma
o autor, o regime não teria conseguido estabelecer tão refinado aparato de
repressão.
No mesmo sentido, Daniel Jonah Goldhagen (1996) confirma ter sido o povo
alemão ativo e voluntário carrasco dos judeus. O autor refuta as teses de
cumprimento de ordens contra a vontade ou mera obediência à lei em
procedimentos burocráticos e afirma no antissemitismo a razão das ações.
Os movimentos totalitários visam a organização das massas, não das
classes ou cidadãos, especialmente porque dependem da força bruta. Surgem no
período do primeiro pós-guerra resultantes de uma onda antidemocrática e próditatorial (ARENDT, 2012).
Sobre o conceito de massa Arent (2012, p. 439) indica duas características
que se apresentam cumulativamente ou não: são pessoas que, devido ao seu
número ou sua indiferença, “ou uma mistura de ambos, não se podem integrar numa
organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização
profissional ou sindicato de trabalhadores”. São pessoas neutras e politicamente
indiferentes.
No mesmo sentido, Brito e Souza Júnior (2013) afirmam das massas o
caráter apolítico (que não se organizavam politicamente) e o fato de não possuírem
interesse comum como em sindicados ou organizações profissionais, o que
significava um impedimento ao desenvolvimento de uma consciência de classe.
Foram essas as pessoas recrutadas na ascensão do movimento nazista da
Alemanha,
abandonadas
pelos
outros
partidos,
uma
massa
de
pessoas
aparentemente indiferentes. Esse movimento quebrou o mito de que todo indivíduo
37
simpatizava com um partido ou outro, participando todos ativamente de um processo
democrático, demonstrando que
(...) as massas politicamente neutras e indiferentes podiam facilmente
constituir a maioria num país de governo democrático e que, portanto, uma
democracia podia funcionar de acordo com normas que, na verdade, eram
aceitas apenas por uma minoria (ARENDT, 2012, p. 440-441).
É interessante notar que apesar de normalmente ser feita relação do regime
totalitário alemão com um Estado ditatorial, a subida ao poder ocorreu em razão do
apoio popular, dentro de um processo democrático. O partido e o ideário nazismo
surgiram e se popularizaram não por imposição, mas por adoção das massas
(OLIVEIRA, 2012).
Outro mito quebrado foi o de que os politicamente indiferentes não tinham
importância, apenas constituindo um pano de fundo sobre o qual a vida política da
nação se desenvolvia. O fenômeno, de acordo com Hannah Arendt (2012, p. 440)
demonstrou que “o governo democrático repousava na silenciosa tolerância e
aprovação dos setores indiferentes e desarticulados do povo, tanto quanto nas
instituições e organizações articuladas e visíveis do país”.
Assim, os movimentos totalitários são organizações maciças compostas por
indivíduos isolados, não grupos. Distinguem-se dos demais na exigência de lealdade
total, incondicional e inalterável de cada membro, feita pelo líder mesmo antes da
tomada do poder. (ARENDT, 2012, p. 454).
A propaganda, a doutrinação, o terror e a violência são importantes
instrumentos para o regime totalitarista para conquista e manutenção do controle
sobre as massas. “Nos territórios ocupados da Europa oriental, os nazistas se
utilizaram, no início, de propaganda antissemita principalmente para assegurar um
controle mais firme da população” (ARENDT, 2012, p. 475).
O desenvolvimento de um refinado aparato publicitário para disseminação
da propaganda nazista, que chega até mesmo ao controle da imprensa, foi crucial
para controle das massas e manipulação da opinião pública. Entretanto, mais do que
38
persuasão, visa reforçar, refinar e focar tendências e sentimentos já existentes,
como o antissemitismo (WELCH, 2002).
Nesse sentido, não é crível que apenas a propaganda tenha sido o bastante
para que o partido nazista e sua ideologia conseguissem apoio e adesão das
massas e, uma vez no poder, tivesse conseguido se manter no comando por mais
de duas décadas. As políticas e propagandas nazistas iam ao encontro das
aspirações de grandes parcelas do povo alemão (WELCH, 2002).
No estágio de dominação, cenário no qual inexiste oposição política, dirigem
a propaganda a um público de fora, tanto camadas não totalitárias da população
como para países não totalitários do exterior. Mesmo após atingido este estágio, a
propaganda pode ainda ser dirigida a setores da sociedade cuja coordenação não
foi seguida da doutrinação suficiente (ARENDT, 2012).
Hitler dedicou um capítulo de seu livro Mein Kampf (Minha Luta) à exposição
de suas observações sobre a propaganda de guerra, quando fala sobre a forma que
os Aliados a utilizaram na primeira guerra mundial em comparação crítica com a
forma como a Alemanha se utilizou desta. Conclui que a propaganda alemã durante
a primeira guerra foi insuficiente e psicologicamente errada (WELCH, 2002).
O Führer, influenciado pela propaganda utilizada em guerra, observa que
“(...) a arte da propaganda reside justamente na compreensão da mentalidade e dos
sentimentos da grande massa. Ela encontra, por forma psicologicamente certa, o
caminho para a atenção e para o coração do povo” (HITLER).
Arendt (2012) cita os discursos de Hitler e seus generais durante a segunda
guerra como verdadeiros modelos de propaganda, caracterizando-a pelas
“monstruosas mentiras” com as quais Führer tentava conquistar os que estariam na
esfera externa do movimento. Em alguns pontos, procurava-se imprimir caráter
científico às mentiras para dar maior legitimidade ao discurso, aperfeiçoando o
cientifismo ideológico.
39
Além dos segmentos da população não suficientemente doutrinados, a
esfera externa é representada pelo grupo de simpatizantes que ainda não estavam
prontos para aceitar os verdadeiros alvos do movimento. Até mesmo alguns dos “(...)
membros do partido são considerados, pelo círculo íntimo do Führer ou pelos
membros das formações de elite, como pertencentes a esfera externa e ainda
necessitados de propaganda, já que não podem ainda ser dominados” (ARENDT,
2012, p. 475).
Dentro da propaganda nazista, a mais eficaz ficção foi a da existência de
uma conspiração mundial de judeus. Era eficiente, mesmo que comum desde o final
do século XIX, e passa a ser reforçada pela pseudociência racial nazista à medida
que o partido se expande e ganha poder na Alemanha (ARENDT, 2012).
O uso da ciência para basear o “racismo contra judeus”, entretanto, também
não foi novidade ou inovação do nazismo. Brunstein (2003) fala de teorias raciais em
outros países europeus para explicar a superioridade cultural e industrial, além de
justificar a exploração Colonialista. Mais próximo, na Itália, cita a obra do médico e
criminologista Cesare Lombroso.
A ideia de existência de uma conspiração mundial judaica, como já exposto,
não era nova nem original, desde o século XVIII havia uma noção exagerada do
poder mundial dos judeus. Confabulações sobre uma conspiração mundial judaica
eram vinculadas desde o Caso Dreyfus. Os nazistas agiam como se o mundo fosse
realmente dominado pelo povo judeu e fosse necessária uma “contraconspiração”
para que pudessem se defender (WELCH, 2002).
Quanto mais constantemente os partidos e órgãos da opinião pública
evitavam discutir a questão judaica, mais a ralé se convencia de que os
judeus eram os verdadeiros representantes das autoridades constituídas, e
de que a questão judaica era símbolo da hipocrisia e da desonestidade de
todo o sistema (ARENDT, 2012, p. 489).
Mais um trecho do livro de Hitler merece ser citado sobre o assunto da
existência de um plano para a dominação mundial por parte de uma organização
internacional de judeus:
40
Assim como outros povos não desistem, por si, de expandir o seu poder e
são levados a isso por circunstâncias exteriores sob pena de diminuírem de
importância. Assim também o judeu não renuncia espontaneamente a sua
aspiração de uma ditadura mundial, nem reprime o seu eterno desejo nesse
sentido. Ou ele será repelido por forças exteriores para outro caminho ou o
seu desejo de domínio universal só desaparecerá com a extinção da raça
(HITLER).
A questão judaica tinha posição central na propaganda nazista, chegando a
exigir-se comprovação de ascendência não judaica para que se pudesse integrar o
partido. O antissemitismo já não era questão de política nacional ou uma opinião
acerca de uma minoria, mas tornou-se uma preocupação íntima de todo indivíduo.
Não havendo grande inovação no antissemitismo nazista, sendo evidentes as
opiniões dos círculos nacionalistas, o diferencial repousava na habilidade oratória e
demagógica com as quais eram apresentadas. (ARENDT, 2012).
A ilusão de um domínio mundial judeu era a base sobre a qual se assentava
a ilusão de um futuro domínio mundial alemão. A conquista mundial seria uma
possibilidade, insinuando-se que o único obstáculo era uma minoria, os judeus. A
propaganda reunia toda essa promissora visão em um só conceito, chamado de
Volksgemeinschaft (ARENDT, 2012).
O conceito baseava-se na igualdade de natureza de todos os alemães
(negando tal qualidade aos judeus) e na supremacia que os diferenciava de todos os
outros povos. Porém, Volksgemeinschaft era apenas uma preparação para uma
sociedade racial “ariana” que suplantaria todos os demais povos (ARENDT, 2012). O
Estado, para Hitler, seria apenas um meio para a preservação da raça.
A verdade é que o mundo passa por grandes transformações. A única
questão a saber é se o resultado final será a favor da raça ariana ou em
proveito do eterno judeu. A tarefa do Estado nacionalista será, por isso, a de
preservar a raça e prepará-la para as grandes e finais decisões, por meio da
educação apropriada da mocidade. A nação que primeiro entrar no campo
da luta alcançará a vitória (HITLER).
O racismo não era algo que pudesse ser debatido, atribuindo-se valor
científico às afirmações de supremacia, era uma realidade prática dentro de uma
hierarquia política na qual verdadeiramente irreal seria discuti-la. Nesse sentido,
anota Arendt (2012, 498):
41
Na Alemanha nazista, duvidar da validade do racismo e do antissemitismo,
quando uma carreira dependia de uma fisionomia “ariana” (...) e a
quantidade de comida que cabia a uma pessoa dependia do número dos
seus avós judeus, era como colocar em dúvida a própria existência do
mundo.
Com base na defesa de tal supremacia racial, foram editadas diversas leis,
das quais é possível citar as Leis de Nuremberg para exemplificação. A condição
judaica foi transformada numa sub-humana na Alemanha e os judeus foram
desprovidos de qualquer vestígio de direitos civis (MILMAN, 2004).
As Leis de Nuremberg não definiam quem era judeu pela crença religiosa. A
condição de judeu era determinada por parentesco, era qualquer pessoa que tivesse
três ou quatro avôs judeus, mesmo que esta pessoa não se identificasse como tal e
não participasse da vida cultural e religiosa judaica. Tais leis negavam a cidadania
alemã aos judeus e os proibiam de casar ou manter relações sexuais com “alemães
ou alguém de sangue alemão” (HOLOCAUT MEMORIAL MUSEUM).
2.3 LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VALIDADE
O regime nazista tratou a questão constitucional de forma peculiar. Nos
primeiros anos após galgarem o poder, foram criados vários decretos e leis,
entretanto, a Constituição de Weimar nunca fora oficialmente abolida. Após a
promulgação das Leis de Nuremberg (que baniram os judeus de todos os aspectos
da vida nacional), percebeu-se que nem mesmo as próprias leis eram respeitadas
pelo regime (ARENDT, 2012).
De modo geral, era impossível identificar a alçada e objetivo das instituições
estatais ou partidárias e da polícia secreta do Estado em razão de não definirem-se
pelas leis e normas que as regiam. Essa permanente ilegalidade correspondia ao
postulado de Hitler segundo o qual o Estado, nos moldes que pretendia, não deve
reconhecer qualquer diferença entre a lei e a ética (ARENDT, 2012, p. 533).
42
A explicação para tal declaração é interessante: “quando se presume que a
lei em vigor é idêntica à ética comum que emana da consciência de todos, então não
há mais necessidade de decretos públicos” (ARENDT, 2012, p. 533).
Como destaca Maliska (2001), com aporte em Reinhold Zippelius (1999),
sob o aspecto jurídico constitucional, o regime nazista, por suas características,
pode ser visto como “uma ditadura autocrática totalitária, centrada no Führerstaat,
em que o Führer centralizou em si toda a alta administração do Reich conduzindo,
com poderes amplos e totais, toda a movimentação da administração pública”
(MALISKA, 2001, p. 255).
O fundamento de validade do direito variava do Führerprinzip, ou princípio
da liderança, em tradução livre. Hitler concentrava todo o poder soberano do Estado,
a ele estava submetida toda a organização do poder público do Estado e do partido:
“O Poder Legislativo do Reich, a política externa, o comando das forças armadas, o
Poder Judiciário, enfim, toda a organização do Poder, estavam submetidos à
decisão individual do Führer” (MALISKA, 2001, p. 256).
O totalitarismo traz uma espécie totalmente diferente de governo. Apesar de
ser comumente feita a contraposição de governo legal e poder legítimo face ao
governo ilegal e poder arbitrário, o totalitarismo, de acordo com Arendt (2012, p.
613), não “(...) opera sem a orientação de uma lei, nem é arbitrário, pois afirma
obedecer rigorosa e inequivocamente àquelas leis da Natureza ou da História que
sempre acreditamos serem origem de todas as leis”.
Dentro do regime totalitarista, seria impossível falar em ilegalidade vez que o
governo totalitário recorre à fonte de autoridade da qual as leis positivas recebem a
sua legitimidade final. Da mesma forma, não é arbitrário, visto que pretende a
obediência a essas forças sobre-humanas em nível inalcançado por outro governo.
Também, “longe de exercer seu poder no interesse de um só homem, está
perfeitamente disposto a sacrificar os interesses vitais e imediatos de todos à
execução do que supõe ser a lei da História ou a lei da Natureza” (ARENDT, 2012,
p. 613).
43
Nigel Foster e Satish Sule (2010) afirmam que não houve uma nova
Constituição promulgada no período nazista alemão, mas a existente foi
substancialmente modificada e simplesmente ignorada nas partes em que
contrastava com os interesses totalitaristas. A Lei de Concessão de Plenos Poderes
dava poderes a Hitler para modificar o texto constitucional como bem entendesse,
tendo sido aprovada pelo Parlamento em 1933.
O desinteresse em criar um novo texto constitucional se explicaria pela
aversão do regime ao engessamento que a previsão poderia causar. Qualquer
norma que visasse a proteção de um indivíduo perdia validade frente poder
totalitarista, fenômeno sintetizado pela fórmula nazista "você não é nada, o seu povo
é tudo" (FOSTER; SULE, 2010).
Ao buscar uma forma superior de legitimidade, inspirando-se nas próprias
fontes, o governo totalitário acredita superar legalidades menores. Essa legalidade
totalitária “pretende haver encontrado um meio de estabelecer a lei da justiça na
terra – algo que a legalidade da lei positiva certamente nunca pôde conseguir”
(ARENDT, 2012, p. 614).
Esse descompasso entre legalidade e justiça ao qual procurava dar resposta
nunca fora corrigido porque os critérios de certo ou errado que a lei positiva procura
traduzir e sobre os quais se assenta sua legitimidade são
“(...) necessariamente gerais e devem ser válidos para um número sem
conta e imprevisível de casos, de sorte que cada caso individual concreto,
com o seu conjunto de circunstâncias irrepetitíveis, lhes escapa de certa
forma” (ARENDT, 2012, p. 614).
Entretanto, é importante destacar que esses critérios de certo ou errado que
são identificados como uma “lei natural” que governa todo o universo não guardam
relação com o Direito Natural. As leis raciais nazistas servem como exemplo de
expressão da lei da natureza invocada, fundando-se na ideia de Darwin do homem
como produto de uma evolução natural que não termina necessariamente na
espécie atual de seres humanos (ARENDT, 2012).
44
A visão nazista definia os parâmetros para o estabelecimento da lei não com
foco nos direitos do indivíduo, mas nos do povo, a serem definidos pelo Estado.
Pregava-se que o que quer que fosse bom para o Estado e para o povo era uma
meta estabelecida e deveria ser alcançada, independente de correção e valores
morais. (FOSTER; SULE, 2010).
Nesse sentido, a lei da Natureza teria identificação com a teoria
evolucionista proposta por Darwin, sobre a qual se fundaria o racismo, a
perseguição dos considerados inimigos da humanidade, a promoção da eugenia
pelo governo nazista. “Na prática, isso significa que o terror executa sem mais
delongas as sentenças de morte que a Natureza supostamente pronunciou contra
aquelas raças ou aqueles indivíduos que são ‘indignos de viver’” (ARENDT, 2012, p.
621).
É oportuno, diante de tal afirmação da autora, o destaque de um trecho da
mais conhecida obra do próprio Führer, Adolf Hitler, “Minha Luta”:
Os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado. Se, porém, na luta
pelos direitos humanos, uma raça é subjugada, significa isso que ela pesou
muito pouco na balança do destino para ter a felicidade de continuar a
existir neste mundo terrestre, pois quem não é capaz de lutar pela vida tem
o seu fim decretado pela providência. O mundo não foi feito para os povos
covardes (HITLER)
Sobre a prática dos que posteriormente foram classificados como crimes
contra a humanidade, destaca-se uma fala atribuída a Otto Adolf Eichmann por seu
advogado. Após ser capturado em um subúrbio de Buenos Aires em maio de 1960,
o nazista tenente-coronel do Serviço Secreto encarregado do transporte de judeus
para campos de concentração, foi levado a Israel para ser levado a julgamento pela
Corte Distrital de Jerusalém (ARENDT, 1999).
Sobre todas as acusações que lhe foram feitas no julgamento (crimes contra
o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, durante o período do
regime nazista e, especialmente, durante a segunda guerra mundial), se declarou
“inocente, no sentido da acusação”.
45
Entretanto, como bem destaca Arendt (1999), enviada pela revista The New
Yorker para fazer a cobertura do processo de Eichmann, ninguém lhe questionou em
que sentido ele se declarava culpado. O único pronunciamento que pode dar
resposta a tal questionamento, mesmo que não tenha sido oficialmente confirmado
pelo acusado, foi feito por seu advogado em uma entrevista à imprensa: “Eichmann
se considera culpado perante Deus, não perante a lei” (ARENDT, 1999, p. 32).
A defesa do réu baseou a inocência na alegação de que, dentro do sistema
legal nazista ao qual se submetia àquela época, não cometera qualquer crime.
Nesse sentido, o conteúdo das acusações, que tratavam como crime, seriam “atos
de Estado” sobre os quais outros Estados não teriam jurisdição (ARENDT, 1999).
“O que ele fizera era crime só retrospectivamente, e ele sempre fora um
cidadão respeitador das leis, porque as ordens de Hitler, que sem dúvida executou o
melhor que pôde, possuíam ‘força de lei’ no Terceiro Reich” (ARENDT, 1999, p. 35).
O posto de Führer assume uma dimensão formal, explicada pelas
necessidades do partido nazista de ter um comandante, e uma dimensão ideal. A
figura do líder seria responsável pela consubstanciação da verdadeira sabedoria e
vontade da comunidade, expressando-a através de suas ações. Navraj Sigh
Ghaleish e Christian Joerges (2003) em seu estudo da história legal da Alemanha
nazista, em harmonia com o já exposto, afirmam que Hitler detinha o poder de
decisão final sobre todas as questões.
Tal
linha
de
pensamento
pode
ser
entendida
como
recorrente,
contemporânea do período que antecede a guerra e do tempo de sua duração. Nos
julgamentos de Nuremberg, por exemplo, onde outros integrantes do regime nazista
foram julgados por crimes sem precedentes, sustentou-se tratarem-se de “ordens
superiores” ou “atos de Estado” (ARENDT, 1999).
Analisando o quadro construído, no qual uma lei era uma lei, devendo ser
cumprida, a sustentação das defesas dos nazistas julgados em Nuremberg de terem
sido os “crimes” cometidos por ordens superiores e/ou com base na legislação e que
a palavra do Führer tinha força de lei e era incontestável, é possível perceber a
46
presença de um fundamento formal de validade para o direito, o que leva à
discussão ao positivismo jurídico (MEDRADO, 2012).
2.3.1 Positivismo jurídico e poder constituinte
A discussão proposta por Hannah Arendt, como bem percebe Marcos
Augusto Maliska (2001, p. 254), “dá espaço para a reflexão sobre a questão moral e
o Estado, no momento em que a validade e eficácia de uma lei estejam reduzidas ao
cumprimento dos ditames formais de sua elaboração”.
De fato, durante seu julgamento, quando questionado sobre sua consciência
sobre os fatos, Eichmann respondeu que “se lembrava perfeitamente de que só
ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que lhe ordenavam –
embarcar milhões de homens, mulheres e crianças para a morte, com grande
aplicação e o mais meticuloso cuidado” (ARENDT, 1999, p. 37).
Percebe Maliska (2001, p. 255) que o comportamento de Eichmann, mais do
que uma declaração pessoal, revela uma postura presente nos agentes do Estado
“no sentido de observar cegamente o comando normativo sem qualquer reflexão de
conteúdo teleológico, que poderia pôr em questão a compatibilidade da norma a ser
cumprida com os valores morais que norteiam a sociedade”.
Vitor Amaral Medrado (2012), estudando a obra de Kant com aporte de
Travessoni Gomes (2004), explica que até o século XIX, havia o entendimento de
que a validade do Direito era extraída de uma ordem superior que determinava o
direito positivo. Dessa forma, através desse direito natural do qual se extraía o
fundamento de validade, era possível o julgamento do direito positivo como justo ou
injusto, válido ou inválido (GOMES, 2004).
O direito positivo até este século, portanto, tinha o seu conteúdo
determinado por outro direito, de origem supostamente diversa do direito
positivo e que, por constituir em um paradigma ao direito positivo, o
vinculava e lhe prestava fundamento de validade (MEDRADO, 2012).
Opondo-se ao jusnaturalismo, no final do século XIX, estrutura-se como
corrente jusfilosófica o positivismo, com expoente, entre outros, em Hans Kelsen.
47
Para os pensadores de tal escola, “a validade do direito é meramente formal, i.e,
inerente à própria forma da lei e não, como no naturalismo jurídico, inerente ao
conteúdo, à materialidade da lei” (MEDRADO, 2012).
Hans Kelsen (2005) propõe a inquestionabilidade da norma jurídica a
pretexto de seu conteúdo ser incompatível com valores morais ou políticos. A norma
fundamental de uma ordem jurídica é a regra postulada como definitiva, de acordo
com a qual as normas dessa ordem são estabelecidas e anuladas, recebendo ou
perdendo sua validade (KELSEN, 2005).
Pela visão do filósofo, como bem entendem Gladston Bernardes Rocha
Macedo e Ana Luiza de Oliveira Ribeiro (2014), são alheias ao objeto da ciência do
Direito “as questões morais, sobre a primazia ou desprezo de uma determinada
prescrição positiva, ou de cunho político ou sociológico, sobre a conveniência ou
inconveniência de uma dada disposição legislativa”.
No mesmo sentido, Robert Alexy (2009) afirma que todas as teorias
positivistas defendem que não existe nenhuma conexão conceitualmente necessária
entre o direito e a moral, “entre aquilo que o direito ordena e aquilo que a justiça
exige, ou entre o direito como ele é e como ele deve ser” (ALEXY, 2009, p. 3). Como
conclui Kelsen (2009, p. 221): “todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. Não há
qualquer conduta humana que, como tal, por força do seu conteúdo, esteja excluída
de ser conteúdo de uma norma jurídica”.
Assim, em um conceito positivista de direito, uma correção quanto ao
conteúdo, seja de que natureza for, não teria importância, pois o que é direito
depende exclusivamente do que é estabelecido em obediência à legalidade
conforme ordenamento/autoridade (ALEXY, 2009).
Pelo critério “legalidade conforme o ordenamento” a norma é entendida
como válida ou inválida à medida que preenche ou não os requisitos estabelecidos
pelo ordenamento jurídico, que pode versar sobre competência ou procedimento. A
expressão
“legalidade
conforme
autoridade”
estabelecimento de normas” (ALEXY, 2009, p. 4).
indica
“poder fáctico
para
o
48
Dentro dessa visão positivista, como explica Fernando Falcão (2014), já que
a essência da juridicidade era a obediência a regras formais para o ingresso de
novas normas no ordenamento jurídico, é admissível a introdução de qualquer
disposição desprovida de valoração desde que respeitadas as formalidades.
A partir da afirmação positivista de que a ordem jurídica poderia receber
qualquer conteúdo, Bonavides (2012) esclarece que a teoria kelseniana não
reconhecia limites materiais ao exercício do poder constituinte originário ou derivado.
Nesse ponto, o autor cita a admissão, por parte de Kelsen, na obra Das Problem der
Souveränität (1928), da possibilidade da escravidão como instituto jurídico dentro de
um Estado (BONAVIDES, 2012, p. 181)
Bonavides (2012) cita também Horst Ehmke, constitucionalista alemão, que
utiliza a expressão “Constituição em branco”, estando apta a receber qualquer
conteúdo, para referir-se à norma hipotética fundamental proposta por Kelsen para
dar validade em última instância a um ordenamento jurídico. Nesse mesmo sentido,
Falcão (2014) sustenta que a expressão utilizada por Ehmke demonstra com
exatidão o pensamento positivista acerca da inexistência de limites ao poder
constituinte.
A legitimidade conferida a toda espécie de ordenamento jurídico que
obedecesse aos critérios formais de alteração do texto constitucional,
permitiu que se pudesse atribuir até mesmo ao Estado Nacional-Socialista
de Hitler o atributo qualificativo de Estado de Direito. A forma sobrepunhase ao conteúdo, o aspecto jurídico-formal prevaleceu em relação às
necessidades reais do corpo social (FALCÃO, 2014).
Em sua relação com a teoria do poder constituinte, é interessante notar que
o positivismo kelseniano contrapõe-se ao jusnaturalismo não reconhecendo a
possibilidade de haver um direito natural, preexistente ao Estado. Como
consequência dessa negativa, também afirma a inexistência de limites ao poder
constituinte, um fato pré-jurídico, externo ao direito (BARROSO, 2013, p. 132).
Apesar de ser interessante notar, como o faz Marmelstein (2008), que é
enganoso o pensamento de que Kelsen intencionalmente forneceu fundamento ao
regime nazista, é impossível negar o fato de que sua teoria pura tenha servido de
49
embasamento jurídico em tentativas de justificar os atos (posteriormente tipificados
como crimes contra a humanidade, entre outros) contra judeus e outras minorias.
O formalismo da teoria pura do direito desenvolvida por Kelsen não permite
discussão acerca do conteúdo da norma. Na visão do filósofo, a formulação de juízo
de valores acerca do direito não é incumbência de juristas, sendo a norma válida,
deve ser aplicada sem questionamentos (MARMELSTEIN, 2008).
Barroso (2013, p. 132) complementa: “A ciência do Direito, tal como formula
Kelsen, não teria nada a dizer sobre o conteúdo da Constituição, dada a inexistência
de um parâmetro jurídico objetivo que lhe seja anterior e superior”. O ponto principal
do tema, no qual o positivismo jurídico tem relação relevante à pesquisa com a
teoria do poder constituinte, como já referido, é a negação da existência do direito
natural, um direito preexistente ao Estado.
3 PERÍODO PÓS-GUERRA
Após o término da segunda guerra mundial e a queda do regime nazista
alemão, com a ampla descoberta e divulgação de documentos, leis, relatórios e
tantos outros dados do Terceiro Reich, os juristas, especialmente os da Alemanha,
passaram por uma crise de identidade. O nazismo demonstrou aos adeptos do
positivismo kelseniano os perigos de se conceituar o direito sem uma conexão com
um elemento moral (MARMELSNTEIN, 2008).
Rios Júnior (2013, p. 62), no mesmo sentido, afirma que entre as principais
críticas feitas ao positivismo jurídico estava o fato de ter esta teoria supostamente
legitimado o nazismo por se ligar mais à forma do que ao conteúdo da norma
jurídica. “A visão formal do Direito, de acordo com o positivismo jurídico, faz que este
seja taxado de acrítico, admitindo todo direito que se mostrar produzido de acordo
com regras formais”.
O autor destaca o desrespeito aos direitos humanos pelo regime nazista
(especialmente de minorias perseguidas durante o conflito) que é atribuído ao
positivismo jurídico. Ao negar o direito natural, não haveria limite à atividade do
50
poder constituinte, sendo este um momento meramente formal de criação de uma
nova ordem. “Para o positivismo jurídico, o poder constituinte originário seria
ilimitado, não devendo observar qualquer condição” (RIOS JUNIOR, 2013, p. 62).
Ao contrário do que poderia se supor, o desprestígio do normativismo de
Kelsen não fez renascer as doutrinas que se baseavam no direito natural. O que
houve foi a releitura/reformulação do direito positivo clássico. Assim,
Ao invés de se pensar um direito acima do direito estatal (direito natural),
trouxeram-se os valores, especialmente o valor dignidade da pessoa
humana, para dentro do direito positivo, colocando-os no topo da hierarquia
normativa, colocando-os a salvo de maiorias eventuais (MARMELSTEIN,
2008).
Com o desencantamento em torno da teoria pura do direito proposta por
Kelsen, Marmelstein (2008) aponta o surgimento de uma nova corrente jusfilosófica
que o autor identifica por “pós-positivista”. Entretanto, Novelino (2014, p. 185)
destaca que, no âmbito jurídico, o termo só se tornou conhecido na década de 1990,
“quando foi utilizado para designar uma terceira via construída com o objetivo de
superação da tradicional dicotomia entre jusnaturalismo e juspositivismo jurídico”.
Nesse contexto, Ghaleish e Joerges (2003) indicam a inexistência,
imediatamente após o término da guerra, de um esforço para criar um novo sistema
legal alemão. Não teria sido necessária a revisão de todas as leis individualmente
em razão de o maior problema estar concentrado na atividade interpretativa do
direito e aplicação arbitrária.
Assim, a providência tomada foi a extração do ordenamento jurídico de
todas as leis nazistas e o estabelecimento de uma regra de não discriminação. Por
essa disposição, nenhuma disposição normativa poderia ser interpretada de forma a
causar injustiça ou discriminação, favorecendo nazistas ou discriminando qualquer
outro em razão de raça, credo ou ideologia (GHALEISH; JEORGES, 2003).
As primeiras decisões dos tribunais da Alemanha pós-guerra demonstraram
uma influência da teoria juspositivista, havendo referências a um direito além das
51
leis positivadas. É nesse contexto que surge a fórmula de Gustav Radbruch segundo
a qual o direito extremamente injusto não é direito (GHALEISH; JOERGES, 2003).
Fica claro, assim, que mesmo que se preservassem elementos positivistas no
conceito de direito, havendo a edição de normas positivadas e a revogação de
outras no reestabelecimento da ordem, a definição do objeto da ciência, face às
atrocidades sem precedentes cometidas pelo regime nazista com suporte legal, foi
substancialmente modificada.
3.1 O PÓS-POSITIVISMO E O CONCEITO DE DIREITO
De acordo com Alexy (2009), existem três elementos dentro da conceituação
de direito: o da legalidade conforme o ordenamento, o da eficácia social e o da
correção material. Na relação entre os elementos, conforme o peso que se atribui a
cada um deles, surgem diferentes conceitos.
Assim, quem ignora a legalidade e a eficácia social, considerando
exclusivamente um critério de correção material para definir o que é direito, obtém
um conceito puramente jusnaturalista. Já quem “(...) segrega por completo a
correção material, focalizando unicamente a legalidade conforme o ordenamento
e/ou a eficácia social chega a um conceito de direito puramente positivista” (ALEXY,
2009, p. 15).
Alexy (2009) diz que na maioria dos casos com os quais os juristas se
deparam, não há necessidade de ser discutido o conceito, entretanto, em casos
incomuns, a conceituação pode aparecer como um problema. No espaço entre os
dois extremos acima descritos, como propõe o autor, é possível conceber outras
formas intermediárias.
Introduzindo o pensamento, o autor indica um dos casos nos quais o
conceito de direito se torna relevante. Trata-se de uma decisão do Tribunal
Constitucional Federal alemão datada do ano de 1968, sobre cidadania, que trouxe
um questionamento sobre a existência de uma injustiça legal.
52
O §2º do 11º Decreto que regulamentou a Lei de Cidadania do Reich, de
1941, por motivos racistas, privava da nacionalidade alemã os judeus emigrados. A
solução do caso julgado pelo tribunal consistia em decidir se um advogado judeu,
que havia emigrado para Amsterdam pouco antes da segunda guerra mundial, devia
perder a cidadania de acordo com esse dispositivo (ALEXY, 2009).
Ao julgar, o Tribunal concluiu que o advogado nunca havia perdido sua
cidadania alemã em razão da nulidade ab initio do decreto que integrava a Lei de
Cidadania do Reich. A fundamentação da decisão, reproduzida por Alexy (2009, pp.
07-08), traz um argumento clássico do que o autor se refere como “não positivismo”.
O direito e a justiça não estão à disposição do legislador. A ideia de que um
‘legislador constitucional tudo pode ordenar a seu bel-prazer significaria um
retrocesso à mentalidade de um positivismo legal desprovido de valoração,
há muito superado na ciência e na prática jurídicas. Foi justamente a época
do regime nacional-socialista na Alemanha que ensinou que o legislador
também pode estabelecer injustiça (...). Por conseguinte, o Tribunal
Constitucional Federal afirmou a possibilidade de negar aos dispositivos
‘jurídicos’ nacional-socialistas sua validade como direito, uma vez que eles
contrariam os princípios fundamentais da justiça de maneira tão evidente
que o juiz que pretendesse aplicá-los estaria pronunciando a injustiça, e não
o direito (...).
O 11º Decreto infringia esses princípios fundamentais. Nele, a contradição
entre esse dispositivo e a justiça alcançou uma medida tão insustentável
que ele foi considerado nulo ab initio (...). Esse decreto tampouco se torna
eficaz por ter sido aplicado durante alguns anos ou porque algumas das
pessoas atingidas pela ‘desnaturalização’ declararam, em seu tempo,
estarem resignadas ou de acordo com as medidas nacional-socialistas.
Pois, uma vez estabelecida, uma injustiça que infrinja abertamente os
princípios constituintes do direito não se torna direito por ser aplicada e
observada.
A validade e o caráter jurídico da norma, na decisão, são negados diante da
violação de um direito suprapositivo. Nesse conceito do direito, não basta que a
norma seja estabelecida conforme o ordenamento e socialmente eficaz durante a
sua vigência, o que o diferencia do positivismo. Porém, por considerar a legalidade e
a eficácia social como elementos para conceituação, também não estamos diante de
um conceito jusnaturalista.
Essa linha de pensamento surge na segunda metade do século XX, e
Novelino (2014, p. 189) sintetiza o limiar para que um determinado conteúdo possa
ser aceito como direito dentro desta teoria da seguinte forma: “O direito
extremamente injusto não é direito”.
53
Albert Calsamiglia (apud NOVELINO, 2014, p. 186) é citado como um dos
pioneiros, no cenário europeu, na abordagem do tema com profundidade. O autor
identificou como pós-positivistas “as teorias contemporâneas que colocam em
destaque os problemas de indeterminação do direito e as relações entre o direito, a
moral e a política”.
No cenário brasileiro, Novelino (2014) afirma ter sido introduzido o termo
pós-positivismo por Paulo Bonavides, em obra datada de 1995. Ao falar sobre
juspublicismo pós-positivista determinando a hegemonia normativa dos princípios,
Bonavides (2012, p. 285) aponta o “empenho da Filosofia e da Teoria Geral do
Direito em buscarem um campo neutro onde se possa superar a antinomia clássica
Direito Natural/Direito Positivo”.
Bonavides (2012, p. 273) utiliza a expressão pós-positivismo para fazer
referência aos grandes momentos constituintes das últimas décadas do século XX
nos quais “as novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica
dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o
edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais”.
Os pós-positivistas pregam a necessidade de uma conexão entre direito e
moral em um claro rompimento com o dualismo defendido pelo positivismo. Nesse
sentido, Novelino (2014) aponta a obra de Ronald Dworkin, cujo principal foco na
crítica ao positivismo é a rígida distinção entre as esferas.
Da mesma forma, ao afirmar que o pós-positivismo derrubou tanto a doutrina
positivista quanto a jusnaturalista, Bonavides (2012) aponta Dworkin como o crítico
que capitaneou a reação intelectual implacável, contribuindo para o reconhecimento
da normatividade definitiva aos princípios.
Novelino (2014, p. 201) afirma que Dworkin (2010) busca restaurar a relação
entre argumentação jurídica e argumentação moral “partindo do pressuposto de que
a argumentação moral se caracteriza pela construção de um conjunto de princípios
que justificam e conferem sentido às instituições jurídicas”.
54
A argumentação jurídica, segundo Dworkin, invoca e utiliza princípios que
os tribunais desenvolvem lentamente mediante um amplo processo de
argumentação e criação de precedentes. Esses princípios são
especificamente morais. Em consequência, a argumentação jurídica
depende da argumentação moral, no sentido de que os princípios morais
desempenham um papel muito importante na argumentação jurídica,
especialmente nos casos difíceis. E, portanto, a tese central do positivismo
– a separação entre o direito e a moral – é falsa; não se pode separar a
argumentação jurídica da argumentação moral (CALSAMIGLIA apud
NOVELINO, 2014, p. 201).
Também se debruçando sobre a obra de Dworkin (2010) ao falar sobre o
pós-positivismo, Bonavides (2012), sob outro foco, afirma a necessidade do trato de
princípios como direito, reconhecendo a possibilidade de imposição de obrigações
legais tanto por regras positivamente estabelecidas quanto pelos princípios.
O reconhecimento do caráter de norma jurídica aos princípios, por mais
abstratos que sejam, foi muito importante, trazendo drásticas mudanças na ciência
do direito e especialmente no estudo do direito constitucional, pois ocorre
paralelamente e tem relação direta com a consideração de bases axiológicas ao
ordenamento jurídico (BONAVIDES, 2012).
Princípios como o da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da
solidariedade, da autonomia da vontade, da liberdade de expressão, do livre
desenvolvimento da personalidade, da legalidade, da democracia, seriam
tão vinculantes quanto qualquer outra norma jurídica. A observância desses
princípios não seria meramente facultativa, mas tão obrigatória quanto à
observância das regras (MARMELSTEIN, 2008).
George Marmelstein (2008) ressalta a mudança que acredita ser a mais
importante: os princípios passam a possuir a função de fundamentar e legitimar o
ordenamento jurídico. Isso significa que somente são válidas as regras que
obedecem as diretrizes estabelecidas pelos princípios.
À conjugação em bases axiológicas da lei com o direito, importante
contribuição foi dada por Robert Alexy (2009), que propõe novo conceito de direito.
Elaborando-o a partir da perspectiva de um participante, como um juiz, afirma ser
inadequada a tese da separação, segundo a qual, como já referido, “não existe
nenhuma conceituação necessária entre o direito e a moral” (ALEXY, 2009, p. 03).
55
Sobre o significado da perspectiva do participante, Alexy (2009, p. 30)
explica que é a adotada por quem participa de uma argumentação sobre o que é
ordenado, proibido, permitido e autorizado dentro de um sistema jurídico. Nesse
sentido, afirma estar o juiz no centro da perspectiva do participante.
Quando outros participantes, tais como juristas, advogados ou cidadãos
interessados no sistema jurídico apresentam argumentos a favor ou contra
determinados conteúdos do sistema jurídico, eles se referem, em última
instância, a como um juiz deveria agir se pretendesse decidir corretamente
(ALEXY, 2009, p. 30).
Distinta é a perspectiva do observador, assumida por aquele que não
questiona a correção de uma decisão dentro de um determinado sistema jurídico,
mas apenas como se decide dentro do sistema. A essa perspectiva, a tese da
separação é adequada, vez que não há pretensão à correção (ALEXY, 2009).
Adequada ao conceito de direito na perspectiva do participante, a tese da
vinculação, adotada pelo pós-positivismo, determina que “o conceito de direito deve
ser definido de modo que contenha elementos morais” (ALEXY, 2009, p. 04). O
autor defende a existência “tanto de uma conexão conceitualmente necessária entre
direito e moral quanto de razões normativas em favor de uma inclusão de elementos
morais no conceito de direito” (NOVELINO, 2014, p. 201).
Um dos argumentos utilizados por Alexy (2009) para comprovar a tese é o
da correção. Segundo o autor, tanto normas e decisões jurídicas individuais quanto
o sistema jurídico como um todo formulam necessariamente uma pretensão à
correção, “na medida em que essa pretensão tem implicações morais, fica
demonstrada a existência de uma conexão conceitualmente necessária entre direito
e moral” (ALEXY, 2009, p.47).
Os que não a formulam explícita ou implicitamente não são sistemas
jurídicos. Nesse ponto, a pretensão à correção tem relevância classificadora. Os que
a formulam mas não satisfazem são defeituosos, sentido no qual a pretensão à
correção tem relevância qualificadora (ALEXY, 2009).
56
Defende Alexy (2009) haver uma conexão classificadora entre direito e
moral, que a violação de um critério moral seria capaz de retirar de uma norma do
sistema normativo o caráter de jurídica, e até mesmo a todo um sistema normativo
pode ser subtraído o caráter de sistema jurídico.
Outro argumento utilizado é o da injustiça, que Novelino (2014, p. 201)
explica basear-se na ideia de que “As normas de um ordenamento perdem a sua
qualidade jurídica quando ultrapassam o limite da injustiça ou da iniquidade”
(NOVELINO, 2014, p. 201).
Ao fixar como limite a extrema injustiça, a versão alexyana da fórmula de
Radbruch estabelece um ‘mínimo de justiça material do qual nenhum
ordenamento jurídico pode abrir mão’, contribuindo para delimitar o ‘terreno
dentro do qual o direito formalmente promulgado e socialmente eficaz pode
possuir validade (NOVELINO, 2014, p. 189).
Assim, quando a contradição entre o direito e a moral atingem níveis
intoleráveis, a lei pode ter seu caráter jurídico negado no transcurso do
procedimento de sua aplicação, pois é considerada um direito apenas prima facie
(NOVELINO, 2014).
Apesar de apontar Alexy (2009, p. 152) que a pretensão à correção possui
uma relevância classificadora (as normas e sistemas normativos que não formulam
uma pretensão à correção não tem caráter jurídico, não são direito), ressalva o autor
que essa relevância classificadora possui pouca relevância prática. “Sistemas
jurídicos efetivamente existentes costumam formular uma pretensão à correção, por
menos justificada que seja”
Sob aspectos práticos, destaca a relevância qualificadora dessa pretensão.
“O mero descumprimento da pretensão à correção, embora não prive sistemas
jurídicos ou normas jurídicas individuais do caráter jurídico ou da validade jurídica,
torna-os juridicamente defeituosos” (ALEXY, 2009, p. 152). Essa ideia é expressão
do fato de existir uma dimensão ideal do direito.
Novelino (2014, p. 203) verifica que essa conexão entre direito e moral é
complexa, pois ao mesmo tempo em que é “necessariamente pressuposta por todos
57
os sistemas jurídicos (caráter necessário), o não cumprimento desta pretensão não
invalida normas individuais e sistemas jurídicos, apenas os torna defeituosos”.
Como aponta Thomas da Rosa de Bustamante (2008), mesmo que seja
negado o caráter classificador da pretensão à correção, é impossível ignorar a
relevância da sua inserção no conceito de direito, visto que traz como consequência
a criação do dever jurídico de decidir corretamente.
Essa pretensão à correção é a primeira característica que aponta em seu
conceito de direito:
O direito é um sistema normativo que (1) formula uma pretensão à correção,
(2), consiste na totalidade das normas que integram uma constituição
socialmente eficaz em termos globais e que não são extremamente injustas,
bem como na totalidade das normas estabelecidas em conformidade com
essa constituição e que apresentam um mínimo de eficácia social ou de
possibilidade de eficácia e não são extremamente injustas, e (3), ao qual
pertencem os princípios e outros argumentos normativos, nos quais se
apoia e/ou deve se apoiar o procedimento de aplicação do direito para
satisfazer a pretensão à correção” (ALEXY, 2009, p. 151).
A segunda característica do conceito, elaborado dentro da perspectiva do
participante, provém da relação entre três elementos clássicos da definição: a
legalidade conforme o ordenamento, a eficácia social e a correção material. A
relação acontece em dois níveis distintos: o da constituição e o das normas
estabelecidas em conformidade com a Constituição (ALEXY, 2009).
Quando Alexy diz que o direito é um sistema normativo que consiste na
totalidade das normas que integram a constituição, bem como a totalidade das
normas estabelecidas em conformidade com essa, ele condiciona a classificação de
pertencente ao direito à validade formal e à eficácia social. Esses dois elementos
são comuns ao conceito positivista de direito, a diferença, entretanto, está na
correção substancial (NOVELINO, 2014).
A definição proposta por Alexy se distancia da visão positivista do direito
quando o critério da eficácia social é limitado pela característica negativa que define
a injustiça extrema (ALEXY, 2009). O conceito formulado não é preenchido pela
moralidade, mas encontra nela um limite.
58
A inserção de um critério de correção substancial tem por finalidade
estabelecer um patamar mínimo de justiça material necessário a qualquer sistema
normativo para sua classificação como jurídico, fixando um limite para além do qual
não se pode visualizar a validade enquanto direito: a injustiça extrema (NOVELINO,
2014).
Bustamante (2008, p. 238, apud NOVELINO, 2014, p. 202) diz haver, no
conceito de Alexy, tanto um positivismo quanto um jusnaturalismo latentes,
sustentando que ambas as teorias têm alguma razão, pois “Alexy utiliza os critérios
positivistas de validade formal e eficácia social e o critério jusnaturalista da correção
substancial para identificar o Direito”.
O não positivismo, em sua vertente alexyana, que hoje é dominante,
decisivamente incorpora os critérios fundamentais que o positivismo propõe
para definir o Direito. Não se trata de uma negação pura e simples de todas
as teses do positivismo (daí porque a expressão ‘antipositivista’, utilizada
por Alexy para definir a si próprio, talvez seja excessivamente forte), mas
apenas a tese da separação, ou mais precisamente da ausência de uma
vinculação necessária entre Direito e Moral” (BUSTAMENTE, 2008, p. 146)
Indo em sentido oposto à segunda característica, que restringe o conceito de
direito com a característica da injustiça extrema, a terceira delas amplia o alcance da
conceituação. Essa ampliação decorre da inserção no conceito de direito de tudo
aquilo em que se apoia e/ou deve apoiar quem aplica o direito para satisfazer a
pretensão à correção (ALEXY, 2009).
Dessa forma, passam a integrar o direito todos os princípios, mesmo que
não possam ser identificados como jurídicos em razão dos critérios de validade da
Constituição, e os outros argumentos que fundamentam uma decisão. “Esta
incorporação do procedimento de aplicação do direito aos dois elementos do
conceito juspositivista amplia o alcance daquilo que integra o direito” (NOVELINO,
2014, p. 202).
Pelo exposto, é possível perceber a preocupação dos filósofos do direito nas
teorias pós-positivistas em estabelecer parâmetros para verificação da legitimidade
de determinados ordenamentos e normas jurídicas. Tais evoluções da ciência do
59
direito buscam evitar que as experiências vivenciadas na Europa durante a primeira
metade do século XX possam se repetir encobertas pelo manto da legalidade
(NOVELINO, 2014).
3.2 OS LIMITES DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
Como já explorado, e bem sintetiza Barroso (2013, p. 132), “a teoria do
poder constituinte foi desenvolvida por Sieyès dentro da moldura histórica e filosófica
do jusnaturalismo”. O direito natural, superior, tanto fundamentava a legitimidade do
povo para o exercício do poder como impunha um limite de atuação, motivo pelo
qual Barroso (2013) identifica o poder constituinte, nessa perspectiva, como um
poder de direito, fundado em um direito anterior à nação.
O positivismo jurídico se contrapunha a essa visão, negando a existência de
um direito anterior ao positivado. “Como o poder constituinte cria – ou refunda – o
Estado, sendo anterior a ele, trata-se de um poder de fato, uma força política,
situada fora do Direito (metajurídica, portanto) e insuscetível de integrar o seu
objeto” (BARROSO, 2013).
Afirma o autor, chegando ao cenário contemporâneo em sua análise, que
não há dúvidas que o poder constituinte é um fato político, uma força material e
social, e não está subordinado ao direito positivo preexistente. Entretanto, não se
trata de um poder ilimitado. Ocorre que “seu exercício e sua obra são pautados tanto
pela realidade fática como pelo Direito, âmbito no qual a dogmática pós-positivista
situa os valores civilizatórios, os direitos humanos e a justiça” (BARROSO, 2009, p.
133).
Contemporaneamente, afirma o autor, a observância de critérios básicos de
justiça diferencia o direito do “não direito”. Nesse sentido, o poder constituinte
também é um poder de direito, pois apesar de estar fora e acima do direito, ele é
limitado pela “cosmovisão da sociedade – suas concepções sobre ética, dignidade
humana, justiça, igualdade, liberdade – e pelas instituições jurídicas necessárias à
sua positivação” (BARROSO, 2013, p. 137).
60
Além dessas limitações internas, o autor afirma que existe outra que a
doutrina reconhece de maneira praticamente unânime, ela decorre dos princípios do
direito internacional e, em especial, dos direitos humanos. Explica o reconhecimento
de tal limite após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, como
uma consequência da segunda guerra mundial.
Um patamar mínimo passou a ser reconhecido naqueles direitos, devendo
ser observados por todos os Estados na organização do poder e nas relações com
os cidadãos (BARROSO, 2013). Sobre a fixação prática de tais limites, reconhece
uma tensão no cenário atual:
Uma das questões cruciais do Direito, na atualidade, é equacionar, de
maneira equilibrada, a tensão entre o universalismo – isto é, o
reconhecimento de que há um conjunto mínimo de direitos universais, que
devem proteger as pessoas contra a violência e a opressão – e o
multiculturalismo, que procura resguardar a diversidade dos povos e impedir
a hegemonia das culturas que se tornaram mais poderosas em determinada
quadra histórica (BARROSO, 2013, p. 138).
Rios Júnior (2013) observa, em nível mundial, um movimento crescente em
direção à afirmação dos direitos humanos. Afirma que através do estudo
individualizado de uma sociedade, com sua história jurídica e social, é possível
identificar um conteúdo mínimo de direitos humanos a ser respeitado.
Fernandes (2014) afirma que, avaliando a limitação do poder constituinte
sob uma teoria de tendência sociológica, o poder exerce sua função de maneira
ilimitada do ponto de vista do direito positivo. Entretanto, guarda limites no
movimento revolucionário que o embasa.
Em uma releitura feita a partir de marcos democráticos, o autor sustenta ter
o poder constituinte passado a ser compreendido como sujeito a limitações culturais
e estabelecidas pelos direitos humanos. As primeiras, culturais, teriam ligação com a
teoria sociológica já citada.
Encontrando-se no povo a titularidade do poder constituinte, existem
limitações do seu alcance a partir dos valores culturais compartilhados pela
61
sociedade. Entendendo dessa forma, Álvaro Ricardo de Souza Cruz (apud
FERNANDES, 2014, p. 127) afirma que:
Um exemplo desses limites são as ações quase inconscientes do
constituinte de 1988, a menção a Deus – preâmbulo – e a previsão de um
descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos (art. 7º,
inciso XV) ilustram bem um condicionamento do texto com tradições
predominantemente cristãs da nossa população.
O segundo tipo de limitação, que o autor identifica nos direitos humanos,
consolida-se “a partir da segunda metade do século XX, marcando uma retomada do
pensamento jusnaturalista e uma reação ao horror do holocausto nazista”
(FERNANDES, 2014, p. 127).
Como bem percebe o autor, passou-se a defender a limitação do poder
constituinte originário em direitos suprapositivos ou provenientes dos tratados
pactuados sobre direito internacional, mesmo contra a deliberação majoritária.
Significa negar a definição do poder constituinte como absoluto, estabelecendo
limites nos princípios da justiça e de direito internacional, cânones supranacionais
(FERNANDES, 2014).
Destacando a adoção pelo Brasil de uma corrente positivista, Lenza (2014,
pp. 214-215) defende ser totalmente ilimitado (do ponto de vista jurídico) o poder
constituinte originário, “apresentando natureza pré-jurídica, uma energia ou força
social, já que a ordem jurídica começa com ele e não antes dele”.
Entretanto, o autor ressalta, com aporte na obra de J. H. Meirelles Teixeira
(1991), que a ausência de vinculação teria caráter apenas jurídico-positivo, significa
apenas que o poder constituinte não estaria limitado por normas jurídicas anteriores.
Dessa forma, reconhece a existência de pontos limítrofes, rechaçando uma
caracterização autoritária ou absoluta que ignorasse limitações.
Ao contrário, tanto quanto a soberania nacional, da qual é apenas
expressão máxima e primeira, está o Poder Constituinte limitado pelos
grandes princípios do Bem Comum, do Direito Natural, da Moral, da Razão.
Todos estes grandes princípios, estas exigências ideais, que não são
jurídico-positivas, devem ser respeitados pelo Poder Constituinte, para que
este se exerça legitimamente” (TEIXEIRA, 1991, p. 213).
62
Continuando, em harmonia com Teixeira (1991), é possível indicar o
posicionamento de Canotilho (apud LENZA, 2014, p. 215), que sugere ser o
entendimento da doutrina moderna a observância do poder constituinte originário
como obediente a “padrões e modelos de condutas espirituais, culturais, éticos e
sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida,
considerados como ‘vontade do povo’”. O que nos remete aos limites culturais e
internos percebidos por Fernandes (2014).
Prosseguindo, Canotilho (2003) defende também haver, no exercício do
poder constituinte, uma limitação pelos princípios de justiça (suprapositivos e
supralegais)
e
princípios
de
direito
internacional,
como
o
princípio
da
interdependência, o princípio da autodeterminação e o princípio da observância de
direitos humanos (LENZA, 2014).
É possível perceber que mesmo defendendo ter o Brasil adotado uma
corrente positivista, Lenza (2014) não nega a limitação do poder constituinte. Como
percebe Rios Júnior (2013), atualmente, é difícil encontrar, mesmo entre os
positivistas, teoria que autorize a aplicação de normas que desrespeitem direitos
humanos fundamentais.
Paulo Branco (2014) também reconhece a existência de uma limitação
política no exercício do poder constituinte originário. O autor assume que se o poder
constituinte é a expressão da vontade política da nação, não pode ignorar os valores
éticos, religiosos e culturais sustentados pela sociedade.
Se um grupo de pretensos representantes extraordinários da vontade da
nação elabora uma Constituição cujas normas hostilizem os valores dominantes,
“(...) não haverá de obter o acolhimento de suas regras pela população, não terá
êxito no seu empreendimento revolucionário e não será reconhecido como poder
constituinte originário” (BRANCO, 2014, p.105).
Novelino (2014), criticando a concepção positivista do poder constituinte que
o deixaria livre para fixar qualquer conteúdo, defende a existência de limitações
63
materiais, fora do direito positivo interno, que devem ser observadas sob pena de
ser considerado ilegítimo o poder.
Desenvolvendo a ideia, trabalha sobre uma divisão elaborada por Jorge
Miranda (2000). Destaca os limites transcendentes e os heterônomos. Os primeiros,
guardam relação com os identificados como culturais por Fernandes (2014), sendo
internos, os segundos, com a esfera externa. Os limites transcendentes advêm de
(...) imperativos do direito natural, de valores éticos ou de uma consciência
jurídica coletiva, impõem-se à vontade do Estado, demarcando sua esfera
de intervenção. É o caso, por exemplo, dos direitos humanos fundamentais
imediatamente conexos com a dignidade da pessoa humana (NOVELINO,
2014, p. 51).
Como bem salienta o autor, esses limites são garantidos no respeito ao
princípio da vedação ao retrocesso, exigindo-se a observância e o respeito, no
momento em que se exerce o poder constituinte, aos direitos fundamentais
conquistados por uma sociedade e sobre os quais haja um consenso profundo
(NOVELINO, 2014).
Os limites heterônomos, por sua vez, são os resultantes da conjugação com
outros ordenamentos jurídicos, representados pelos princípios, regras ou atos de
direito internacional que impõem obrigações. A crescente preocupação com a
garantia dos direitos humanos e a sua globalização traz uma flexibilização do caráter
autônomo e ilimitado do poder constituinte (NOVELINO, 2014).
Percebe-se, assim, a superação do conceito de poder constituinte como
absoluto, ilimitado e incondicionado, mas não em razão da adoção de uma posição
jusnaturalista, mas de “supradireitos que se encontram cristalizados na consciência
humana” (MALISKA, 2001, p. 261).
Paralelamente, vive-se um momento no qual o sistema normativo de
proteção internacional dos direitos humanos, fortalecido após a segunda guerra
mundial, atribui ao indivíduo o status de possuidor de direitos internacionais,
supraconstitucionais. Por tudo isso, afirma-se a limitação do poder constituinte
originário (MALISKA, 2001).
64
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O poder constituinte como um instrumento ou meio para estabelecer a
constituição de uma sociedade, sempre existiu. Sua formulação, por outro lado,
surge apenas no final do século XVIII, às vésperas da revolução francesa, pelas
mãos de Emmanuel Sieyès.
A teoria surge da necessidade de legitimar a atuação da nação no processo
constituinte, na elaboração da lei fundamental da comunidade política, a
Constituição. No exercício de tal poder originário, há o rompimento com a ordem
anterior, o que significa não haver limitação jurídico-positiva no seu exercício.
Entretanto, o fato de ser o poder constituinte originário incondicionado
juridicamente não significava tratar-se de um poder absolutamente ilimitado. Em sua
formulação original, Sieyès já sustentava a existência de limites, identificando-os em
um direito natural, anterior e superior à nação.
A adoção do direito natural como limite implica na afirmação da existência de
um direito anterior ao Estado. Assumindo posição contrária, o conceito positivista de
direito, que encontra seu desenvolvimento primo em Hans Kelsen, afirma que o
direito somente é direito quando positivo, negando a proposição jusnaturalista que
limitava o poder constituinte originário.
Pelo conceito positivista de direito, a norma jurídica não pode ser
questionada a pretexto de seu conteúdo ser incompatível com valores morais ou
políticos.
A
definição
positivista
defende
não
existir
nenhuma
conexão
conceitualmente necessária entre o direito e a moral.
O direito, nesse sentido, estaria sendo conceituado apenas com base na
legalidade conforme o ordenamento e na eficácia social, uma correção quanto ao
conteúdo, seja de que natureza for, não teria importância. A teoria kelseniana,
assim, não reconhecia limites materiais ao exercício do poder constituinte originário
ou derivado.
65
Por tais motivos, acusa-se o positivismo jurídico de ter legitimado o regime
nazista e todos os seus atos que, posteriormente, foram classificados como crimes
contra a humanidade. Observando-se apenas a eficácia social e a legalidade
conforme o ordenamento, adquiriam aspecto de legalidade todas as violações aos
que posteriormente vieram a ser reconhecidos como direitos humanos.
O critério de legalidade conforme o ordenamento é puramente formalista, e o
antissemitismo generalizado, utilizado pelo partido nacional-socialista na escalada
para o poder, garantia a eficácia social das normas, com o cumprimento de seus
preceitos legais e a aplicação de sanções em caso de descumprimento. Sem a
preocupação com uma correção material, qualquer conteúdo poderia ser conferido a
uma lei ou à Constituição.
Com o final da segunda guerra mundial e a percepção de que o positivismo
puro servira de embasamento jurídico para o regime nazista, surgem novas
correntes para definir o conceito e a validade do direito sob a denominação póspositivista que afirmam não ser direito o extremo injusto. Como um dos principais
expoentes dessa escola, identifica-se na obra de Robert Alexy um conceito póspositivista de direito.
Abandonando-se a dicotomia existente, a fatal contraposição entre
positivismo e jusnaturalismo, o conceito de direito passa a também observar a
necessidade de uma pretensão à correção para que uma norma ou sistema
normativo possa ser caracterizada como jurídica. Assim, a norma perde sua
qualidade jurídica ao ultrapassar determinado limite de injustiça.
Em âmbito internacional, ainda como consequência da segunda guerra
mundial, há o fortalecimento do processo de internacionalização de direitos que
busca garantir um mínimo comum a todos, os direitos humanos. Nesse sentido, é
possível citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948.
Diante de tal situação, é impossível negar uma nova afetação da limitação
do poder constituinte originário. Apesar de a rejeição do positivismo puro não levar
ao reconhecimento de limites em um direito natural, as evoluções doutrinárias na
66
ciência do direito e no direito internacional que guardam relação direta com a
segunda guerra mundial trouxeram o reconhecimento de limitações materiais.
A doutrina moderna brasileira, em harmonia com essa tendência mundial,
reconhece tais limitações ao poder constituinte tanto internas (culturais) quanto
externas (direitos humanos). O desafio, atualmente, é conciliar o universalismo com
o multiculturalismo, garantindo um conteúdo mínimo de direitos humanos em nível
internacional resguardando a diversidade ao não permitir a sobreposição por uma
cultura dominante.
67
REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Conceito e Validade do Direito. São Paulo: Editora WMF Martins,
2009.
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um Relato Sobre a Banalidade do
Mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
_____. Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
BARROS, Sérgio Resende de. Noções sobre Poder Constituinte. Disponível em:
<www.srbarros.com.br/pt/nocoes-sobre-poder-constituinte.cont> Acesso em: 01 Out.
2014.
BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo: os Conceitos
Fundamentais e a Construção do Novo Modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BERTONHA, João Fábio. Os carrascos voluntários de Hitler. O povo alemão e o
Holocausto. Revista brasileira de História. 1999, vol.19, n.37, pp. 321-327. ISSN
1806-9347. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01881999000100016>
Acesso em: 03 Nov. 2014.
BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la
democracia. Madrid: Trotta, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26 ed. São Paulo Malheiros,
2012.
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito
Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
BRITO, Alan Araújo de Oliveira; SOUZA JUNIOR, José Alves. In: JORNADA DE
PÓS-GRADUAÇÃO, 6. 2013, Belém. Anais da VI Jornada de Pós Graduação.
Belém: FIBRA, 2013.
BRUSTEIN, William. Roots of hate: Anti-Semitism in Europe Before the
Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Pós-positivismo: O argumento da injustiça
além da fórmula de Radbruch. Teoria do Direito e decisão racional: Temas de
teoria da argumentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
CALSAMIGLIA, Albert. Ensayo sobre Dworkin. Los derechos em serio. Barcelona:
Ariel, 1989.
_____. Postpositivismo. Doxa – Cuardernos de filosofia del derecho, n. 21-I, 1998.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed.
Coimbra: Almedina, 2003.
68
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29 ed. São
Paulo: Saraiva, 2010.
DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. 3. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2010.
FALCÃO, Fernando Antônio Jambo Muniz. Limites do poder constituinte
originário. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3876, 10 fev. 2014. Disponível
em: <http://jus.com.br/artigos/26667>. Acesso em: 22 set. 2014.
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6 ed. Bahia:
JusPodivm, 2014.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38 ed.
São Paulo: Saraiva, 2012.
FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Poder Constituinte do Estado-Membro. São
Paulo: RT, 1979.
FOSTER, Nigel; SULE, Satish. German Legal System and Laws. 4. ed. New York:
Oxford University Press, 2010.
GELLATELY, Robert. Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany.
Oxford: Oxford University Press, 2001.
GHALEISH, Navraj Sigh; JOERGES, Christian. Darker Legacies of Law in Europe:
the Shadow of National Socialism and Facism over Europa and it's Legal
Traditions. Oregon: Hart Publishing, 2003.
GOLDHAGEN, Daniel Jonah. Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans
and the Holocaust. New York: Vintage Books, 1996.
GOMES, Alexandre Travessoni. O Fundamento de Validade do Direito: Kant e
Kelsen. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
HITLER, Adolf. Minha Luta. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/services/e-books/Adolf%20Hitler-1.pdf> Acesso em: 30 Out. 2014.
HOLUCAUST MEMORIAL MUSEUM. Legislação Anti-Semita na Alemanha Antes
da
Guerra.
Disponível
em:
http://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.
php?ModuleId=10005681> Acesso em: 02 Nov. 2014.
HORTA, Raul Machado. A autonomia do
constitucional brasileiro. Belo Horizonte, 1964.
Estado-membro
no
direito
69
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 4.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2005.
____. Teoria Pura do Direito. 8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
LAQUEUR, Walter. Anti-Semitism: from Ancient Times to the Present Day. New
York: Oxford University Press, 2008.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
LIBRARY OF CONGRESS (EUA). The Federalist Papers. Disponível em:
<www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/federalist.html> Acesso em: 02 Out. 2014.
LIMA, John Michael de; NORONHA, Aline Garcia Chaves. A Propaganda Nazista e
a População Alemã. Disponível em: <www.historia.ufc.br/admin/upload/PROJETO_
OFICINA_GERAL_II_-_NAZISMO.pdf> Acesso em: 03 Nov. 2014.
MACEDO, Gladston Bethônico Bernardes Rocha; RIBEIRO, Ana Luisa de Oliveira. O
positivismo jurídico em Hans Kelsen. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n.
3934, 9 abr. 2014. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/27567>. Acesso em: 29
out. 2014.
MALISKA, Marcos Augusto. Há Limites Materiais ao Poder Constituinte? Revista da
Faculdade de Direito da UFPR. V. 35 (2001). ISSN: 2236-7284. Disponível em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/issue/archive> Acesso em: 21 Set. 2014.
MARMELSTEIN, George. A Teoria dos Direitos Fundamentais: em 14 de Janeiro
de 2008. Disponível em: <http://direitosfundamentais.net/2008/01/14/capitulo-1-ateoria-dos-direitos-fundamentais/> Acesso em: 21 Set. 2014.
MEDRADO, Vitor Amaral. O fundamento de validade do direito em Kant. In: Âmbito
Jurídico, Rio Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11228>.
Acesso em: 29 Out. 2014.
MILMAN, Luis. Holocausto Verdade e Preconceito. Revista Espaço Acadêmico.
n.43, 2004.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra,
2000. Tomo II.
NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 9. ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2014.
OLIVEIRA, Carla Dumont. Limites e Apontamentos Acerca do Poder
Constituinte Originário. 2006. 132 f.. Dissertação (Mestrado em Direito Público) Faculdade Mineira de Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2006.
70
OLIVEIRA, Rodrigo da Costa. A Modernidade e as Massas - Uma perspectiva do
projeto político nazista através do Mein Kampf de Adolf Hitler. 2012. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Estadual Paulista, Araraquara,
2012.
PINTO, Luzia Cabral. Os Limites do Poder Constituinte e a Legitimidade Material
da Constituição. Coimbra: Coimbra Ed., 1994.
PULZER, Peter G. J. The Rise of Political Anti-semitism in Germany and Austria.
New York: John Wiley & Sons Inc., 1988.
RIOS JUNIOR, Carlos Alberto dos. Direito das Minorias e Limites Jurídicos ao
Poder Constituinte Originário. São Paulo: Edipro, 2013.
RODRIGUES, Renata. As faces do Positivismo Criminológico: O criminoso nato de
Lombroso e a sua correlação com o conto “O Alienista” de Machado de Assis.
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 113, jun 2013. Disponível em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_i
d=13301>. Acesso em 04 Nov. 2014.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. 3 ed. São Paulo Martins Claret,
2011.
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. O Que é o Terceiro Estado?. Disponível em
<www.ead.unb.br/aprender2013/pluginfile.php/904/course/section/2282/O_QUE_E_
O_TERCEIRO_ESTADO_Sieyes.pdf> Acesso em 15 Abril 2014.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35. ed. São
Paulo: Malheiros, 2012.
SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo de. Poder constituinte e patriotismo
constitucional. In: GALUPPO, Marcelo Campos. O Brasil que queremos: reflexões
sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2006.
SZNAIDER, Natan. Hannah Arendt and the Sociology of the Antisemitism. YAFFO
Academic
College.
Tel
Aviv,
2010.
Disponível
em:
<www.mta.ac.il/en/lecturers/259/Publications/articles/arendt%20on%20antisemitism.
pdf> Acesso em: 03 Nov. 2014.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.
TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro:
Forense, 1991.
WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. 2. ed. New York:
Routledge, 2002.
ZIPPELIUS, Reinhold. Klein Deutsche verfassungsgeschichte. Vom frühen
mattelalter bis zur gegenwart. 5. ed. Mündchen: Beck, 1999.