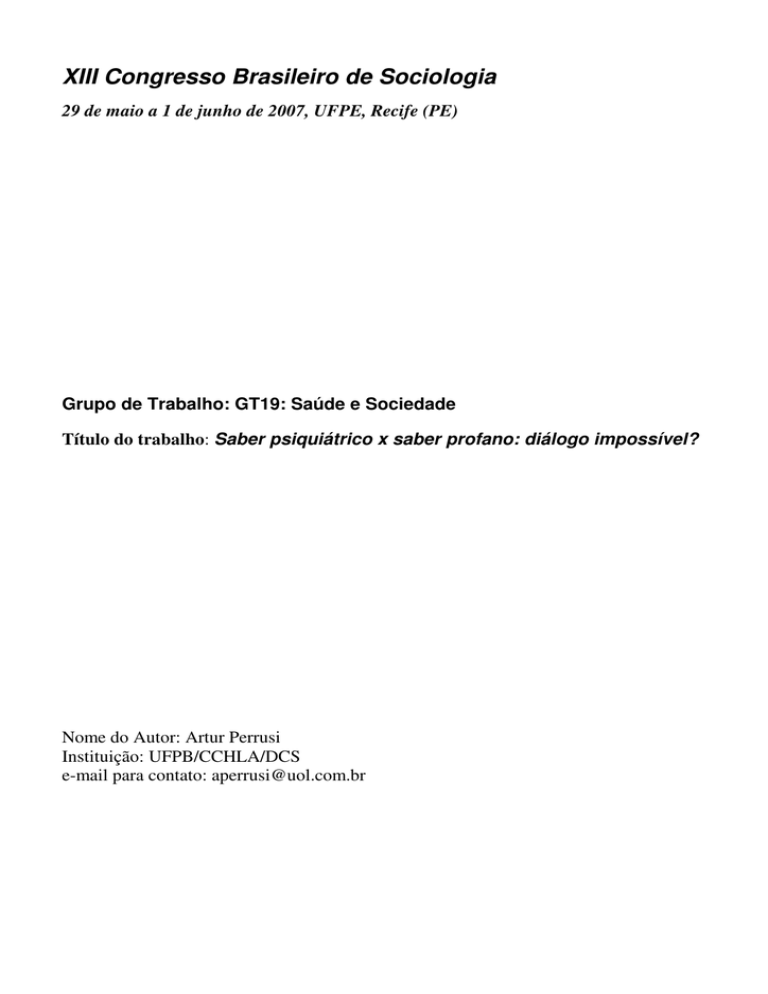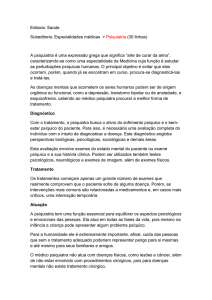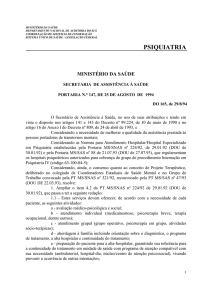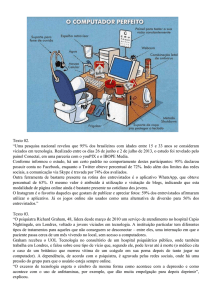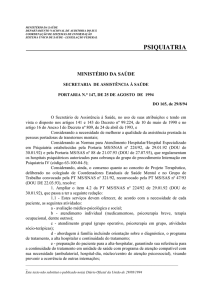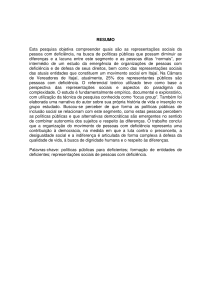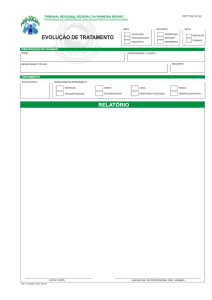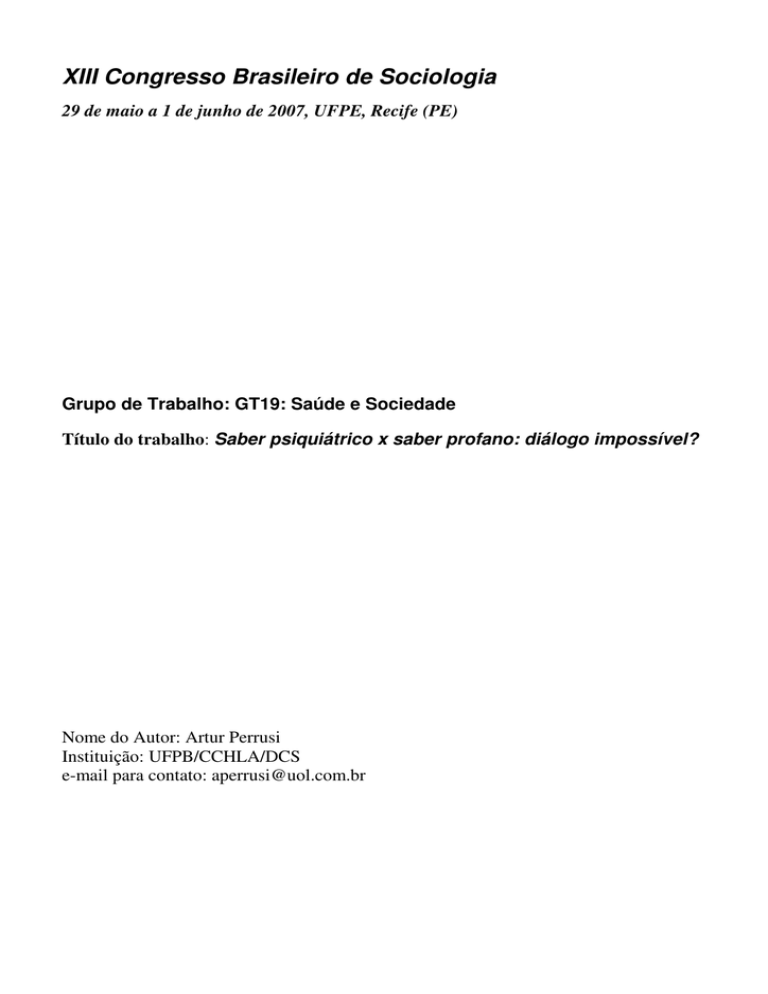
XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
29 de maio a 1 de junho de 2007, UFPE, Recife (PE)
Grupo de Trabalho: GT19: Saúde e Sociedade
Título do trabalho: Saber psiquiátrico x saber profano: diálogo impossível?
Nome do Autor: Artur Perrusi
Instituição: UFPB/CCHLA/DCS
e-mail para contato: [email protected]
Saber psiquiátrico x saber profano: diálogo impossível?
Problemática e metodologia
O artigo aborda as relações entre o saber psiquiátrico e o saber profano1 sobre a doença
mental2. Ele faz parte de um texto mais amplo, cujo objeto foi a identidade profissional do psiquiatra3.
Nesse sentido, é produto de uma pesquisa qualitativa realizada na cidade brasileira do Recife, capital
do Estado de Pernambuco, onde foram efetuadas 50 entrevistas semi-diretas com psiquiatras, além
de observação participante nos serviços psiquiátricos locais. Inicialmente, pensamos em fragmentar a
população de entrevistados de acordo com o serviço de atendimento existente: hospital público,
universitário, privado, ambulatório, centro de acolhimento, consultório; contudo, como praticamente
todos os entrevistados têm duas ou mais atividades em serviços diferentes, achamos desnecessário
tal procedimento.
Neste artigo, entretanto, focalizamos a atenção no ambulatório e no hospital psiquiátrico,
todos os dois fazendo parte da assistência pública à saúde mental, onde boa parte dos entrevistados
atendia seus pacientes. Na pesquisa mais geral, tínhamos tipificados os psiquiatras em três grupos,
todos referentes à sua representação de DM, sendo justamente as que dominam amplamente a
formação universitária e profissional dos psiquiatras recifenses: psicanalistas, biomédicos e clínicos4;
entretanto, nesse artigo, dada as respostas dos entrevistados a respeito das relações entre o saber
psiquiátrico e o saber profano, a necessidade dessa tipificação, foi relativizada, pois as respostas não
acompanharam, necessariamente, as respectivas representações de DM de cada grupo de
entrevistados.
1
Aqui, especificamente, utilizamos o termo "saber profano" de uma forma bem geral: significa todo
conhecimento sobre a DM que não seja proveniente da formação universitária ou profissional da medicina e da
psiquiatria.
2
A partir desse momento, quando nos referirmos à doença mental, escreveremos DM. Ao mesmo tempo,
aspeamos a noção "doença mental", pois o que existe de fato é o doente ou a pessoa com algum tipo grave de
sofrimento psíquico. "Doença mental", no nosso entendimento, é um construto social, produzido pelo saber
psiquiátrico e, enquanto tal, uma categoria de valor, isto é, o que chamamos aqui de "objeto profissional".
3
Perrusi, Artur. Tiranias da Identidade: profissão e crise identitária entre psiquiatras. 2003. 308f. Tese
(Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal da Paraíba,
João Pessoa, 2003.
4
O grupo dos psicanalistas é formado por médicos psiquiatras que tiveram formação analítica, têm uma
representação psicanalítica de doença mental e utilizam a psicanálise como método terapêutico. O grupo dos
biomédicos é formado por médicos psiquiatras que tiveram uma formação neuropsiquiátrica ou que defendem,
como modelo nosológico, uma psiquiatria calcada na neurologia. Os psicanalistas e os biomédicos possuem
uma representação de DM mais coesa e mais enquadrada por uma ortodoxia nosológica. Nesse sentido, a
representação psicanalítica e a neuropsiquiátrica, respectivamente, cumprem um papel ideológico de coesão
muito mais pronunciado do que as representações dos clínicos, psiquiatras mais ecléticos e mais pragmáticos,
cuja representação de DM tem menos uma relação com a verdade do que com seu uso pragmático nos
diversos contextos da atividade profissional. Sendo assim, o caso do "clínico" diferencia-se dos dois outros, já
que sua representação (com ênfase no aspecto patológico da DM e numa visão sintomatológica da morbidade,
em suma, sintonizada com a psicopatologia clássica) possui uma peculiaridade: não demonstrou a mesma força
de coesão lógica e de indução de condutas que manifestaram a representação analítica e a biológica.
Diante da necessidade de interpretar discursos e comportamentos, preferimos adotar uma
postura metodológica que partisse de um procedimento indutivo, seguindo o psiquiatra através de
suas passagens por mundos ou lógicas de ação diferentes e, depois, confrontar os resultados da
análise indutiva com os resultados do processo dedutivo, apreendidos do exame do saber
psiquiátrico, dos textos legislativos e das disposições regulamentais. Assim, seguimos o psiquiatra
nas suas diversas lógicas de ação no tempo presente, tomando notas, observando-o e, sobretudo,
interrogando-o. Nós não o "seguimos" apenas para percebê-lo como um agente racional, consciente
e intencional, mas também com o intuito de analisar as condições de realização da sua racionalidade
e da sua intencionalidade na ação. A atividade conceitual do ator não será percebida como alguma
coisa de imanente à sua consciência e ao seu cérebro, mas como um raciocínio que pode ser
apreendido na exterioridade da ação, enquanto um fenômeno social, passível assim de ser
apreendido empiricamente (Ogien, 1989). A partir da análise da prática cotidiana do psiquiatra,
construímos inferências sobre as lógicas de ação que foram colocadas num contexto e relacionadas
a processos identitários.
Contextualizar o discurso do entrevistado possui como pano de fundo a percepção de que os
entrevistados que observamos podem ser percebidos de duas formas: como sujeito que é acionado
pela estrutura e como sujeito que é co-produtor de sentido. Para fazer isso, é preciso, na verdade,
analisar o sujeito nas três formas de ação: agente, ator, autor. Agente é o sujeito que age,
independentemente do fato de ter consciência ou não sobre o sentido e as motivações da sua ação;
ator, aquele que executa, joga o jogo, interpreta o roteiro de seu papel social, chegando a influenciar
o sentido da ação e deixando algum rastro de originalidade, mas não é, de fato, a origem da ação;
autor, o que cria e produz, aquele que se situa em relação ao contexto e o influencia através de sua
ação. Dessa forma, o tríptico agente/ ator/ autor esclarece o nível da implicação do sujeito no
contexto ― explicita a implicação.
O artigo é resultado direto do emprego dessa postura metodológica, embora tenhamos
focalizado mais o discurso dos entrevistados do que, propriamente, suas lógicas de ação. Contudo,
embora se esteja falando de representações, cabe alguns esclarecimentos: na realidade, partiu-se
das representações dos psiquiatras para se chegar às suas práticas e às suas condutas. Não foi
realizada, de fato, uma análise das relações entre representações ou saberes diferentes, pois se
preteriu pesquisar as representações dos usuários, isto é, do senso comum — em suma, não se fez
um estudo comparativo entre os dois campos de saberes. O enfoque todo recaiu nos psiquiatras, já
que o objeto da pesquisa era sua identidade profissional. De todo modo, a primazia dada ao discurso
possui sua justificação, pois discutiremos um problema específico, surgido durante a pesquisa: as
representações dos psiquiatras diante de pacientes que tinham uma visão de DM diferente das
concepções nosológicas usuais da psiquiatria. Embora seja específica, essa questão pode ser
relacionada a um problema mais geral: as relações entre um saber profissional, o psiquiátrico, e o
constituído por uma outra esfera de saber: o senso comum, entendido como produtor de
representações e saberes que não estão enquadrados de forma normativa e cognitiva por
instituições, como a psiquiatria, por exemplo. Vale frisar, contudo, no âmbito desse artigo, dada as
circunstâncias do material empírico, quando falamos de saber profano ou de senso comum, leia-se
representações sobrenaturais, místicas ou religiosas da loucura, em particular de representações de
pacientes espíritas5 e umbandistas6. Infelizmente, não temos conhecimento a respeito de pesquisas
mais abrangentes, realizadas no Recife, sobre outras representações de DM produzidas pelo senso
comum.
Tais relações foram sempre tensas e importantes para a legitimação da psiquiatria. O
reconhecimento científico do saber médico teve um papel capital na legitimação social da medicina,
abjurando outras formas de conhecimento, de tratamento e cura do campo profissional e se tornando
o único detentor de uma competência reconhecida para o tratamento das doenças (Freidson, 1984;
Foucault, 1987). Tal processo de legitimação social, através de uma forma de organização
profissional, baseou-se evidentemente numa luta e no uso de poder, mas estava conectado aos
imperativos da reprodução e manutenção de um saber.
A psiquiatria é uma das poucas disciplinas médicas, senão a única, que nunca teve um
consenso etiológico e nosológico7 estável, isto é, uma representação única e estável guiando a
conduta dos psiquiatras, sempre sofrendo assim uma inadequação permanente com a representação
biomédica de doença. Num certo sentido, ela sempre foi "fraca" no aparato de formação médica e na
luta pelo seu reconhecimento disciplinar dentro da própria medicina, conseguindo tardiamente e de
forma mitigada diferenciar-se da neurologia, e "forte" no campo institucional, com seus aparelhos de
tratamento especiais, separados do campo médico em geral. Não conseguindo, do ponto de vista
disciplinar, assegurar um consenso, o saber psiquiátrico fica mais "frágil" diante das interpelações de
outras esferas de saber produtoras de representações sobre a DM, embora compense essa situação
com seu forte aparato institucional. Por isso, a dificuldade em enquadrar de forma normativa a
doença mental, enquanto um objeto profissional da psiquiatria. Não causa surpresa que tal
enquadramento tenha sido interpretado, por diversos autores8, muito mais como uma questão de
poder do que de saber. Assim, a transformação da DM num objeto profissional da psiquiatria envolve,
também, um conflito político com outras representações de DM, disseminadas de forma difusa em
5
Doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação, por meio da
mediunidade, entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. No Brasil, é um culto
bastante influenciado por Allan Kardec (1804-1869).
6
Sincretismo nascido no Rio de Janeiro na virada do século XX, que já no fim do século XIX registra elementos
bantos, espíritas e palavras do jargão umbandista atual; hoje, a umbanda apresenta-se fracionada em dezenas
de grupos que englobam influências esotéricas, cabalísticas, orientais, católicas, etc.
7
Etiológico, porque a psiquiatria nunca teve um consenso a respeito das causas da doença mental; nosológico,
porque nunca teve um consenso a respeito de quais doenças trata a psiquiatria.
8
Foucault (1978, 1979, 1984), Castels (1976, 1981), Basaglia (1976), Berlinguer (1985), entre outros.
vários segmentos sociais, seja incorporando-as, seja eliminando-as ou diminuindo seu alcance
cognitivo. É um embate importante, pois envolve a preponderância de quem pode classificar uma
categoria social tão vital, como a DM. Dessa forma, é a disputa por um mandato social que permite a
um grupo social determinar, de forma exclusiva, categorizações sobre um fenômeno social. Ao
transformar a DM em objeto profissional, logo, numa representação profissional, a DM torna-se um
objeto específico, pois marcada pelo grupo profissional. E seria através dessa especificidade,
enquanto objetos profissionais, que são valorizados socialmente.
Assim, como objeto profissional, a DM é de difícil conformação e, inclusive, seria fonte de
representações exatamente por ser polimorfa e de difícil apreensão. Como tal, está numa situação
diferente da doença dita somática, cuja normalização é mais profunda e antiga, sendo um objeto
profissional de muito mais fácil apreensão e controle. Devido ao seu caráter um tanto inapreensível, a
necessidade de controle do seu objeto profissional, para os psiquiatras, tornou-se uma questão de
identidade e de coesão social (coesão de grupo). Sua apropriação, enquanto objeto, constitui um
desafio que coloca em xeque a legitimidade profissional da psiquiatria. Ao contrário dos objetos
profissionais da profissão médica, a DM não possui um consenso etiológico, permitindo assim a
concorrência de diversas representações psiquiátricas do objeto profissional, criando uma profusão
de nosologias e práticas terapêuticas. Sem consenso, os psiquiatras não estariam, como os
neurologistas, por exemplo, submetidos a uma instância de regulação que definiria um sistema
ortodoxo (conjunto de regras e práticas relacionadas, no caso da medicina, ao diagnóstico e,
principalmente, ao tratamento) de controle do objeto profissional. Além do mais, mesmo que
possamos admitir que exista, de fato, um sistema ortodoxo na psiquiatria, ele não seria consensual,
estando sujeito à revisões constantes e sendo fonte de eternos conflitos entre os psiquiatras.
Com um sistema ortodoxo de fraco enquadramento normativo, a delimitação de fronteiras entre
saberes e representações é fundamental na construção identitária, daí a importância dessa análise;
afinal, a delimitação será feita em relação ao supremo "outro", o senso comum. A questão é
importante, pois a psiquiatria lutou sempre pela transformação da "loucura" em "doença mental",
portanto, pela ratificação da DM como seu objeto de conhecimento e profissional. A luta foi e é
também por um monopólio discursivo — a logorréia da psiquiatria sobre o seu objeto corresponde ao
silêncio das outras produções discursivas sobre o fenômeno mais geral da loucura. Por isso, esse
problema é sensível aos entrevistados, até porque o seu objeto profissional não está estabilizado por
um consenso no meio psiquiátrico, sofrendo interpelações de várias fontes, inclusive as provenientes
do imaginário social. Para vários entrevistados, isso representa um incômodo, a consciência mais ou
menos tácita de que a psiquiatria ainda não teve uma completa sanção social sobre o objeto de seu
discurso, faltando deste modo honoris causa na psiquiatria.
O diálogo como ocultação de um poder.
Sendo assim, e já analisando o material empírico, observou-se que todos os entrevistados
delimitaram nitidamente o saber profissional, separando-o do "saber profano", embora 20
entrevistados tenham sustentado a possibilidade de um "diálogo" entre as visões profissionais e as
profanas sobre a DM. Na verdade, o movimento de delimitação foi feito primeiro em relação a outras
representações no campo médico-psiquiátrico; depois, em relação aos saberes profanos existentes
no meio social. A delimitação da representação parece ser fundamental na busca de uma identidade
profissional. Muitas vezes, nas entrevistas, percebemos uma defesa do saber psiquiátrico em geral e
não, propriamente, da representação em particular (a representação do entrevistado), como se o
seguinte raciocínio estivesse subjacente: contra uma outra representação proveniente da psiquiatria,
enfatiza-se uma representação em particular, justamente aquela defendida pelo entrevistado; em
relação às representações profanas, sublinha-se o saber psiquiátrico em geral, isto é, as diversas
representações psiquiátricas. Ao delimitá-las como psiquiátricas, independentemente das
divergências, delimitam-nas em relação às representações profanas da DM.
Embora 20 entrevistados defendessem o "diálogo", pode-se afirmar que adotaram uma
postura paternalista, misturada a um certo pragmatismo. O "diálogo", aqui, é funcional à construção
do vínculo terapêutico. Deve-se adotar, assim, uma conduta compreensiva para convencer o paciente
da necessidade do seu tratamento. Se, para obter o apoio do paciente à terapia, por exemplo,
necessita-se do reconhecimento das suas concepções, respeita-se as visões do dito-cujo sem muita
delonga. O que acontece, então, seria uma adaptação pragmática ao contexto cultural do paciente
(pragmatismo paternalista), não existindo, na verdade, uma defesa da continuidade entre os dois
tipos de saberes. O "diálogo" não seria baseado no reconhecimento da veracidade do outro saber, e
sim na tolerância a uma visão diferente da DM. A função da tolerância não seria a de permitir uma
troca de conhecimentos a respeito do objeto comum, a DM, e sim a de ajudar o paciente a aceitar o
tratamento9. Como disse um entrevistado: «pouco me importa se o paciente é espírita e acredita que
está possuído, contanto que tome a medicação. O importante é que ele aceite o tratamento». Outro
entrevistado lembrou de um caso no qual teve que "dividir" a terapia com um terreiro de umbanda: «o
paciente fez o seguinte acordo comigo: vai no terreiro e tira o encosto10, mas toma haldol»11.
Vale sempre ressaltar que as afirmações acima dos entrevistados possuem uma peculiaridade: são
provenientes de profissionais que trabalham no SUS12, isto é, estão em contato direto com pacientes
originados dos setores populares da população do Recife. Tais pacientes, pelo menos a maioria
absoluta dos pacientes observados no serviço, possuem representações que são bem diferentes das
9
Lembrar que, na psiquiatria, a aceitação do tratamento pelos pacientes é, muitas vezes, mais difícil do que em
outras áreas da medicina.
10
Espírito que está ao lado de um ser vivo para protegê-lo ou prejudicá-lo.
11
Medicação utilizada principalmente para tratamento de surtos psicóticos
12
SUS: Sistema Único de Saúde. Serviço público brasileiro de saúde.
concepções dominantes na psiquiatria — embora diferentes, são representações que se misturam,
muitas vezes de forma contraditória, com as representações psiquiátricas de DM. Tal mistura pode
criar a seguinte situação singular: o paciente (ou sua família), que acredita que seu estado mental
seja efeito de uma possessão, procura a umbanda ou uma sessão espírita e, depois, principalmente
no caso de não ocorrer melhora alguma, a psiquiatria.
Na verdade, a argumentação acima é baseada na seguinte hipótese: as representações da
psiquiatria não são hegemônicas (ou não são ainda) nas classes ditas populares do Recife. Não
haveria ainda, desse modo, uma difusão13 suficiente das representações psiquiátricas no meio
popular que substituísse ou determinasse as suas representações; não haveria ainda, por exemplo,
uma crença bem estabelecida de que a "loucura" possui uma causalidade tipicamente psiquiátrica
(psicanalítica, biológica ou clínica). O psiquiatra trava, assim, um combate cotidiano contra
representações de DM que são bem diferentes daquelas consideradas as mais verdadeiras (sic). O
"diálogo", nesse caso, torna-se necessário, pois há, do contrário, o risco de se «perder» o paciente. A
manutenção do "diálogo" teria um papel importante, convencendo e persuadindo o paciente, enfim,
de que a psiquiatria possui a legitimidade do tratamento e, claro, como pano de fundo da questão, a
verdade sobre a DM.
Como já dissemos, pelas entrevistas, pode-se deduzir que a maioria absoluta das representações
dos pacientes possui um forte componente religioso ou místico. Invariavelmente, a DM é vista como
um encosto ou possessão. Representações, portanto, bem distintas das psiquiátricas que seriam,
digamos assim, "desencantadas", já que exorcizadas de qualquer vestígio, pelo menos
explicitamente, de explicações sobrenaturais ou mágicas. Pode-se, desse modo, deduzir que o
"diálogo" proposto pelos entrevistados envolve um processo de negociação bastante complexo.
Como o ambiente institucional, no caso desses entrevistados, ou é um ambulatório do SUS ou um
hospital psiquiátrico, ambiente onde a psicoterapia é realizada pelos psicólogos ou simplesmente
nunca acontece, o ponto fundamental de negociação para os psiquiatras14 recai na medicação. Pelo
que entendemos, o importante seria o tratamento, no caso o tratamento medicamentoso — «tenho
que garantir o mínimo necessário, disse um entrevistado, pelo menos, o paciente toma a medicação,
que é, convenhamos, o tratamento principal». Como já foi comentado anteriormente, o paciente pode
até fazer uma «psicoterapia espírita», no dizer de um entrevistado, mas contanto que tome a
medicação. O «mínimo necessário» é a tomada do remédio, a justa compensação do "diálogo". Seria
como se a medicação garantisse o controle do tratamento, mesmo com o paciente continuando a
13
Geralmente, quando as representações médicas das doenças tornam-se dominante na sociedade, ocorre um
processo de amálgama entre as diversas representações de doença, mas que mantém como núcleo irradiador
justamente as representações dominantes, no caso as provenientes da medicina.
14
Principalmente, para os psiquiatras que têm representações clínicas e biológicas de DM.
freqüentar sessões espíritas ou terreiros de umbanda15. O paciente e a família, por exemplo, não
precisam estar convencidos de que o quadro delirante não é, decididamente, produzido por um
«encosto» — no caso, podem continuar com suas crenças e com suas "práticas psicoterápicas" sem
problema algum —; o fundamental é que estejam convencidos, isto sim, da necessidade do
tratamento medicamentoso.
O haldol não tem crença: técnica x relacional
A negociação gira, assim, em torno do tratamento — em suma, das técnicas, das práticas e não
propriamente em torno das crenças e das representações. O resultado disso pode ser também
interpretado da seguinte forma: prescinde-se da psicoterapia e se abdica de seu controle normativo e
profissional, deixando-a livre para ser apreendida ou não pelas representações dos pacientes; dessa
forma, perdem-se alguns anéis, mas não se perdem os dedos, principalmente aqueles que valorizam
e identificam a terapia à medicação, visto como o tratamento, em última instância, mais fundamental.
Ao mesmo tempo, parece que defender a necessidade da medicação seria uma imposição neutra
que respeitaria as representações diferentes do paciente. A neutralidade da medicação não seria
vista como uma injunção de uma representação; ao contrário, o paciente pode tomar a medicação,
manter sua concepção de DM e, ainda, participar de rituais exorcistas. O tratamento medicamentoso
é visto como uma técnica e, como tal, neutra em relação às crenças dos pacientes — por exemplo,
ele não competiria com a crença da possessão. O uso da medicação não seria contraditório com as
representações, estas sim contraditórias com as representações psiquiátricas. A demonstração
explícita ou implícita da neutralidade da medicação seria essencial para a manutenção do diálogo.
Como não há um veto das crenças dos pacientes em relação à tomada da medicação, a
administração medicamentosa pode acontecer sem muita resistência16.
Como disse um entrevistado: «por que vou proibir o paciente de ir a uma sessão espírita? Ele que
acredite no que quiser! A medicação que passo não tem nada a ver com sua crença. Qual é a crença
de um haldol? Cada macaco no seu galho: eu passando a medicação, o paciente, lá com o pai de
santo fazendo psicoterapia selvagem...».
Pode-se aqui ventilar a hipótese de que uma psicoterapia sofreria mais resistências por parte dos
pacientes, já que, por analogia, competiria com os rituais de exorcismos. A «psicoterapia selvagem»
de tais rituais rivalizaria, digamos assim, com a "psicoterapia civilizada" e padronizada do setting
psicoterápico. Tentando interpretar do nosso ponto de vista, a medicação pode ser vista, em nossa
15
Esse raciocínio parece ser mais comum nos casos de psicose do que nos de neurose, pelo simples fato de
que a medicação tem uma importância fundamental no tratamento do surto psicótico.
16
Totalmente diferente, por exemplo, da situação de confronto com uma crença, como a advogada pelos
adeptos da seita Testemunha de Jeová, que veta explicitamente a técnica de transfusão sanguínea.
opinião, como neutra, desde que interpela o corpo do paciente, enquanto o que realmente está em
jogo, para o paciente, é a sua «alma». Para um paciente convicto de sua possessão, talvez a
psicoterapia pareça-lhe não muito eficiente17 — para aplacar seus demônios, haveria a necessidade
de processos de transferências e de sugestão "selvagens". De todo modo, o fato de o psiquiatra
preocupar-se apenas com o ato de tomar um medicamento, permite-lhe passar ao largo de uma
questão importante: o reconhecimento da veracidade da possessão do paciente — a estratégia do
"diálogo" contorna simplesmente esse "nó górdio". A psicoterapia só pode reconhecer a verdade da
possessão de uma maneira, no máximo, metafórica, o que não é o bastante. Abordando apenas o
corpo, a medicação simplesmente não problematiza a possessão, tornando-se neutra em relação às
crenças do paciente.
A situação torna-se ainda mais complexa quando o entrevistado é espírita, como aconteceu com
quatro entrevistados, três clínicos e um psicanalista, todos psiquiatras do SUS. Diante de um paciente
e de uma família que acreditam na possessão, o entrevistado utiliza a seguinte estratégia: primeiro,
procura diferenciar se o caso é psiquiátrico ou espírita. Tal diferenciação, um verdadeiro "diagnóstico
diferencial", se interpretamos bem, seria baseado completamente na experiência do profissional,
apresentando um forte componente intuitivo. O entrevistado utilizaria dois registros diferentes, o
espírita e o psiquiátrico, e, diante do quadro apresentado pelo paciente, decidiria pelo mais
conveniente. Segundo, assim que comprovada a natureza psiquiátrica do caso, começaria a
negociação em torno da medicação, repetindo os procedimentos já discutidos.
A medicação é representada como técnica e, num segundo movimento, como sendo neutra. Pode,
evidentemente, ter outra significação e, nesse sentido, mudar conforme o grupo de entrevistados. Os
entrevistados biomédicos, por exemplo, possuem a convicção de que a medicação é uma técnica,
mas não a percebem, por outro lado, como neutra; na verdade, neste caso, a medicação possui uma
importância fundamental: seria a prova da verdade da representação biomédica de DM. E a verdade
da representação estaria relacionada ao sucesso da terapia medicamentosa. E verdade, aqui,
confunde-se com sucesso, eficiência e resultado do tratamento. A medicação, assim, não é neutra...
Seria técnica, sem dúvida, mas possuindo um valor e, enquanto tal, relacionado a uma prática ou a
procedimentos terapêuticos que são um sucesso. Ela é a prova da verdade.
Como disse um entrevistado: «eu tô preocupado é com o resultado do tratamento. É ele que vai dizer
se estou certo ou errado. A psicoterapia depende muito do processo; a medicação, não, pois é uma
técnica que vai me mostrar o final do caminho, se falso ou verdadeiro».
17
Uma entrevistada chegou a afirmar de forma irônica: «não tem psicanálise que suplante um ritual de
exorcismo, ela (a psicanálise) é delicada demais, demorada demais»
Ou ainda, outro entrevistado:
«Fundamentalmente o tratamento é bioquímico. A psicoterapia entra com uns 30% a 20%. Eu acho
que a medicação é essencial. Eu não fujo disso não; isso é a minha concepção; isso é a minha forma
de agir, meu modo de pensar, meu modo de atuar profissionalmente. Essencialmente
medicamentoso».
Já para os psicanalistas, a medicação não seria neutra e sim um símbolo de uma representação de
DM. O argumento é o mesmo dos entrevistados biomédicos, só que num sentido inverso: a valoração
seria, aqui, negativa. O sucesso do tratamento medicamentoso esconderia a face oculta da
psiquiatria biológica, isto é, dissimularia a vitória de uma prática que desumaniza o paciente e elimina
a relação médico-paciente. Aparentemente, a técnica seria vista como uma prática de poder e de
exclusão do paciente, e o exclusivismo medicamentoso como sua expressão na psiquiatria. Ela seria
a prova da realidade de um poder. Decerto, diferente da psicoterapia, vista menos como uma técnica
do que como um processo relacional. Parece-nos — pelo que interpretamos das respostas dos
entrevistados — que a técnica envolveria um conjunto de procedimentos "materiais", enquanto a
psicoterapia, sendo relacional e, digamos assim, "espiritual", não poderia ser enquadrada como um
procedimento técnico18.
Como disse um entrevistado: «o paciente não é um objeto. Não é um instrumento de uma técnica A
neuropsiquiatria transforma o doente num objeto, num depósito de seringas. Não consigo imaginar
um tratamento sem psicoterapia, sem o relacional, sem humanização. A seringa é o revólver do
psiquiatra!».
Pode-se fazer a hipótese de que, ao contrapor a psicoterapia à técnica, tais entrevistados afastam-se
da espinhosa questão de relacionar a psicoterapia a uma prática de poder. A psicoterapia, desse
modo, ao contrário da medicação, é que seria... neutra. Mas neutra em relação ao poder — a
neutralidade de uma prática terapêutica seria definida, aqui, a partir da sua relação com o poder.
Quanto mais afastada do poder, mais neutra — talvez assim mais terapêutica; quanto mais próxima,
mais imbricada com técnicas de dominação. Os entrevistados têm nitidamente a preocupação de
grudar a crítica tradicional de que a psiquiatria é uma prática de poder sobre o paciente à psiquiatria
biológica. Nesse sentido, a crítica à estratégia medicamentosa dos entrevistados biomédicos seria
bem mais contundente do que a realizada contra a psicoterapia, colocada no máximo como inútil19.
Assim, de um lado, a técnica — a medicação como técnica — é vista como comprovação do sucesso
do tratamento. O valor da medicação é sua utilidade, e sua utilidade é o seu sucesso. E o resultado
18
Lembrar que muitos entrevistados clínicos, principalmente os mais "pragmáticos", colocaram a psicoterapia
como uma técnica entre outras.
19
Alguns entrevistados biomédicos colocaram ironicamente a psicoterapia como "papoterapia".
garante a verdade da representação de DM. De outro lado, a terapia exclusivamente medicamentosa
é percebida como a face visível de uma prática de poder. E a técnica é vista com reservas, pois o
fundamental no tratamento, segundo tais entrevistados, é o relacional e não os procedimentos
materiais ou tecnológicos. Seria o relacional, e não a técnica (ou a medicação), que diminuiria ou
eliminaria o poder que o psiquiatra possui sobre o paciente. Acreditamos que essas duas posições
são coerentes com as representações de DM defendidas pelos entrevistados. Os biomédicos
assumem a defesa de uma neuropsiquiatria, das conquistas das neurociências e do uso intensivo da
tecnologia — não causa surpresa a valoração da técnica e, claro, do tratamento medicamentoso,
último reduto da cura psiquiátrica. Já os psicanalistas assumem, no discurso, uma crítica dura à
tecnologização da psiquiatria, à primazia da medicação no tratamento psiquiátrico, ao poder do
psiquiatra sobre o paciente, contrapondo a tudo isso uma apologia da psicoterapia, na qual está
embutida uma crítica política à psiquiatria tradicional.
O demônio precisa ser combatido: a luta contra( as representações dos pacientes) o
preconceito.
Contudo, até agora, examinamos as posições dos entrevistados que defenderam o "diálogo" com os
pacientes — e os entrevistados do "sem diálogo"? Ora, estes admitem que, caso a concepção
psiquiátrica torne-se hegemônica na população, o diálogo será possível — mas assim, convenhamos,
não existirá propriamente diálogo, pois não haveria representações diferentes das psiquiátricas com
que dialogar. Os entrevistados julgam as representações profanas da DM falsas e, sobretudo,
preconceituosas. Por serem falsas, são preconceituosas, e vice-versa. Nas respostas dos
entrevistados, o falso parece possuir uma relação necessária com o preconceituoso.
Como disse um entrevistado: «pensar que a loucura é uma possessão, é um preconceito muito sério.
Os psiquiatras precisam combater esse preconceito com muito zelo. A Idade Média terminou. O
paciente precisa ser esclarecido. Precisa saber que seu problema não foi causado por um demônio.
Isso é uma idiotice!».
Está implícita nessa frase a necessidade de o psiquiatra assumir um papel de conscientização. Uma
das suas funções profissionais seria, justamente, o esclarecimento público sobre a natureza da DM.
Um esclarecimento que significaria projetar uma luz sobre a loucura, sobre a sua verdade. E seria a
psiquiatria que teria a legitimidade de cumprir esse papel.
A estratégia não é mais da persuasão, como a dos "com diálogo", e sim a do combate. E envolve um
processo de conscientização do paciente; logo um papel pedagógico assumido pelo psiquiatra. Um
papel pedagógico que implica também um forte componente político, pois o combate exige a
ocupação do imaginário profano da DM pelas representações psiquiátricas. Político porque implica a
utilização de recursos, principalmente o uso de políticas públicas, em suma do Estado, na difusão das
representações psiquiátricas. Político porque implica modificar uma correlação de forças, de natureza
simbólica, favorecendo as representações psiquiátricas em detrimento das representações profanas.
Enfim, político porque envolve poder, isto é, o poder inscrito e engendrado por um confronto entre
saberes ou representações diferentes — político, ainda, pois implica o poder de inscrever, num
determinado saber, o monopólio da verdade; em resumo, implica a luta pela verdade. E, como tal,
implica igualmente um combate semântico. Com efeito, boa parte dos entrevistados, para enfatizar a
distância existente entre o saber psiquiátrico e o do senso comum, fizeram uma interessante
discriminação entre o termo "loucura" e o de DM. O primeiro foi usado como a contrapartida
pejorativa do segundo. A "loucura" condensa a carga de preconceitos que sofre a DM. É uma noção
do senso comum, logo falsa e preconceituosa. Incontrolável, extrapola o campo médico, misturandose com outros sentidos, outros registros, outros significados. O combate, assim, atravessa também as
palavras, exigindo a vitória de uma noção médica, única realmente verdadeira e neutra de
implicações estigmatizantes.
Como disse um entrevistado: «eu não aceito essa terminologia 'loucura'. Eu sou mais pela definição
de doença mental, certo? Porque loucura tornou-se pejorativo atualmente; porque no início ela
englobava só as psicoses e hoje qualquer indivíduo que altere um pouco o seu comportamento é
louco. Então, na minha concepção, loucura é apenas um adjetivo e não sinônimo de doença mental».
O esclarecimento não tem apenas conseqüências políticas, mas também toca num ponto sensível
aos entrevistados: ao amenizar o preconceito contra a DM, diminui-se a desvalorização da psiquiatria,
tanto na sociedade, como na própria medicina. Aqui, produz-se uma relação causal entre preconceito
e desvalorização. No limite, o argumento sustenta a interessante tese de que os psiquiatras pagam
um preço pelo preconceito contra os pacientes psiquiátricos. São vítimas indiretas, digamos assim,
mas que sofrem um efeito imediato: a desvalorização da disciplina psiquiátrica, logo, de sua atividade
profissional. O preconceito contamina a sociedade e, também, o próprio meio médico, a tal ponto que,
na medicina, segundo os entrevistados, os maiores vilões dessa discriminação são os clínicos e os
neurologistas. Aqueles têm «medo da loucura» (sic) e, com isso, medo da psiquiatria; os outros
negam o «fato psicopatológico», no dizer de um entrevistado, e acham que a psiquiatria é inútil,
porque trata de uma doença inexistente.
Acreditamos que estamos, até mesmo pela exuberância das expressões argumentativas, diante de
um ponto sensível: o preconceito, na maioria das vezes, é explicado como medo. Assim, um
disseminado «medo da loucura» empurra a psiquiatria para um ostracismo disciplinar. O psiquiatra
seria vítima desse processo, tornando-o um estranho na família médica. Estranho, no sentido de não
se conseguir enturmar, na curiosa imagem de um entrevistado, mas também na acepção de bizarro e
esquisito. E, aqui, dá-se um pulo na argumentação, passando-se do tema da estranheza psiquiátrica
ao medo do próprio psiquiatra20. O famoso clichê que diz que «todo psiquiatra é louco» corrobora
mais ainda o argumento. Decididamente, o medo da loucura contamina todo o ambiente psiquiátrico,
das instituições aos profissionais.
O psiquiatra parece ser vítima do seu próprio objeto profissional. Mesmo que a culpa não seja
propriamente sua, mas sim do fato de a mesma ser alvo de preconceitos, fica-nos a impressão, em
algumas entrevistas, que o medo da loucura é inevitável. E o destino do psiquiatra seria escolher
entre ser uma vítima ou um dos protagonistas que tentarão amenizar a situação. De todo modo, a
maioria dos entrevistados pensa que a maneira mais fácil de enfrentar o preconceito ou o «medo da
loucura» no meio médico é a conscientização dos profissionais, principalmente durante a formação
universitária. O esclarecimento, quase uma política pedagógica preventiva, permitirá aos futuros
profissionais uma visão mais simpática da psiquiatria e uma menor dificuldade no trato com os
pacientes psiquiátricos. Com isso, a psiquiatria seria inevitavelmente valorizada.
Valorizada ou não, a vantagem da psiquiatria em relação às representações profanas da DM é
imensa. Mesmo que essa vantagem não garanta a eliminação completa das representações
profanas, com certeza assegura a sua total neutralização. Como ocorre fundamentalmente isso? O
exemplo mais banal seria o do paciente que acredita na possessão e aceita passivamente as
abordagens e os tratamentos da psiquiatria. Sua representação de DM não mais seria uma crença
mobilizadora que induz comportamentos e condutas. O paciente pode até interpelar um outro
delirante como uma possessão, por exemplo, mas não mais a si mesmo. Não tem mais convicção na
sua crença. Apenas desconfia de que esteja possuído. Submete-se ao tratamento psiquiátrico, até
mesmo porque a família assim o deseja, porque afinal todo mundo faz isso... Um belo dia, a maioria
absoluta dos pacientes, senão a totalidade, acreditará nas representações psiquiátricas. Seria esse
consenso em torno da terapia psiquiátrica que aspira a psiquiatria — consenso, enquanto tal, produto
da conscientização, cujos protagonistas são os próprios psiquiatras.
A espera: o esclarecimento sempre adiado e a ciência que nunca chega.
Mas, como conscientizar a população, se a psiquiatria não é respeitada como disciplina médica?
Disse um entrevistado. Ora, segundo vários entrevistados, a desvalorização da psiquiatria é causada
também pela pouca «cientificidade» da psiquiatria (sic). Admite-se até que, realmente, exista um
preconceito, mas não apenas aquele devido à DM, e sim o produzido pelas insuficiências científicas
da psiquiatria. Na verdade, para alguns, a única forma de a psiquiatria inserir-se no meio médico seria
tornar-se científica. Tornando-se científica, adviria naturalmente o reconhecimento disciplinar e
profissional. No entanto, temos dúvidas a respeito do que significa «cientificidade». Inicialmente,
20
Segundo vários entrevistados, os clínicos, principalmente, têm medo dos psiquiatras...
poder-se-ia pensar que o termo refere-se, por exemplo, a uma cientificidade como a da neurologia,
isto é, a defesa de uma psiquiatria biológica ― e, de fato, os entrevistados biomédicos defenderam
algo parecido. Na realidade, os entrevistados parecem referir-se a uma cientificidade ainda a ser
encontrada, própria ao campo psiquiátrico. O que seria isso realmente, eis a questão.
«Cientificidade», aqui, é um termo vago e um tanto normativo — encontrá-la seria descobrir o lugar
da psiquiatria na medicina e, pari passu, na sociedade. Como muitos dos entrevistados consideram
que as disciplinas médicas são científicas, a descoberta da cientificidade da psiquiatria iria recolocá-la
no campo disciplinar médico. Situação um tanto angustiante, pois estamos falando de uma
cientificidade que não existe, que deveria existir, que deve ser encontrada ou descoberta, sendo
absolutamente necessária para "encaixar" a psiquiatria na medicina. Situação estranha, porque os
entrevistados consideram a psiquiatria como uma disciplina científica, mas reconhecem,
paradoxalmente, que sua desvalorização no meio médico seria justamente ocasionada pela falta de...
cientificidade. Estamos diante da contradição entre o que é ressentido e o que é desejado, entre o
que acontece na realidade e o que deveria acontecer.
Como disse um entrevistado: «eu não sei se a psiquiatria é uma disciplina científica. E a gente sofre,
dentro da medicina, um preconceito muito grande. Quando vou discutir com um leigo, boto uma
banca muito grande, mas não sei se o discurso dele é pior do que o meu... Gostaria muito que as
pesquisas resolvessem o impasse, dizendo logo o que é a doença mental. pronto, a gente seria enfim
mais respeitado».
Com efeito, o psiquiatra parece o tempo todo esperar alguma coisa. Nas entrevistas, passa-se
sempre uma impressão de incômodo em relação à situação presente da psiquiatria. Os entrevistados
perseveram num discurso que, podemos assim dizer, baseia-se na esperança. Ora, a esperança,
pelo menos no sentido que estamos definindo a partir do discurso dos entrevistados, parece referir-se
ao que não se tem (a psiquiatria valorizada na medicina) — por isso, um discurso carente de
reconhecimento —, ao que não se sabe se será realizado, ao que se ignora (afinal, qual seria a
cientificidade da psiquiatria?!) e, enfim, a um contexto que não depende da vontade dos psiquiatras (a
transformação da psiquiatria numa disciplina científica). Em suma, é um discurso baseado num
desejo sem satisfação (carência), sem saber e sem poder (Comte-Sponville, 1999: 312).
Voltando aos entrevistados, os "sem diálogo" perfazem 60% dos entrevistados (30); logo, são a
maioria absoluta. Dos clínicos, apenas nove são a favor do "diálogo"; dos biomédicos, cinco e dos
psicanalistas, seis. Percentualmente (33%, 43%, 50%, respectivamente), há mais psicanalistas e
biomédicos que defendem o "diálogo" do que clínicos. Em relação aos psicanalistas, não causa
surpresa a percentagem alta dos que defenderam o "diálogo", já que tais entrevistados colocaram
como fundamental para o tratamento psiquiátrico a interação entre o psiquiatra e o paciente — o
«relacional», como dizem os entrevistados. Enfatizar a interação significa, no mínimo, uma
conversação e mesmo um reconhecimento da palavra do paciente. Significa, no mínimo, uma
situação de entendimento entre o psiquiatra e o paciente — tal entendimento pode representar o
reconhecimento de alguma veracidade no discurso do paciente. O entendimento seria uma das bases
para a interação — o dito «contrato terapêutico» (sic). Estariam, em tese, propensos ao diálogo.
Quanto aos entrevistados biomédicos, não causa surpresa que doze (57%) tenham sido contra o
diálogo. Dos entrevistados, foram os que afirmaram mais o caráter científico da psiquiatria. O saber
psiquiátrico, enquanto conhecimento científico, seria uma ruptura com o senso comum; logo, com as
representações profanas da DM. O senso comum seria falso e perigoso, pois fonte de preconceitos
— a única forma de combatê-lo seria através do esclarecimento público via política pública de saúde
mental. Embora tenham sido cinco entrevistados defendendo o diálogo, quando examinamos mais
atentamente o conteúdo das entrevistas, percebemos que foi bastante tímida a defesa. Inclusive, o
diálogo serviria primordialmente para entabular uma conscientização do papel do psiquiatra e da
natureza da DM.
Já os clínicos foram os que menos defenderam o diálogo, mas, se atentarmos bem para o conteúdo
das entrevistas, notaremos que sua defesa foi muito mais enfática do que a dos biomédicos e, até
mesmo, do que a dos psicanalistas. De qualquer forma, dezoito clínicos foram contra o diálogo; em
suma, uma maioria absoluta e contundente. Os clínicos não enfatizaram tanto a cientificidade do
saber psiquiátrico como fizeram os biomédicos; no entanto, deram extrema importância a
conscientização da população a respeito da DM. O discurso do «esclarecimento público» sobre a DM
seria consenso entre os clínicos, não importando aqui a defesa ou a oposição ao diálogo.
De qualquer forma, queremos lembrar novamente que a diferença, no plano discursivo, entre os do
"diálogo" e os "sem diálogo" não foi substancial; ao contrário, muitas vezes os discursos misturaramse e não foram necessariamente incompatíveis entre si, principalmente entre aqueles entrevistados
que trabalham no serviço público (86% dos entrevistados: 100% dos psicanalistas, 86% dos
biomédicos e dos clínicos). E, se no plano do discurso a diferença não é de monta, na prática a
situação é ainda mais confusa. Nas nossas observações, pareceu-nos que o ambiente do SUS
prescinde de consenso ou dissenso entre psiquiatra e paciente, já que as precárias condições de
trabalho inibem o estabelecimento do diálogo. O entrevistado pode até de bom grado ter uma
concepção favorável e buscar o diálogo, mas a forma pela qual se organiza, na prática, as interações
entre os psiquiatras e os pacientes inibe a comunicação. Expliquemo-nos:
a base do diálogo é uma comunicação coordenada pela linguagem e voltada
para o entendimento; porém, para o paciente psiquiátrico, a comunicação está
comprometida, pois distorcida patologicamente. Por causa da sua enfermidade, o
paciente não consegue fazer-se compreender pelo outro; isola-se e seus laços de
sociabilidade são fragmentados, ocorrendo um processo de deterioração na sua
identidade, tanto em relação a si mesmo como em relação à sua vida intersubjetiva. As
grandes psicoses, nesse sentido aqui discutido, seriam doenças da comunicação; logo,
as organizações psiquiátricas deveriam, em tese, resgatar a palavra e a capacidade de
comunicação (a ação comunicativa) dos pacientes;
ora, pode-se imaginar a dificuldade de diálogo num contexto asilar, ainda típico
dos hospitais psiquiátricos públicos (e os privados conveniados com o SUS) no Brasil.
Nossas observações levaram-nos a crer que a ação comunicativa é incompatível ou
francamente vã num ambiente tipicamente asilo-hospitalar. A forma de organização do
hospital psiquiátrico configura um sistema anti-comunicativo por excelência. Ao invés
de tentar restaurar a competência comunicativa de sujeitos que a perderam, o hospital
produz o efeito contrário de diminuir ao máximo a ação comunicativa no ambiente
hospitalar, principalmente entre os pacientes;
o problema não muda muito, mesmo no ambulatório. Filas imensas, anamneses
rapidíssimas e precárias condições de trabalho estruturam uma situação de parca
comunicação entre o psiquiatra e o paciente — uma situação na qual o paciente
queixa-se, o psiquiatra anota a sintomatologia, administra a medicação, e o paciente
vai embora; tudo isso durando uma dezena de minutos e tornando o diálogo um
objetivo um tanto quimérico. Em suma, na prática, a posição e a representação de DM
do paciente dificilmente pode ser levada em conta.
Considerações finais
O ponto de partida desse artigo foi o de inferir que o objeto profissional é constitutivo da identidade
profissional entre os psiquiatras. Todavia, seria uma questão empírica saber se o objeto profissional
do neurologista, por exemplo, possui uma importância comparável ao do psiquiatra. A representação
de doença em neurologia é estável. É dada para o profissional. Não há necessidade de se posicionar,
visto que já existe um consenso etiológico, isto é, uma tomada de posição oficial a respeito da doença
em neurologia. Não há ortodoxia, propriamente dita na psiquiatria, mas sim uma competição entre
linhas nosológicas que buscam a hegemonia no campo psiquiátrico — o objeto da psiquiatria possui
uma natureza que impede a sua apropriação completa pela medicina psiquiátrica. Seria justamente
esse impedimento que, potencialmente, cria um conflito com as representações do senso comum —
mas é também por causa do embate que se abre uma brecha para o diálogo.
Pelo fato de não existir um consenso etiológico no campo psiquiátrico, há uma luta fratricida entre
diversas correntes nosológicas, embora ocorram também contemporizações entre as posições. De
todo modo, do ponto de vista do controle representacional do objeto profissional, a psiquiatria possui
uma fraqueza simbólica, traduzida numa dificuldade de legitimação, não conseguindo impor no
cenário disciplinar da medicina uma concepção homogênea de doença. Ora, tal situação abre um
flanco para a entrada de outras representações de "doença mental", principalmente daquelas
provenientes do senso comum. Como conseqüência, a conduta dos entrevistados foi paradigmática:
há a necessidade constante em delimitar fronteiras entre o saber psiquiátrico e o saber profano, o seu
eterno outro. Dessa forma, ficou evidente que a relação (seja baseada no confronto ou na
aproximação) entre os dois tipos de saberes, para os entrevistados, é uma questão identitária. A
psiquiatria não conseguiu até hoje emancipar completamente seu modelo de doença dos modelos
inscritos na experiência social. Não impôs uma distância suficiente entre seu objeto profissional e a
"loucura", enquanto objeto social do mundo vivido. Convive com uma inquietante proximidade com o
senso comum, não escapando da atração que causa a polissemia dos significados sociais da
"doença mental".
A psiquiatria não conseguiu construir, de forma completa, um controle social ideativo que dominasse,
validasse e mantivesse o processo de construção de seu objeto profissional, garantindo a
autolegitimação profissional, a manutenção estável da identidade de grupo e o enquadramento da
"loucura" como objeto médico. Em conseqüência, não pôde absorver, neutralizar, isolar ou, sendo o
caso, excluir do horizonte representacional as representações do senso comum (Perrusi, 1995).
Sendo assim, a significação da "doença mental", do ponto de vista da psiquiatria, ficou livre,
excessivamente livre de toda e qualquer normatização — uma liberdade que, do ponto de vista da
identidade profissional, tem a vantagem, parodiando Nietzsche, de trazer a sensação de um espaço
imenso — mas também a de um imenso vazio...
Resumo:
O artigo aborda as relações entre o saber psiquiátrico e o senso comum. Faz parte de um texto mais
amplo, cujo objeto foi a identidade profissional do psiquiatra. Nesse sentido, é produto de uma
pesquisa qualitativa realizada na cidade brasileira do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde
foram efetuadas 50 entrevistas semi-diretas com psiquiatras, além de observação participante nos
serviços psiquiátricos locais. Partimos da premissa que a "doença mental" é o objeto profissional da
psiquiatria. Contudo, enquanto tal, nunca foi completamente enquadrado pelos paradigmas médicos.
Por isso, a relação entre o saber psiquiátrico e o saber social sobre a "doença mental" é tensa e
problemática. O psiquiatra tem a necessidade constante em delimitar fronteiras entre o saber
psiquiátrico e o saber do senso comum. A delimitação envolve concretamente um processo complexo
de negociação entre psiquiatras e pacientes a respeito de representações diferentes sobre a "doença
mental". Assim, a relação entre os dois tipos de saberes, para os psiquiatras, é uma questão
identitária.
BIBLIOGRAFIA
BASAGLIA, F. 1985. A instituição negada. Rio de Janeiro: Graal.
BERLINGUER, G. 1976. Psiquiatria e Poder. Minas Gerais: Interlivros,.
CASTEL, R. 1976. L'ordre psychiatrique. L'âge d'or de l'aliénisme. Paris: Les Éditions de Minuit.
CASTEL, R. 1981. La gestion des risques: de l'anti-psychiatrie à l'après psychanalyse. Paris: Les
Éditions de Minuit.
COMTE-SPONVILLE, A, FERRY, L. 1999. A sabedoria dos modernos. São Paulo: Martins Fontes.
DEVEREUX, G. 1970. Essais d´ethnopsychiatrie générale. Paris: Gallimard.
FOUCAULT, M. 1978. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva.
FOUCAULT, M. 1979. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal.
FOUCAULT, M. 1984. Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Graal.
FOUCAULT, M. 1987. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense, Universitária, 3º edição.
FREIDSON, E. 1984. La profession médicale. Paris: Payot.
HUGHES, E.C. 1996. Le regard sociologique. Paris: EHESS.
JODELET, D. 1989. Folies et représentation sociales. Paris: Presses Universitaires de France.
MOSCOVICI, S. 1978. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar.
OGIEN, A. Le raisonnement psychiatrique. Paris: Meridiens Klincksieck, 1989.
PERRUSI, A. 1995. Imagens da Loucura: representação social da doença mental na psiquiatria. São
Paulo: Cortez.
PERRUSI, A. 2003. Tiranias da Identidade: profissão e crise identitária entre psiquiatras. 308f. João
Pessoa. Tese (sociologia das profissões). Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade
Federal da Paraíba.