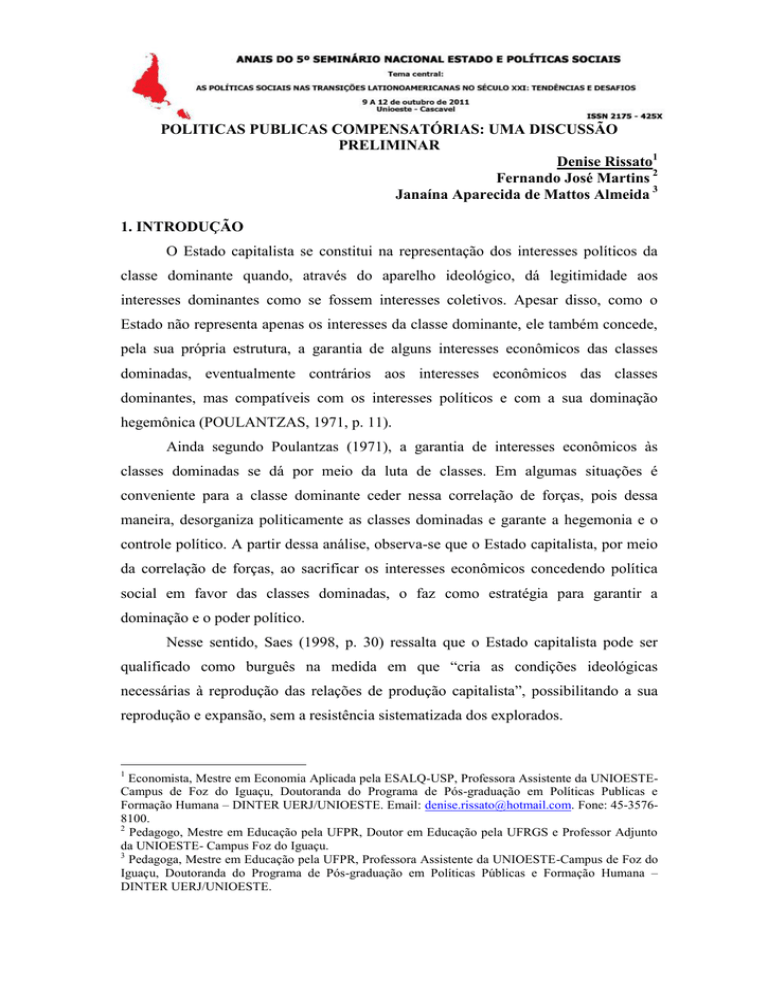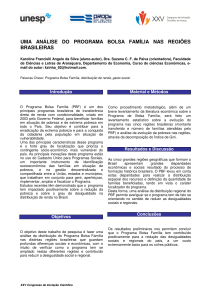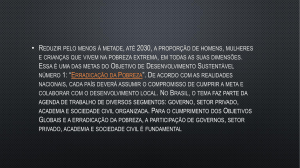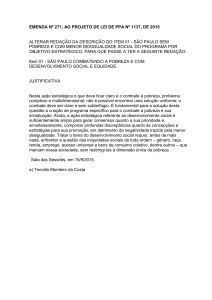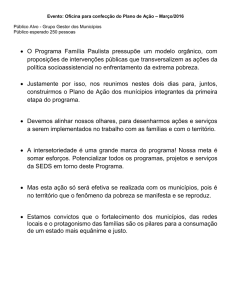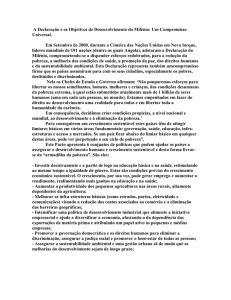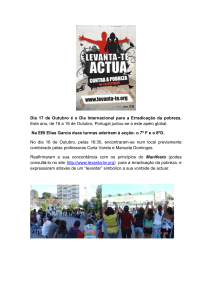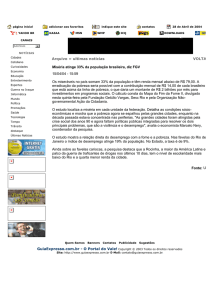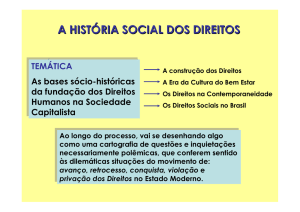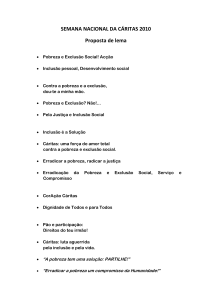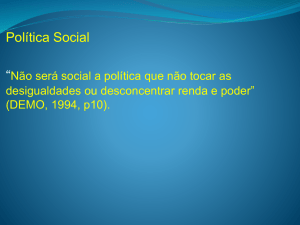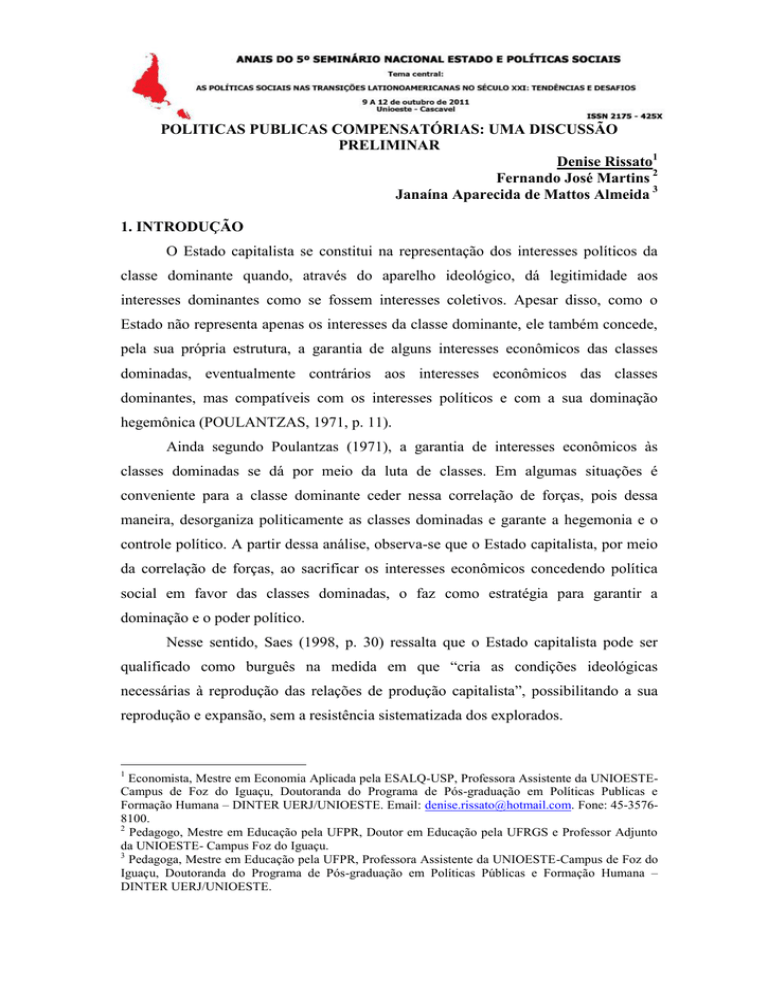
POLITICAS PUBLICAS COMPENSATÓRIAS: UMA DISCUSSÃO
PRELIMINAR
Denise Rissato1
Fernando José Martins 2
Janaína Aparecida de Mattos Almeida 3
1. INTRODUÇÃO
O Estado capitalista se constitui na representação dos interesses políticos da
classe dominante quando, através do aparelho ideológico, dá legitimidade aos
interesses dominantes como se fossem interesses coletivos. Apesar disso, como o
Estado não representa apenas os interesses da classe dominante, ele também concede,
pela sua própria estrutura, a garantia de alguns interesses econômicos das classes
dominadas, eventualmente contrários aos interesses econômicos das classes
dominantes, mas compatíveis com os interesses políticos e com a sua dominação
hegemônica (POULANTZAS, 1971, p. 11).
Ainda segundo Poulantzas (1971), a garantia de interesses econômicos às
classes dominadas se dá por meio da luta de classes. Em algumas situações é
conveniente para a classe dominante ceder nessa correlação de forças, pois dessa
maneira, desorganiza politicamente as classes dominadas e garante a hegemonia e o
controle político. A partir dessa análise, observa-se que o Estado capitalista, por meio
da correlação de forças, ao sacrificar os interesses econômicos concedendo política
social em favor das classes dominadas, o faz como estratégia para garantir a
dominação e o poder político.
Nesse sentido, Saes (1998, p. 30) ressalta que o Estado capitalista pode ser
qualificado como burguês na medida em que “cria as condições ideológicas
necessárias à reprodução das relações de produção capitalista”, possibilitando a sua
reprodução e expansão, sem a resistência sistematizada dos explorados.
1
Economista, Mestre em Economia Aplicada pela ESALQ-USP, Professora Assistente da UNIOESTECampus de Foz do Iguaçu, Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Políticas Publicas e
Formação Humana – DINTER UERJ/UNIOESTE. Email: [email protected]. Fone: 45-35768100.
2
Pedagogo, Mestre em Educação pela UFPR, Doutor em Educação pela UFRGS e Professor Adjunto
da UNIOESTE- Campus Foz do Iguaçu.
3
Pedagoga, Mestre em Educação pela UFPR, Professora Assistente da UNIOESTE-Campus de Foz do
Iguaçu, Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana –
DINTER UERJ/UNIOESTE.
De acordo com Peroni (2003), após a Segunda Guerra Mundial, o Estado
assumiu novas funções e obrigações em relação à implementação de políticas
direcionadas ao investimento público, sobretudo, aquelas voltadas à promoção do
crescimento da produção e do consumo em massa. Além disso, o Estado também
passou a exercer o papel de regulador direto e indireto das questões salariais e direitos
trabalhistas, se caracterizando como Estado de bem-estar social. Naturalmente,
naquela situação, o Estado mantinha sua função econômica e política, no sentido de
garantir a reprodução do capital. No entanto, para isso, precisava legitimar-se
politicamente, o que fazia por meio de políticas sociais voltadas ao atendimento das
demandas das classes sociais pobres e excluídas.
As críticas a essa forma de organização e funcionamento do Estado se deram
com a crise estrutural do capitalismo e a emergência de um novo padrão de
acumulação capitalista caracterizado pelo acirramento da competição, pela introdução
de novos padrões tecnológicos, por formas mais flexíveis de organização do trabalho,
bem como pela diminuição do tempo para realização de tarefas e giro do capital. Para
que essas mudanças no modelo de produção capitalista fossem incorporadas e aceitas
pela sociedade, surgiu à necessidade de uma ideologia que correspondesse a tais
interesses e, por isso, a partir da década de 1970, difundiu-se a idéia de que as crises
estruturais não são expressões próprias do sistema capitalista, mas sim resultantes da
forma como o Estado está organizado (BENKO, 1999; PERONI, 2003).
A implantação das políticas de ajustes estruturais nos países periféricos teve
início na década de 1980 quando, para reverter os efeitos da recessão e saldar a dívida
externa, muitos países recorreram a empréstimos das agências financeiras multilaterais
– Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional – e, como contrapartida, tiveram
que aderir às reformas estruturais de cunho neoliberal (CHOSSUDOVSKY, 1999).
Em função disso, nas décadas de 1980 e 1990, a ortodoxia neoliberal
promovida pelos organismos financeiros internacionais, principalmente o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional, foi assumida pelas elites políticas e
econômicas dos países periféricos como a única fórmula válida para superar o déficit
público e estabilizar as economias em crise. Assim, o receituário neoliberal bem como
a retórica que lhe dá sustentação e legitimidade, “foi penetrando capilarmente no
2
senso comum” (GENTILI, 2002, p. 13-14), com status de acordo global, devendo,
portanto, ser cumprido e não questionado.
Esse conjunto de propostas e discursos, também conhecido como o Consenso
de Washington, resume dez medidas de política econômica consensuais entre as
agências norte-americanas e as agências internacionais localizadas na capital norteamericana. Essas medidas podem ser resumidas: disciplina fiscal com superávit
primário, priorização dos gastos públicos, reforma fiscal com a ampliação da base
tributária e a redução de alíquotas, liberalização do financiamento a taxa de juros de
mercado, unificação da taxa de câmbio em níveis competitivos, liberalização
comercial, abolição das barreiras ao investimento externo direto, privatização de
empresas estatais, desregulamentação do mercado e garantia do direito de
propriedade, através da melhoria do sistema judiciário (FERRAZ, PAULA e
KUPFER, 2002).
Vale ressaltar que a efetivação dessas reformas estruturais, iniciadas a partir
dos anos 1970, provocou profundos desajustes sociais nos países periféricos, uma vez
que as agências internacionais e o capital financeiro impuseram novas funções ao
Estado, no sentido de restringir ao mínimo suas ações na esfera das políticas sociais,
sob o argumento e a imposição deliberada de metas de superávits primários aos países
pobres. Com a necessidade imperativa de controle fiscal, os “escassos recursos
públicos” passaram a ser direcionados aos mais pobres e o papel do Estado, a partir de
então, limitou-se a “gerir compensações”, no sentido de manter a ordem social.
Diante disso, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão teórica sobre
as políticas sociais implementadas para combater a pobreza nos países latino
americanos, a partir da década 1990, incluindo algumas considerações e reflexões
sobre a experiência brasileira, mais especificamente, sobre o Programa Bolsa Família.
Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório baseada em
uma revisão de literatura, na qual foram utilizados dados secundários e informações
obtidas na legislação brasileira, em livros, teses, artigos e em sites oficiais.
Este artigo, além dessa introdução, possui mais quatro seções: na segunda
seção faz-se uma descrição sobre o surgimento, as características e os objetivos das
políticas sociais de caráter compensatório; na terceira apresenta-se uma breve
discussão sobre as políticas de transferência direta de renda implementadas para o
3
combate da pobreza na América Latina, com destaque para Programa Bolsa Família
implantado no Brasil, em 2003; na quarta seção serão apresentadas algumas
considerações e reflexões sobre a fragilidade e as limitações dos programas de
transferência direta de renda, em especial, do PBF enquanto ferramenta política de
combate às causas estruturais da pobreza e garantidora da universalização do acesso
aos direitos sociais e universais e, por fim, na última seção faz-se as considerações
finais.
2. Políticas Sociais Compensatórias
As políticas e reformas neoliberais implementadas, a partir da década 1970,
ampliaram continuamente as desigualdades sociais e as disparidades de renda dentro
das nações e entre elas. Apesar disso, a realidade da pobreza mundial é dissimulada
pela manipulação das estatísticas de renda divulgadas pelo Banco Mundial que utiliza
“a linha de pobreza superior” que é estabelecida a uma renda per capita de US$ 1 por
dia. Portanto, a população mundial que vive com renda per capita superior a US$1 por
dia é considerada “não-pobre”. Sendo assim, essas estatísticas de renda servem ao útil
propósito de representar a população pobre como um grupo minoritário
(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 34-35). É para essa população que são dirigidas as
políticas sociais compensatórias.
Além disso, ao realizar a revisão de literatura para esta pesquisa, constatou-se
que as pesquisas sociais, cada vez mais, concluem que as pobrezas não são todas
iguais. Isso tem fortalecido a idéia de uma “cultura da pobreza”4 e promovido a
implementação de políticas públicas de caráter compensatório (CONNELL, 2009;
SEN, 2010).
Falando de políticas sociais destinadas às populações pobres, vale destacar
que, em 1601, foi promulgada a Lei de Amparo aos Pobres na Inglaterra que
reconhecia que o Estado deveria amparar pessoas pobres com comprovada
4
É uma teoria formulada pelo antropólogo Oscar Lewis. De acordo com o autor, a vida de pobreza
tende a gerar idéias culturais que promovem comportamentos e formas de pensar que a perpetuam.
Esses comportamentos e experiências passadas de uma geração para outra, favorecem a adaptação dos
indivíduos às circunstâncias da pobreza, reproduzindo-a. Vale ressaltar que essa teoria foi usada para
explicar o baixo desenvolvimento sócio-econômico dos periféricos (AGIER, 1990; SCHERERWARREN, 2003).
4
necessidade de auxílio. No século XVIII, no auge da revolução industrial e do
liberalismo clássico, diante do crescimento das demandas sociais a Lei dos Pobres foi
reformulada em 1832 e 1834. Além disso, as intensas mudanças científicas e
tecnológicas exigiam que as crianças fossem preparadas para trabalhar. As escolas de
caridade e escolas populares atendiam as crianças pobres, com ensino prático para
formação de mão-de-obra, enquanto as crianças advindas das famílias burguesas e
aristocratas recebiam uma formação escolar mais longa, com o objetivo de formá-los
para pensar e comandar (CONNELL, 2000; OLIVEIRA e GENNARI, 2009; MELO
2006).
No século XX, os sistemas educacionais ainda eram, em sua maioria, nítida e
deliberadamente estratificados por raça, gênero, classe social e divididos em escolas
acadêmicas e técnicas, públicas e privadas, protestantes e católicas. Foi nesse
contexto, dentro de um modelo dual e burguês de educação, no qual a escola tornou-se
incapaz de atender às crianças pobres e às suas necessidades, que surgiram as políticas
sociais compensatórias para suprir as deficiências de saúde, nutrição, educação e
formação cultural (CONNELL, 2000).
Somente depois da Segunda Guerra Mundial, como consequência de uma série
de movimentos sociais pró dessegregação, da proclamação da Declaração dos Direitos
Humanos (1948) e da Declaração dos Direitos da Criança (1959) pela Assembléia das
Nações Unidas é que a escola tornou-se mais acessível. No entanto, no interior dessas
instituições aparentemente igualitárias, crianças pobres continuaram a ter um
desempenho inferior em testes e exames, ficando mais sujeitas às reprovações e à
evasão escolar se comparadas com aquelas advindas das famílias de classe média e
alta (CONNELL, 2000; HORTA, 1998).
Connell (2000, p. 15) acrescenta que “A educação foi trazida para o contexto
da assistência social através da correlação entre níveis mais baixos de educação,
índices mais elevados de desemprego e salários mais baixos”.
Surgiu a idéia de um “ciclo de pobreza” auto-alimentado no qual as carências
vividas pelas crianças levam a um baixo rendimento escolar, ao fracasso profissional e
à perpetuação da pobreza. Assim, a associação dessas políticas compensatórias à
educação, passou a ser vista como um meio de romper esse ciclo auto-alimentado de
pobreza. Sob essa perspectiva, as políticas passaram, então, a ser concebidas para
5
compensar as desvantagens da criança pobre. Com isso, “o fracasso do acesso
igualitário à educação foi transferido das instituições para as famílias a quem elas
serviam”, uma vez que passaram a ser vistas como “portadoras de um déficit” para as
quais “as instituições deveriam oferecer uma compensação”. Segundo o autor, “Esta
manobra protegeu as crenças convencionais sobre educação” fortemente fundadas em
duas idéias: a primeira, de que as pessoas pobres são objetos dessas políticas, não
autoras da transformação social e, a segunda, de que a escola tem o poder de tirar as
pessoas da pobreza e da miséria (CONNELL, 2000, p. 15).
Nesse sentido, Peres e Castanha (2006, p. 237) salientam que o projeto
neoliberal
faz o trabalhador continuar, como no liberalismo do século XVIII,
acreditando em “subir na vida” pelo trabalho, pela educação e pelo esforço
individual, condenando-se por estar na pobreza. A lei é igual para todos.
Tem escola para todos. A justiça é imparcial. Falta perceber que a elite é
que está e sempre esteve no poder de verdade e é quem decide tudo. O
povo está cercado de ideologias. As leis, o salário, o excedente, a mídia, a
educação, tudo pertence ao detentor do capital.
Connell (2000) acrescenta que as circunstâncias do surgimento desses
programas compensatórios e os ambientes políticos e sociais nos quais e pelos quais
eles têm sobrevivido partem de três pressupostos: (a) que o problema é da minoria em
desvantagem; (b) que o pobre é diferente da maioria em termos comportamentais e
culturais; e (c) que a correção dessa desvantagem na educação é um problema técnico,
que exige para a sua solução conhecimento especializado e pesquisa.
A idéia de que existe apenas uma minoria em desvantagem, embutida na
concepção das políticas compensatórias, se deve à chamada “linha de pobreza”, a qual
se fez referência anteriormente, que representa uma linha divisória entre as pessoas
em desvantagem e aquelas em situação de vantagem e que, portanto, é usada para
definir o público-alvo de tais políticas (CONNELL, 2000; CHOSSUDOVSKY, 1999,
p. 35).
O consenso de que o pobre é diferente decorre da existência da idéia de uma
“cultura de pobreza”, que responsabiliza os pobres por sua condição e que faz com
que uma grande maioria deles acredite estar vivendo em uma sociedade que garante
direitos e oportunidades iguais para todos e que, portanto, só depende deles mesmos
mudar o próprio destino (PERES e CASTANHA, 2006).
6
Na lógica neoliberal, segundo Gentili (2002, p. 25-26), a crise educacional
resume-se a um conjunto de problemas técnicos relacionados à improdutividade e à
ineficiência. Para resolvê-los são consultados os “experts” em reformar o Estado e em
reduzir custos, os especialistas em produtividade, eficiência e qualidade total que
representam os organismos internacionais, como o Banco Mundial e a ONU
(UNICEF, PNUD, OIT, UNESCO, etc).
Na próxima seção, será apresentada uma breve discussão sobre as políticas de
transferência direta de renda condicionada à freqüência escolar, enquanto políticas de
caráter compensatório, implementadas na América Latina, com destaque para a
experiência brasileira.
3. As políticas de transferência direta de renda
No ano 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), em uma reunião
conhecida como “Cúpula do Milênio da ONU”. Das discussões surgiram as Metas de
Desenvolvimento do Milênio (MDMs), que constituem até hoje o eixo central de
debates e investimento das Nações Unidas. Desde 2002, o sistema ONU, através de
suas agências especializadas, tem feito uma verdadeira ação de persuasão para
convencer governos e ONGs a adotar as MDMs como agenda de políticas públicas
para as primeiras décadas do século 21. Nestas metas estão incluídas metas dirigidas a
áreas sociais prioritárias. Entre elas destacam-se: erradicar a extrema pobreza e a
fome; universalizar o acesso ao ensino básico; promover a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade na infância; melhorar a saúde materna;
combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças; estabelecer uma parceria mundial
para o desenvolvimento (PNUD, 2011; CORRÊA e ALVES, 2005).
Na América Latina, a maioria dos países ratificou seu compromisso com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e implementou programas de
transferências de renda, cumprindo acordos firmados com o Banco Mundial, FAO,
PNUD, FMI, ou mesmo com agências de cooperação internacional ou ONGs de
países desenvolvidos, tendo em vista que esta tornou-se a “política oficial” dessa
agências internacionais, a partir dos anos 1990 (ALMEIDA FILHO et al, 2007).
Os autores destacam que, na América Latina, 17 países implementaram
políticas de transferência de renda à família em extrema pobreza/pobres, dentre os
quais podem ser citados os programas: “Plan Famílias” e “Jefes y Jefas” na Argentina,
7
“PLANE” na Bolívia, “Chile Solidário” no Chile, “Familias en Acción” na Colômbia,
“Solidariedad comer es primero” na República Dominicana, “Red Solidária Ajuda
Nutricional Mulheres carentes com Crianças” em El Salvador; “PROLOCAL/ Bono
de Desarrollo Humano” no Equador, “PRAF II” em Honduras, PATH na Jamaica,
“Oportunidades” no México, “Red de Protección Social” na Nicarágua, “Juntos” no
Peru, “Solidaridad RD” na República Dominicana, “PAN - Plano Alimentário
Nacional” no Uruguai, “Bono de Alimentación para Trabajadores/ Bolsa Bolivariana/
Bolsa Revolucionaria/MERCAL” na Venezuela (BELIK, 2006 apud ALMEIDA
FILHO et al, 2007)
No Brasil, inicialmente foram criados vários programas direcionados às
famílias pobres e extremamente pobres dentre os quais ganharam destaque o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (1996), o Programa Bolsa Escola
(2001) e o Programa Bolsa Alimentação (2001) que eram transferências de renda
condicionadas a ações da família em prol de sua educação e saúde, o Auxílio Gás
(2001) e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA (2003), também
conhecido como Cartão Alimentação que eram programas de transferência de renda
não condicionada (SOARES, RIBAS e SOARES, 2009).
No ano 2003, foi criado o Programa Bolsa Família (PBF), que se caracteriza
como um programa de transferência direta de renda com condicionalidades e que
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com o objetivo de
unificar a gestão e a implementação dos programas anteriormente relacionados.
Desde a sua criação, o Programa Bolsa Família foi sendo, gradualmente
expandido até se atingir a meta de 11 milhões de famílias beneficiadas. Com a
cobertura em 11 milhões de domicílios, PBF passou a ser um dos maiores
instrumentos de política social brasileira em número de beneficiários. Apesar disso,
em termos orçamentários, as transferências que beneficiam cerca de um quarto das
famílias brasileiras, representam menos de 1% do PIB. De acordo com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2011, o PBF atende mais de 12
milhões de famílias em todo território nacional (BRASIL, 2011).
A seguir serão apresentadas algumas reflexões sobre as limitações do PBF,
enquanto política social de caráter compensatório.
8
4. Direitos Universais versus Políticas Compensatórias: algumas reflexões sobre o
Programa Bolsa Família
Em uma sociedade democrática, os direitos sociais devem ser assegurados por
meio dos sistemas nacionais de proteção social. Pode-se dizer que há atualmente um
relativo consenso nos estudos sobre o tema, de que o acesso aos direitos sociais é
condição fundamental para a cidadania (MARIANO e CARLOTO, 2009).
No Brasil, este sistema contempla proteções como previdência social, seguro
desemprego, Sistema Único de Saúde, educação e a assistência social. A Constituição
Federal de 1998 trouxe avanços no campo dos direitos sociais, em relação às
constituições anteriores, contudo, os mecanismos declaratórios e garantidores dos
direitos fundamentais e sociais ainda encontram obstáculos práticos para sua
efetivação e comprometem o direito à cidadania. Existem problemas, divergências e
limitações no que diz respeito ao acesso e às responsabilidades e competências do
Estado, da sociedade e da família na sua efetivação e, em conseqüência disso, este
conjunto de políticas atinge diferentes níveis de consolidação dos direitos sociais. Não
se trata apenas da interpretação da legislação, é necessário entender a questão como
uma dimensão da luta política, tendo em vista que a eficácia das normas
constitucionais depende tanto dos fatores jurídicos quanto dos políticos (OLIVEIRA,
1999; MARIANO e CARLOTO, 2009).
Embora os objetivos centrais de um Estado democrático, segundo Sader (2000)
sejam: (a) garantir a todos os direitos básicos de cidadania; (b) regular o mercado e,
(c) articular, em escala global, o processo de socialização do poder e da política, para
Grynspan (2010, p.44), a democracia, muitas vezes, produz uma falsa idéia de
igualdade quando, no plano político, institucionaliza os processos eleitorais por meio
do voto popular mas, em outros planos de institucionalização pública, da economia e
da sociedade, mantém mecanismos excludentes que entram em conflito com esta
“inclusão política”.
Nesse sentido, Gentili (1999, p. 117) acrescenta que apesar da democracia
representar uma conquista política das maiorias, as condições em que elas se
estabelecem, muitas vezes, refletem “situações estruturais de profunda derrota social”.
Criaram-se as condições para o retorno a uma institucionalidade democrática
controlada,
“uma
democracia
„não-democrática‟”,
na
qual
as
demandas
9
democratizadoras no campo das políticas públicas não correspondiam à sua natureza
de democracia capitalista.
Ao criar o PBF, um programa de transferência direta de renda condicionada
dirigido às famílias pobre e extremamente pobres, que incorporou o Bolsa Escola, o
Bolsa Alimentação e o Bolsa Gás e está integrado ao Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI), o governo brasileiro tinha em mente não apenas combater a
pobreza extrema e a fome, mas também promover o acesso das famílias mais pobres à
rede de serviços públicos, sobretudo, saúde, educação e assistência social, com o
objetivo romper o círculo de transmissão da pobreza entre gerações.
De acordo com Medeiros, Britto e Soares (2007), a mais conhecida
condicionalidade do PBF é a de freqüência escolar das crianças e adolescentes
beneficiados, em pelos menos 85% das aulas. O programa instituiu um sistema de
acompanhamento que é alimentado pelos municípios e transmitido ao governo federal,
a fim de que se apliquem advertências e sanções no caso de seu descumprimento.
Desde a sua criação, mais de 95% daqueles que tiveram a freqüência escolar
monitorada cumpriram a exigência estabelecida.
No entanto, de acordo com Lavinas (2011), a pobreza só aparece como questão
social mais recentemente e parece reforçar um enfoque cada vez mais distante daquele
que embasou a reestruturação dos sistemas de proteção social europeus no pós-guerra,
tendo em vista que o conceito de universalidade cedeu lugar a uma proteção social
compensatória desarticulada e desvinculada do sistema de seguridade social como um
todo. Com isso, as políticas de combate à pobreza passaram a caminhar em paralelo e
sem metas definidas e a se restringir à implementação de uma rede mínima de
proteção social (RMPS), cujo objetivo não é vencer a pobreza, mas assegurar um
patamar mínimo de reprodução social que atenue os perversos efeitos das políticas de
Estado mínimo.
Jimenez e Mendes Segundo (2007) discutem a relação entre educação e
pobreza, tão enfatizada nas diretrizes educacionais para o novo milênio. A análise dos
documentos resultantes dos sucessivos eventos promovidos por diversas organizações
internacionais com apoio do Banco Mundial demonstra que a educação é
sistematicamente citada como fator por excelência de erradicação e/ou minimização
da pobreza. Sob essa perspectiva, o Banco Mundial exige dos países assolados pela
10
pobreza reformas que aprofundem o projeto de mercantilização da educação e da
minimização dos conteúdos do ensino em todos os níveis. Os autores concluíram que
a relação traçada entre educação e pobreza traduz uma retórica mistificadora,
representando um instrumento de ajuste ao projeto de reprodução do capital, diante do
agravamento das dificuldades de acumulação do lucro postas pela crise estrutural
contemporânea (JIMENEZ e MENDES SEGUNDO, 2007).
Monnerat et al (2007) ressaltam que, se por um lado, as transferências diretas
de renda condicionadas potencializam o acesso da população pobre aos serviços
públicos essenciais, por outro colocam em dúvida as reais condições e a capacidade
dos municípios de ofertarem o que de mais básico está previsto no elenco de direitos
sociais, isto é, as os serviços de saúde e educação.
Aliado a isso, Monnerat et al (2007), ao analisarem a questão da
obrigatoriedade de inserção de crianças e adolescentes na escola, afirmam que punir
as famílias que não cumprirem as condicionalidades é incompatível com os objetivos
de promoção social do Programa. Enfatizam que o Bolsa Família apresenta inúmeras
limitações e fragilidades no que diz respeito à sua capacidade de reverter causas
estruturais da pobreza e, portanto, as expectativas de superação da pobreza
depositadas no programa são bastante elevadas se for considerado o grau de
desigualdade social existente, as inúmeras vulnerabilidades que atingem a população
pobre, a debilidade do sistema de proteção social e o baixo valor do benefício.
Por isso, Lavinas (2006; 2011) enfatiza que a ação governamental não pode se
restringir a transferência de renda aos mais pobres e que os investimentos públicos em
infra-estrutura social de educação, saneamento básico e habitação são fundamentais e
indispensáveis para equacionar a questão da desigualdade social e para construir uma
sociedade mais justa e igualitária.
Além das condicionalidades, outro aspecto do PBF que merece destaque a
questão da focalização. Com a criação do Programa Bolsa Família foram
uniformizados os critérios de entrada, os valores do benefício, a agência executora e o
sistema de informação. Em suma, o PBF passou a ter um mandato legal e uma
estrutura operacional que lhe permite garantir uma maior focalização do benefício e
um controle maior do sistema de transferências (SOARES, RIBAS e SOARES, 2009).
11
No entanto, de acordo com Mariano e Carloto (2009), a focalização e a
condicionalidade são fatores que influenciam direta e negativamente o grau de
efetivação dos direitos sociais, uma vez que a focalização responde aos anseios de
gestão na relação entre custo e benefício (eficiência, eficácia e efetividade ocupam
destaque nas orientações) e que as condicionalidades, um neologismo para obrigações,
vieram para substituir a denominação de contrapartidas.
Para finalizar, é preciso acrescentar que o Programa Bolsa Família não é um
direito, pois diferentemente de uma aposentadoria, de um seguro-desemprego ou do
pagamento de um título da dívida pública, é um programa com orçamento definido.
Uma vez esgotada a dotação orçamentária, ninguém mais pode receber o benefício,
pelo menos até que haja crédito orçamentário suplementar, tendo em vista que a Lei nº
10.326 de 09 de janeiro de 2004, condiciona o seu pagamento às possibilidades
orçamentárias, quando estabelece em seu artigo 6º , parágrafo único que “O Poder
Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa
Família com as dotações orçamentárias existentes” (SOARES e SATYRO, 2009;
BRASIL, 2004).
Assim, de acordo com Soares e Sátyro (2009), apesar de existirem critérios
para a concessão do benefício, estes critérios não definem apenas uma fila, mas
também definem famílias como elegíveis ou não. Em outras palavras, uma família de
que tem filhos e vive com renda inferior a R$ 140,00 per capita, é elegível para
receber o PBF e, se não recebe, é um elegível não coberto.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao contrário do que prega o ideário neoliberal, as políticas públicas voltadas à
universalização dos direitos sociais e da pessoa humana tem significativo impacto na
redistribuição de renda e na redução das desigualdades sociais.
Com relação ao Programa Bolsa Família, observa-se que, desde a sua criação,
houve significativo ganho social, uma vez que os dados apontam que o programa tem
contribuído para aumentar a freqüência escolar na escola fundamental, além de ter
expandindo continuamente o número de famílias beneficiadas com uma renda
adicional. No entanto, é necessário ressaltar que se, de um lado, o bolsa família
contribui para reduzir uma das mazelas da educação brasileira, que é a evasão escolar,
12
por outro lado, essa política de cunho compensatório consegue apenas amenizar os
conflitos entre as classes sociais.
Como enfatiza Vieira (1992), a política social é a estratégia dos governos e
relaciona-se diretamente com a política econômica em determinados momentos
históricos. Sob essa perspectiva, é possível afirmar que as políticas sociais tem sido,
frequentemente, utilizadas para amenizar os conflitos e as desigualdades sociais, por
meio de programas aparentemente transformadores e emancipatórios, mas que em sua
essência, não passam de um mecanismo para garantir a sobrevivência do modo de
produção e manutenção das relações sociais vigentes.
Além disso, é preciso considerar que o sistema de proteção social brasileiro,
apesar dos avanços, ainda oferece cobertura restrita a uma parcela reduzida da
população da qual, muitas vezes, as pessoas pobres são excluídas devido aos seus
vínculos instáveis e precários com o mercado de trabalho, às fragilidades do sistema
de proteção social e aos próprios critérios adotados no processo de focalização dessas
políticas.
Para finalizar, é preciso acrescentar que os programas de transferências
monetárias sujeitas à comprovação de renda e direcionadas à população mais pobre
revelam que o modelo de proteção social adotado no Brasil é contrário à visão
universalista posta pela Constituição Federal do Brasil de 1988. Portanto, as políticas
governamentais não podem se restringir a transferência de renda aos mais pobres. Os
investimentos públicos em infra-estrutura social de educação, saneamento básico e
habitação são fundamentais e indispensáveis para equacionar a questão da
desigualdade social e para construir uma sociedade mais justa e igualitária.
REFERÊNCIAS
AGIER, M. O sexo da pobreza. Homens, mulheres e famílias numa “avenida” em
Salvador da Bahia. Tempo Social - Rev. Sociologia. USP, S. Paulo, 2(2): 35-60,
2.sem. 1990. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/
site/images/stories/edicoes/v022/O_SEXO.pdf> Acessado em 12.05.2011.
ALMEIDA FILHO, N. et al. Segurança alimentar: evolução conceitual e ação das
políticas públicas na América Latina. In: XLV Congresso da Sociedade Brasileira de
Economia, Administração e Sociologia Rural-SOBER: "Conhecimentos para
Agricultura do Futuro". Londrina, 22 a 25 de julho de 2007. Disponível em:
<http://www.sober.org.br/palestra/6/1138.pdf>. Acessado em: 05.05.2011.
13
BENKO, G. Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI. 2. ed. São
Paulo: Hucitec, 1999. 266p.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acessado em 06.05.2011.
BRASIL.Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
09 de janeiro de 2004. Disponível em: <www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/lei/l10.836.htm>. Acesso em: 09.07.2011.
CHOSSUDOVSKY, M. A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI
e do Banco Mundial. São Paulo: Moderna, 1999. 320 p.
CONNELL, R.W. Pobreza e Educação. In: GENTILI, P.A.A. (org). Pedagogia da
exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
p. 11-42.
CORRÊA, S.; ALVES, J.E.D. As metas de desenvolvimento do milênio: grandes
limites, oportunidades estreitas? Disponível em:
<www.abep.nepo.unicamp.br/docs/rev_inf/vol22_n1_2005/vol22_n1_2005_11pontod
evista_p177a190.pdf>. Acessado em 05.05.2011.
FERRAZ, J.C.; DE PAULA, G.M.; KUPFER, D. Política industrial. In: KUPFER,
David; HASENCLEVER, Lia. Economia Industrial: fundamentos teóricos e
práticos no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Cap. 23, p. 545-567.
GENTILI, P.A.A. O discurso da qualidade como nova retórica conservadora no
campo educacional. In: GENTILI, P.A.A, SILVA, T. T. da (Orgs.). Neoliberalismo,
Qualidade Total e Educação, Visões críticas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
GENTILI, P.A.A. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma
educacional do neoliberalismo.3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
GRYNSPAN, Rebeca. Desenvolvimento, crescimento e superação da pobreza:
desafios impostos pela crise internacional. In: Coelho, M.; Tapajós, L. M. S.;
Rodrigues, M. (orgs). Políticas Sociais para o Desenvolvimento: superar a pobreza
e promover a inclusão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, UNESCO, 2010, 27-48p.
HORTA, J.S.B. Direito à Educação e Obrigatoriedade escolar. Caderno de
Pesquisa nº 104. p. 5-34. jul. 1998. Disponível em: <http://www.fcc.org.br/pesquisa/
publicacoes/cp/arquivos/158.pdf>. Acessado em 05.05.2011.
JIMENEZ, S.V.; MENDES SEGUNDO, M.D. Erradicar a pobreza e reproduzir o
capital: notas críticas sobre as diretrizes para a educação do novo milênio. Cadernos
de Educação/FaE/PPGE/UFPel. Pelotas [28]: 119 - 137, janeiro/junho 2007.
LAVINAS, L. Universalizando direitos. Disponível em:
<http://ww2.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/relatorio_universalizando.pdf>. Acesso em:
10.05.2011.
LAVINAS, L. Transferência de renda: “o quase tudo” do sistema de proteção
social brasileiro. Disponível em:
http://www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A157.pdf>. Acessado 07.05.2011.
14
MARIANO, S.A.; CARLOTO, C.M. O direito social na era da focalização e das
condicionalidades: uma leitura sobre o familismo no Programa Bolsa Família/Brasil.
Disponível em: ttp://www.ram2009.unsam.edu.ar/GT/GT%2066%2020G%C3%AAnero,%20Fam%C3%ADlia%20e%20 Sensibilidades/GT66%20%20Ponencia%20%5B%20Mariano-Carloto%5D.pdf. Acessado em: 09.07.2011.
MEDEIROS, M.; BRITTO, T.; SOARES, F. Programas focalizados de
transferência de renda no Brasil: contribuições para o debate. Texto para Discussão
nº 1283. Brasília, 2007.
MELO, A.Z. Desafios da implementação do direito fundamental à saúde no Brasil.
Revista Mestrado em Direito. Osasco, Ano 6, n.2, p. 55-82, 2006. Disponível em:
http://132.248.9.1:8991/hevila/Revistamestradoemdireito/2006/vol6/no2/4.pdf.
Acessado em 09.07.2011.
MONNERAT, G.L. et al. Do direito incondicional à condicionalidade do direito: as
contrapartidas do Programa Bolsa Família. Revista Ciência e Saúde Coletiva, 12 (6):
1453-1462p, 2007.
OLIVEIRA, R. P. O direito à educação na Constituição Federal de 1988 e seu
restabelecimento pelo sistema de justiça. Revista Brasileira de Educação.
Mai/Jun/Jul/Ago, 1999, nº 11. Disponível em:
<http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE11/RBDE11_07_ROMUALDO_POR
TELA_DE_OLIVEIRA.pdf>. Acessado em 05.05.2011.
OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do Pensamento Econômico. São
Paulo: Editora Saraiva, 2009, 415p.
PERES, C.A.; CASTANHA, A. P. Educação: do liberalismo ao neoliberalismo.
Políticas Educacionais. Educere et Educare Revista de Educação. Vol. 1 nº 1
jan./jun. 2006 p. 233-238.
PERONI, V. Breves considerações sobre a redefinição do papel do Estado. In:
Política educacional e papel do Estado: no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã.
2003. p. 21-134.
POULANTZAS, N. Traços fundamentais do Estado capitalista. In _____. Poder
político e classes sociais. Porto Novembro: Portucalense, 1971. p. 05-52
PROGRAMA DAS NAÇOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO.
Objetivos de desenvolvimento do milênio. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/odm. Acesso em: 05.05.2011.
SADER, E. Estado e democracia: os dilemas do socialismo na virada de século. In:
SADER, E.; GENTILI, P.A.A. (orgs). Pós-Neoliberalismo II: que Estado para que
democracia? 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. p. 120-130.
SAES, D. O conceito de Estado Burguês. In: ____. Estado e democracia: ensaios
teóricos. Campinas: UNICAMP, instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 1998.
SCHERER-WARREN, I. A problemática da pobreza na construção de um movimento
cidadão. Revista Política & sociedade. Nº 03, out/2003. Disponível:
http://www.fbes.org.br/biblioteca22/ilse_redes.pdf> Acesso: 12.05.2011.
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
15
SOARES, S.; RIBAS, R. P.; SOARES, F. V. Focalização e cobertura do programa
bolsa-família: qual o significado dos 11 milhões de famílias? Texto para Discussão nº
1396. Rio de Janeiro, 2009.
SOARES, S.; SÁTYRO, N. O programa bolsa família: desenho institucional,
impactos e possibilidades futuras. Texto para Discussão nº 1424. Brasília, 2009.
VEIRA, Evaldo. Democracia e Política Social. São Paulo: Cortez, 1992.
16