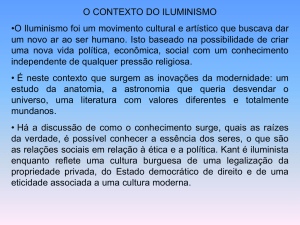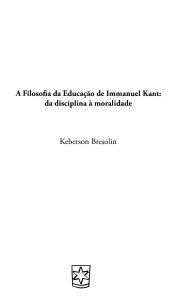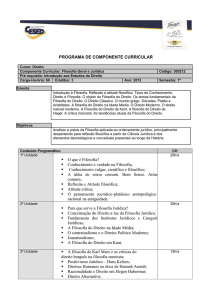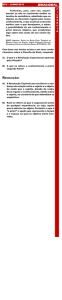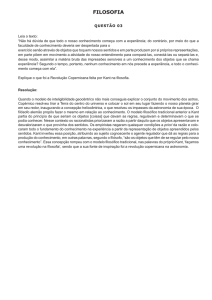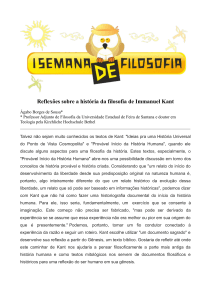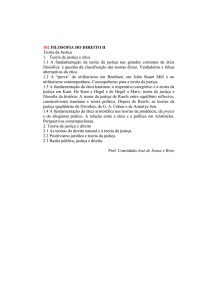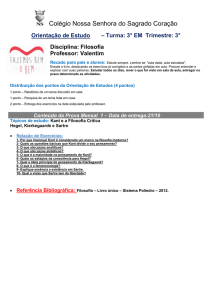Centro Universitário Franciscano do Paraná
Instituto de Filosofia São Boaventura
Revista Filosófica São Boaventura, v.1, n.1, p.1-106
Curitiba, jul./dez. 2008
Copyright © 2008 by autores
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Centro Universitário Franciscano do Paraná
Instituto de Filosofia Boaventura
Instituto mantido pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus (AFESBJ)
Reitor
Frei Nelson José Hillesheim
Pró-reitor acadêmico
André Luis Gontijo Resende
Pró-reitor administrativo
Paulo Arns da Cunha
Diretor do IFSB
Ms. Vicente Keller
Editores
Dr. Vagner Sassi e Dr. Enio Paulo Giachini
Comissão Editorial
Dr. Roberto H. Pich
Ms. Vicente Keller
Dr. Jaime Spengler
Dr. João Mannes
Dr. Marcelo Perine
Conselho Editorial
Dr. Osmar Ponchirolli
Dr. Mauro Simões
Dr. Antônio Joaquim Pinto
Dr. Écio Elvis Pizzeta
Dr. Leonardo Mees
Ms. Solange Aparecida de Campos Costa
Dr. Renato Kirchner
Revisão
Comissão editorial
Projeto Gráfico e Diagramação
Maria Laura Zocolotti
Ana Rita Barzick Nogueira
Capa
Roland Cirilo
Catalogação na fonte
Revista filosófica São Boaventura/Centro Universitário
Franciscano do Paraná. Instituto de Filosofia São Boaventura.
v.1, n.1, julho/dezembro 2008- . Curitiba: Centro
Universitário Franciscano do Paraná, 2008v. 23cm
Semestral
1. Filosofia - Periódicos. I. Centro Universitário Franciscano do
Paraná. Instituto de Filosofia São Boaventura.
CDD - 105
R. 24 de Maio, 135 | 80230-080 | Curitiba-PR
e-mail: [email protected]
SUMÁRIO
SU
MMARY
SUMMARY
To Study, Philosophy?
Hermógenes Harada
1
Estudar, Filosofia?
Hermógenes Harada
1
Filosofia e Pensamento
Vagner Sassi
13
Philosophy and Thought
Vagner Sassi
13
Pascal: Apologia em Fragmentos
Jaime Spengler
27
Pascal: Apology In Fragments
Jaime Spengler
27
Uma Reflexão Antropológica da Violência
a Partir das Atividades Liberativas da
Filosofia de Schopenhauer
37
Osmar Ponchirolli
An Anthopological Reflection about
Violence Stemming from the Liberative
Activities of Schopenhauer’s Philosophy
Osmar Ponchirolli
Reflexões sobre a Obra de Arte - uma
análise do texto “A Origem da Obra de
Arte” de Martin Heidegger
Solange Aparecida de Campos Costa
Reflections about the Work of
art - an analysis of the text “The Origins
of the Works of Art” by Martin Heidegger 47
Solange Aparecida de Campos Costa
47
37
Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir
de Heinrich Rombach
Enio Paulo Giachini
59
Work and yourself. Reflections stemming
from Heinrich Rombach
Enio Paulo Giachini
59
A Ética Kantiana e o Primado
da Autonomia
Ítalo Kiyomi Ishikawa
69
Kantiana Ethics and the Prioryty
of Autonomy
Ítalo Kiyomi Ishikawa
69
Utilitarismo Negativo
Leonardo A. dos Reis T. dos Santos
83
Negative Utilitarism
Leonardo A. dos Reis T. dos Santos
83
Os Dois Infinitos
Blaise Pascal
99
The Two Infinites
Blaise Pascal
99
Editorial
Um rápido olhar pela história da filosofia mostra que uma das
características mais marcantes do ser humano se faz presente em
todos os momentos. A inquietação, a insatisfação pelas explicações
apresentadas a determinados fatos e fenômenos, a busca por
esclarecimentos a situações novas que se apresentam, a reflexão
contínua e continuada sobre avanços científicos são características
que acompanham o ser humano em todos os momentos.
Basta lembrar a admiração e a estupefação dos primeiros filósofos
diante da multiplicidade e diversidade dos fenômenos naturais; o
“conhece-te a ti mesmo” exposto aos visitantes do Templo de
Delfos; o “sei que nada sei”, pensamento favorito de Sócrates ao
abordar seus oponentes e, muitos deles, futuros discípulos; a
inquietação expressa por Santo Agostinho em sua busca pela
verdade (“minha alma não descansará enquanto não repousar
em ti, Senhor”); a contrariedade e contraditoriedade de Hegel
(“naquilo com que um espírito se satisfaz, mede-se a grandeza
de sua perda”).
A Revista Filosófica São Boaventura se propõe ser um canal para
a expressão desta inquietação, da reflexão contínua e continuada,
da manifestação de novas respostas a problemas antigos que se
punham e continuam a se apresentar ao ser humano. O objetivo
da revista é ser um ponto de apoio para o pensar e um canal de
divulgação e incentivo à produção científica. Enquanto ponto de
apoio, acolhe contribuições relevantes da área de filosofia, de
vertentes diversa=s, tanto endógenas quanto exógenas. Enquanto
canal, busca o diálogo entre autores e leitores sobre diversos temas
pertinentes à área de filosofia. Significa dizer que seu campo de
abrangência é o estudo e a produção filosóficos de maneira
bastante ampla, mesmo estando focada no nível de graduação.
Aceita artigos de professores, pesquisadores, estudantes e amantes
da filosofia.
Na verdade, trata-se de mais um canal do Curso de Filosofia do
Instituto de Filosofia São Boaventura e da Unifae - Centro
Universitário Franciscano do Paraná. É mais um desafio a seus
professores e alunos para exercitarem o diálogo e a reflexão, tanto
interna quanto externamente, com seus pares.
Neste primeiro número encontram-se artigos assinados sobretudo
por autores vinculados ao Instituto de Filosofia São Boaventura e
ao seu curso de Filosofia. São contribuições, no dizer deles
próprios, que pretendem: “tematizar o filosofar, o lado esotérico
da filosofia, como sendo busca do fundo o mais fundo, para
além ou aquém de todas as posições e suposições das filosofias,
como vislumbre de uma aberta, qual uma racha mal percebida à
raiz do ser de todas as coisas, envolta numa intensa nuvem do
não saber”; “apontar para a necessidade de se ultrapassar a
abordagem metafísico-categorial da linguagem em favor de um
falar originário e de uma escuta não-objetivante”; “oferecer
indicações sobre a gênese da obra “Pensamentos”, buscando uma
compreensão em torno do que seja uma apologia, e no caso
Apologia do Cristianismo; por fim propor considerações em torno
das características daquele gênero literário denominado
‘fragmento’”; “verificar a importância da concepção filosófica de
Schopenhauer como fundamento antropológico do fenômeno
da violência”; “possibilitar uma discussão inicial sobre o tema
que permita o estudo acadêmico da estética ou filosofia da arte”;
“refletir sobre algumas indicações de H. Rombach relacionadas
com o tema do trabalho e suas implicações”; “apresentar a ética
de Kant e ressaltar seus princípios metafísicos, assim como,
demonstrar os fundamentos racionais do Direito e do Estado”;
“defender a coerência da proposta com o pensamento de Popper
e com uma crítica à epistemologia milleana, possibilitando uma
aproximação do utilitarismo com a moral comum e combatendo
os possíveis efeitos perversos de uma política direcionada para o
incremento do bem-estar”. Finalmente, este primeiro número
encerra com a tradução de alguns fragmentos extraídos do livro
Pensamentos
ensamentos, de Blaise Pascal.
O desafio está lançado a professores, pesquisadores, estudantes
e amantes da filosofia. Nos próximos números, o seu artigo poderá
ser publicado aqui.
Prof. Vicente Keller
Diretor do Instituto de Filosofia São Boaventura
Coordenador do Curso de Filosofia da FAE Centro Universitário
Estudar
Estudar,, Filosofia?
To Study
Study,, Philosophy?
Hermógenes Harada*
Resumo
Filosofia se apresenta como saber constituído, institucionalizado
do ensino, aprendizagem e pesquisa. Nesse saber, são imensas e
extensas as exigências requeridas para se ter qualificação e
excelência do saber competente. A esse aspecto podemos chamar
de aspecto exotérico da filosofia, o seu lado virado para fora,
para o público. No estudo, a saber, no empenho e desempenho
do labutar na filosofia, há também um aspecto virado para o seu
interior, para o âmago do seu ser, o aspecto que pode ser
denominado como esotérico. É o seu lado virado para dentro,
para o seu ser próprio, para sua essência. Essa ambigüidade da
filosofia se formula numa definição da filosofia que diz: filosofia
é filosofar. O artigo tenta tematizar o filosofar, o lado esotérico
da filosofia, como sendo busca do fundo o mais fundo, para além
ou aquém de todas as posições e suposições das filosofias, como
vislumbre de uma aberta, qual uma racha mal percebida à raiz do
ser de todas as coisas, envolta numa intensa nuvem do não saber.
Palavras-chave: estudar; filosofia; exotérico; esotérico; estudo.
* Filósofo e pesquisador do Instituto
de Filosofia São Boaventura (IFSB).
Philosophy presents itself as established knowledge,
institutionalized in education, learning and research. Within this
knowledge, there are great demands to acquire qualification and
excellence of competent knowledge. This aspect can be called
exoteric knowledge of philosophy, its outside aspects, turned to
the public. In this study, in an effort to work philosophy, there is
also an aspect turned inside to the core of itself, this aspect may
be called exoteric. Its the part turned inside, to its own being, to
its own essence. This ambiguity of philosophy is formulated in a
definition of philosophy that states that: philosophy is to exercise
philosophy. This article aims to make a theme out of exercising
philosophy, the exoteric side of philosophy, seeking the deepest
of deepest, beyond all other stances and suppositions of other
philosophies, as a glimpse of an open, unnoticeable fissure at the
root of all things, enveloped by a large cloud of not-knowing.
Key W
ords
Words
ords: to study; philosophy; exoteric; esoteric; study.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.1-11, jul./dez. 2008
1
artigos
Abstract
Introdução
Filosofia é uma interrogação? Ou a interrogação vale sobre o estudo? Supondose que seja sobre ambos, devemos saber o que é filosofia e o que é estudo. Mas, se
estudar filosofia não é propriamente saber sobre o que é, mas filosofar1, então esse
filosofar não mais seria saber sobre filosofia nem sobre estudo, mas apenas questão2. Na
questão interrogar não é para responder e resolver um problema, mas abrir-se à disposição
da jovialidade incondicional da busca.
Filosofia nos é dada como disciplina escolar. Ao lado das outras disciplinas da
aprendizagem e do ensino. Como ciência. Como mundividência. Muitas vezes, como
conjunto de doutrinas ideológicas. Como informações culturais e métodos, normas, como
coleção de ensinamentos profundos da vida e da história, como sabedoria. Como matérias
de estudo, com provas e notas de aprovação ou reprovação. Com “ranking” do saber
acadêmico, como promoção de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pósdoutorado, no empenho e desempenho do trabalho intelectual. E como qualquer outra
matéria de estudo escolar, a filosofia está sujeita a variegadas e diferentes apreciações
dos que a estudam. Mas, usualmente, a filosofia como mundividência, ciência, ideologia,
cultura, sabedoria, disciplina de ensino e aprendizagem escolar, de grau superior, seja o
que for e como for, é considerada como uma das manifestações e expressões do espírito
humano, do espírito europeu-ocidental.
Filosofia, porém, não é boa para indicar a profissão de uma pessoa, a não ser
como professor de filosofia. Soa estranho chamar alguém de filósofo, como se costuma
classificar, chamando alguém de engenheiro, mecânico, lixeiro, advogado, operário,
médico, historiador. Filósofo soa, assim, não como alguém que tem uma função social,
um status, uma tarefa ou trabalho bem definido, mas como alguém solitário, todo próprio,
digamos particular e singular, algo diferente, de alguma forma afim com excêntrico,
alienado, excepcional, estranho, sábio quem sabe, de vez em quando até santo, mas em
todo o caso não oficial, não comum, e sempre como privativo, próprio, singular. Nesse
sentido, se, em vez de dizer, filósofo é aquele que estudou filosofia, é a pessoa que é
formada na especialização “filosofia”, se disser é aquele que filosofa, pensa, matuta,
“crania”, a gente se sente melhor, mais familiarizado com a qualificação. Mas pensar,
matutar, “craniar” não é de toda gente, de todo mundo? O que há de especial no filosofar?
O que quer dizer a famosa expressão: filosofia é filosofar?
1
Filosofia é filosofar. Cf. HEIDEGGER, Martin. Os conceitos fundamentais da metafisica
metafisica. Mundo-finitude-solidão.
Tradução de: Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p.5.
2
Questão vem do verbo latino quaerere (quaero, quaesivi, quaestum ou quaesitum, quaerere) que significa buscar, procurar.
2
HARADA, Hermógenes. Estudar filosofia?
Filosofia é filosofar
Formalmente a formulação filosofia é filosofar quer dizer: o substantivo filosofia
tem como substância ser um verbo. Filosofia não é isso ou aquilo, não é algo ali préjacente, dado de antemão, mas uma ação bem “encorpada”, um verbo. Mas não um
verbo, uma ação que ocorre, mas sim o ter que ser, o ter que se perfazer. Nesse sentido
filosofia é só em filosofando. Ser filosofia é: ser como em sendo. Filosofia como filosofar
está responsabilizada, é responsável de cabo a rabo, em todas as articulações e fibras de
sua estruturação, no seu método e no seu modo de ser e não ser, na sua gênese, no seu
crescimento e na sua consumação: em, por e para ser (verbo) ela mesma, em sendo. Ser
assim não é sujeito, não é agente, não é um quê, que age, que tem a ação, mas é o
próprio, em sendo, o pura, plena e totalmente inteiriço “verbo”, ser. Em assim sendo, ser
é pura ação, anterior à atividade e passividade, um ato, “em si”, a partir de si, nele
mesmo, de todo e plenamente próprio, ele mesmo, na soltura, na autonomia da autoidentidade. É, pois, ser ab-soluto. Esse caráter de ser ab-soluta liberdade de si, da pura
ação se diz em latim studium, e em grego scholé3, que se diz em português estudo,
3
Scholé, em latim schola, em português escola significa ócio, repouso, tempo livre, de lazer. Ócio, aqui, porém, não
quer dizer dolce far niente. Antes indica um modo de ser e de agir, uma modalidade de trabalho todo próprio,
caracterizado como labor livre, gratuito, assumido cordialmente por causa dele mesmo, e por isso, isento de
remuneração seja ela prêmio ou castigo, por ele ser querido voluntariamente, como realização da vocação de uma
pessoa. Por isso scholé significava estar livre dos negócios (=ne ou non+otium = negotium = trabalho forçado do
escravo ou empregado); atividade da formação de ensino e aprendizagem escolar, conferência, diálogo, conversação
erudita e filosófica (Cf. MENGE, Hermann. Langenscheidts Grosswörterbuch Griechsch
Griechsch. Teil 1 Griechisch-deutsch.
Editora Langenscheidt, Berlim/Munique/Zurique, 1970, p. 670. Essa compreensão do trabalho livre é a mesma das
assim chamadas profissões liberais.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.3-11, jul./dez. 2008
3
artigos
empenho e desempenho, o zelo. Esse caráter típico de ser próprio se chama hermético.
Enquanto propriedade de ser, na ab-solutidade, na ab-soltura da liberdade de autonomia,
absoluto não significa propriamente fixidez da imutabilidade; nem hermético trancamento
e fechamento; mas pelo contrário franca abertura na imensidão, profundidade e
criatividade da jovialidade de ser, no seu perfazer-se, no seu consumar-se per-feito. Em
vez de na sua consumação perfeita podemos também dizer na sua bom-dade.
Quando em português dizemos “bom!” significamos um ente, um em sendo que
está no ponto, ou melhor, no seu ponto. No ponto aqui quer dizer no seu próprio, na sua.
Para indicar esse “na sua”, “no seu próprio” apertamos de leve a ponta, o lóbulo da orelha,
lá onde se é cheio, redondo, pleno, solto, digamos na sua “identidade”, na sua coerência,
na sua auto-adesão. Ser assim solto na coerência, como uma gota de água, redondinha,
tinindo na sua contenção plena é ser no acima insinuado sentido verbal da bom-dade.
Quando a filosofia é filosofar, na sua caracterização de ser ela mesma, de estar na
sua, “em casa”, no tinir da sua coerência, i. é, na sua scholé (leia-se: em casa na escola),
para quem não consegue “ver” o ser como verbo, mas apenas como “substância”
deslocada no seu sentido do ser para uma coisa-bloqueada como algo, a tênue vibração
do tinir da contenção da bom-dade perfeita, o ponto nevrálgico da plenitude consumada
de ser não é percebida, como também não se percebe a dinâmica da densidade de ser de
uma turbina em plena rotação a não ser como estaticamente parada; e a soltura absoluta
da autonomia da identidade é vista como fechamento, trancamento, como superfície
dura de um espaço ou de uma coisa hermeticamente fechada.
A filosofia enquanto filosofar sofre da ambigüidade da “hermeticidade” acima
mencionada, deslocada da sua dinâmica interna, quando vista de fora. É nesse sentido
que se costuma dizer que a filosofia é hermética. Ou dito de outro modo, numa
constatação banal: Filosofia é dura, difícil de estudar, pois, a partir de fora, não há
nenhuma entrada de acesso.
O hermético da filosofia
Tentemos verificar esse pretenso fechamento da filosofia para dentro dela mesma,
mencionando algumas de suas características, destacadas por Heinrich Rombach, quando
analisa o modo de ser da filosofia Moderna no seu livro Substanz System, Struktur 4 .
1. Filosofia como filosofar é autoconstituição. Como tal ela não recebe nenhuma
causação, ordenação, nenhum apoio ou subsídio de fora. Enquanto tal não
há da parte de fora nenhum ponto de referência que nos possibilite ou facilite
entrar nela. Não resta, pois, a não ser entrar em contato direto, corpo a corpo
com ela, a partir dela e nela mesma; ou deixar que ela fale, dite a sua lei. Por
isso: “ela pode ser definida como o pensar que se coloca a si mesmo sobre si
mesmo e empreende tomar todas as suas soluções e fundamentações, de si
mesmo, e todo o empréstimo de outras fontes, sejam elas experiência,
autoridade, revelação, é rejeitado; e isto, não porque elas lhe pareçam
incredíveis, mas porque elas estão sob as leis de um outro âmbito. Não somente
é rejeitada a condução, mas também todo e qualquer conteúdo de pensamento
de fora”. Aqui não se trata de reação de movimento de emancipação contra
autoridade, seja ela qual for e donde vier, mas da precisão de uma busca, na
qual se procura manter a coerência e limpidez do ser próprio de cada dimensão.
2. Porque a filosofia como filosofar cria o seu médium próprio, vive, se move e é
nele e a partir dele, não se acha mais na ordenação do mundo que lhe é dado
4
O que segue é resumo e citação da exposição de Rombach das páginas mencionadas abaixo. As citações estão em
itálico. Cf. ROMBACH, Heinrich. Substanz, System, Struktur
Struktur. Die Ontologie des Funktionalismus und der philosophische
Substância, sistema, estrutura
Hintergrund der modernen Wissenschaft (Substância,
estrutura. A ontologia do funcionalismo e o fundo
de trás da ciência moderna) Freiburg/Munique: Verlag Karl Alber, 1965. p.349-354.
4
HARADA, Hermógenes. Estudar filosofia?
fora da sua autoconstituição. “Assim a filosofia não assume nenhuma posição
visível e distinta em referência à sociedade do seu tempo”. Assim, ela não
possui nenhuma familiaridade e credibilidade simples no meio da sociedade,
não lhe é acessível de imediato, não encontra receptividade junto dos seus
contemporâneos. Nesse sentido “ela não mais fala para fora, mas fala ainda
apenas para si mesma; ela é coisa de especialista para especialista. Ao filósofo
não mais lhe interessa ocupar uma posição educativa no todo do seu mundo
circundante, ou demonstrar através da forma de sua existência a forma a mais
sublime e excelente da existência humana, mas ele se retrai, se torna invisível
para a sociedade e não possui nenhum característico que tivesse para com o
povo a significação e importância de um perfil exemplar do humano numa
configuração prenhe de significação. Assim, o filósofo parece qualquer um,
age como todo mundo, e não faz da sua filosofia um objeto doutrinário
transmissível”. Isto quer dizer: ele não possui nenhuma posição oficial, não é
da oficialidade, não é clérigo nem público. O filósofo não é aquele que é
chamado para uma tarefa humanitária pela vocação, o político, o educador,
professor, alguém como teólogo, juiz ou médico. Ele in-porta apenas a si
mesmo, por e para si, e vive no seu pensamento como o eremita na sua cela.
4. A filosofia como filosofar não ocupa nem assume um determinado lugar
descritível e visível dentro do mundo espiritual. Pois, ela implica, contém em si
todo o mundo do espírito, ou melhor, ele é todo o mundo do espírito. E assim,
“ela agora somente pode apelar a isso que surgir nela mesma e é nela pensado.
Ela é pensar sem pré-suposição. Ela não pode tomar da outra forma nem
axiomas, nem princípios, nem verdades primeiras, nem os dados, mas deve
tudo pro-duzir, gerar de si mesma. Agora sim, somente agora, a filosofia se
torna ‘fundante’, ‘fundamental’ de modo que ela tem que fundamentar tudo
que ela usa como meios do pensar nela mesma”. Desse modo, a filosofia é
acossada em direção ao fundo e à fundamentação do fundo, de tal modo
que, uma vez a caminho, não lhe resta mais nenhuma outra orientação a não
ser a ausculta e sondagem do abismo insondável e sem fundo da possibilidade
de ser. Assim, não se pensa em expandir, estender a extensão do saber, não se
está mais na tarefa do pensar enciclopédico, da vasta erudição, mas toda a
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.5-11, jul./dez. 2008
5
artigos
3. Já que a filosofia como filosofar está de pé somente sobre si mesma, e fala
somente por e para si, para as décadas e os séculos futuros ela fica fora das
escolas. “Todos os pensadores decisivos da nova filosofia, Descartes, Hobbes,
Arnauld, Pascal, Espinosa, Locke, Leibniz e Hume são mestres não funcionários
e não possuem nenhuma conexão digna de menção com a universidade. Eles
trabalham e pensam como pessoas privativas e se relacionam com os colegas
somente na forma privativa. A universidade e os estudos gerais permanecem,
por longo tempo, intocados por esse pensar”.
tarefa consiste em se concentrar na questão do início, do toque de origem e
retorno a ela na busca do outro início. “Não mais os summa, não mais um
speculum universale é a tarefa, a missão da filosofia; não o processamento e a
propagação do saber ‘substancialista’ sobre mundo e vida podem ser para ela
tarefa, mas apenas ainda a questão de fundo da sua própria facticidade”. Essa
concentração na questão do início faz surgir diferenciados e variegados estilos
nas manifestações literárias na causa da filosofia. Temos assim, por ex., tratados,
ensaios, discursos, correspondências, fragmentos, anotações, diários etc., que
por sua vez mais do que estilos, gêneros ou obras literárias, são vestígios do
pensar como caminhos, sendas, trilhas que acenam. Não visam, pois, o quantum
do saber, o seu resultado, mas somente se trata do toque do início, do retorno
ao início de fundamentações.
O como dos diálogos entre filosofias não é mais o de confronto argumentativo
de pressuposições, usadas na fundamentação das teses principais de cada
filosofia. As pré-suposições são mantidas intactas, intocadas, ou até
compreendidas da melhor maneira possível dentro da lógica do todo da
colocação. No entanto, o todo da colocação de cada filosofia em contacto
mútuo entre si sofre uma espécie de escavação de sapa, na qual a posição de
fundo do todo de cada colocação é interrogado no seu ser e este, no sentido
do ser, subsumido operativamente por cada uma dessas filosofias em
“confronto”, ao “construir” o conjunto visível exotérico da sua aparição. Aqui
no “confronto” não estão em jogo posições particulares dentro do todo da
colocação, mas sim o toque inicial da abordagem do todo da colocação.
“Confira-se nessa perspectiva a controvérsia, p. ex., de um Locke contra
Descartes, então de novo de um Leibniz contra Locke, de um Kant contra Leibniz
etc.” Aqui cada oponente se conserva mutuamente protegido nas suas
afirmações internas, esotéricas. Mas ao mesmo tempo, cada uma das
abordagens do todo de colocação de cada oponente é colocada em questão,
i. é, na busca, como ainda uma posição, portanto, não suficientemente no
fundo, onde se possa vislumbrar um abismo sem fundo do pensar de origem.
5. “Na medida em que a filosofia não mais é mantida, determinada e esclarecida
através e por meio de um mundo do ser e do sentido do ser extrafilosóficos, ela
deve não somente pensar ela mesma, mas também deve determinar todas as
suas particularidades e posições fundamentais. Por isso, ela começa cada vez
com uma autocolocação, auto-exame e autoconsideração. Antes de adentrar
os problemas intrafilosóficos, o pensador deve clarear antes de tudo e como tal
o seu conceito de filosofia. Cada filosofia tem como seu primeiro e fundamental
tema a possibilidade do próprio filosofar ele mesmo. Com isso, cada uma filosofia
se torna a filosofia. Ela se torna uma nova fundação do filosofar como tal e
deve tudo pensar novo de novo no seu reino”. Isso faz com que o pensador
6
HARADA, Hermógenes. Estudar filosofia?
seja considerado como isolado e apenas ligado na referência ao seu próprio
espírito. Assim começa cada qual, consigo mesmo. Aqui, cada qual é
descobridor do campo o mais próprio da filosofia. Cada pensador se
compreende uma nova erupção, uma nova eclosão, uma retomada, como o
início de toda uma época do pensar e não apenas como uma nova tese dentro
de uma moldura que permanece igual, do filosofar como tal. “Somente agora
o pensar se torna num modo destacado historial. Filosofia se torna epocal. Ela
se adentra cada vez de tal maneira na História, que com ela (filosofia) inicia um
novo tempo. Cada filosofia se compreende como a incisão epocal entre as eras
do universo temporal”. Assim, a interpretação dos outros filósofos se torna
volta às e retomada das pressuposições como sondagem e ausculta do que
elas ocultam da possibilidade de ser. Nenhuma filosofia pode se estabelecer,
sem dar ao mesmo tempo a sua própria apresentação e exposição da história
da filosofia. A história da filosofia não é mais apresentação das diferentes
opiniões sobre as mesmas perguntas, mas é entendida agora como uma história
da questão do sentido do ser que contém cada vez diferentes possibilidades
fundamentais da compreensão do mundo, homem e Deus, que projeta, nessas
possibilidades, diferentes perguntas e modos de perguntar.
6. Do que até agora dissemos, a filosofia como filosofar se assenta sobre e em si
mesma e não é propriamente uma forma específica de espírito como tal. Assim,
ela possui uma impostação e implicância toda própria, totalmente irredutível
para com a sua tarefa. Ela é um modo de pensar que difere totalmente do
modo de pensar do usual cotidiano, quer na ciência, quer na vida. Por isso a
filosofia é difícil para a gente. Ela se torna assim inacessível e des-natural,
artificial para quem se acha fora dela.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.7-11, jul./dez. 2008
7
artigos
Nessa perspectiva, “não existe uma base comum para discussão direta entre as
filosofias. Com a criação nova do conceito de filosofia surge também cada vez
uma nova, própria e i-repetível terminologia do pensar. Essa “terminologia”,
quiçá, esclarece esse pensar em si, mas não o deixa mais se referir a outro
pensar e a teses em outro pensar. Cada filosofia deve ser concebida a partir da
sua própria terminologia, e por isso mesmo suas enunciações não podem ser
ditas para fora dela, portanto não mais no sentido usual como “diálogo” entre
os filósofos. Os pensadores se isolam na absoluta solidão do seu mundo
conceptual cada vez seu. Todas as categorias como essência, substância, ser,
verdade, pensar, fundo e fundamento, causa, matéria, forma, assumem
diferentes significações, sim até conteúdos contrários, na medida em que se
atêm a diferentes círculos de pensamento”. Diante disso, não se pode mais
falar na filosofia de “Introdução geral da filosofia”, já que cada filosofia por e
para si mesma é introdução, o adentrar-se no filosofar.
Esse resumo da exposição, muito mais detalhada, das características da filosofia
como filosofar, feita por Rombach, pode nos induzir a tirarmos conclusões precipitadas.
Falemos, pois, brevemente apenas sobre uma dessas conclusões equivocadas que mais
ocorrem, desviando-nos de um questionamento adequado da questão.
Evitando uma conclusão apressada
A acima mencionada conclusão precipitada em questão consiste em tirarmos de
tudo quanto dissemos até aqui, caracterizando o modo de ser próprio da filosofia como
filosofar, a conclusão de que tal estudar filosofia é um puro fechamento para dentro do
solipsismo subjetivo-existencialista.
Admitindo a possibilidade de tal conclusão, sem entrar no questionamento das
pressuposições ali pré-jacentes não analisadas, queremos aqui apenas apontar um item
que poderia insinuar uma conclusão diferente, conclusão que, longe de ser uma solução,
é antes uma questão mais exigente.
O termo hermético, como já foi mencionado bem no início, conota fechamento,
trancamento completo para dentro de si.
Nos supermercados encontramos e compramos à beça produtos alimentícios
embalados e fechados em sacos de plástico resistente, de cujo interior se retirou de todo
o ar, de modo que os alimentos estão totalmente blindados contra o contato com o ar
exterior. É esse tipo de fechamento que nos vem à mente de imediato, quando ouvimos
ou lemos a palavra “hermético”. Assim, para nós hoje, o adjetivo “hermético” se refere
de imediato ao fechamento, é relativo ao fato de se estar trancado por e para dentro. No
entanto, “hermético” contém o nome Hermes, um dos deuses principais e mais influentes
da mitologia grega. O que tem deus Hermes a ver com trancamento por e para dentro,
com o fechado hermeticamente? Talvez, segundo Aurélio, porque “hermético” significa
também “encimado por um Hermes”. Hermes ou herma é um bloco quadriláteroquadrangular de pedra, cuja parte de cima é um busto esculpido de Hermes, em que o
peito, as costas e os ombros são cortados por planos verticais, formando a parte inferior
do bloco a modo de um pedestal quadrangular; ou é um meio-busto esculpido ou estátua
de Hermes aplicada a um plinto. Essa peça quadrilátero quadrangular de pedra, quando
era usada para tampar um espaço aberto, o fechava de tal modo que de fora, ali nada
mais entrava. Daí, num sentido figurado, algo cuja compreensão nos é fechada, inacessível
ou muito difícil e obscura, é qualificado de hermético.
Mas a referência do “hermético” ao fechamento pode ter uma acepção mais profunda
do que o simples fato de uma abertura ser fechada com um plinto encimado por um busto
de Hermes. É o que se insinua na ligação que a palavra “hermética” tem para com “ciência”
oculta de mutação e transmutação das forças elementares das profundezas da matéria, da
alquimia. “Hermético” agora se refere diretamente ao deus Hermes, enquanto relacionado
com as forças ocultas das profundezas obscuras da matéria. A referência da palavra
“hermético” ao fechamento não poderia vir da sua direta referência ao deus Hermes? Deus
8
HARADA, Hermógenes. Estudar filosofia?
Hermes, no seu modo de ser, nas suas propriedades, não nos poderia levar a uma
interpretação da filosofia como filosofar, e que na exposição acima do item “O hermético
da filosofia” parecia se caracterizar como hermeticamente fechada em, por e para dentro
do solipsismo subjetivo-existencialista?
A filosofia como filosofar está fechada com o deus Hermes
5
Desmitologizar aqui não significa desmascarar o mito de suas interpretações defasadas e supersticiosas, não objetivas
factuais, mas sim desbloquear o mito de amarras de perspectivas a ele inadequadas, para deixá-lo ser ele mesmo na
sua liberdade própria.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.9-11, jul./dez. 2008
9
artigos
Fechar em português pode significar trancar, cerrar, tapar a abertura etc. Mas
pode também em tudo isso significar concluir, levar ao cabo, consumar, perfazer. Nesse
sentido é que dizemos: fechei um negócio, fechei um contrato. E no Brasil a expressão
fechar com pode significar estar a favor ou ao lado de; concordar com. Não é assim que
na mesma direção vai também a acepção da expressão: estou contigo e não abro?
Fechamento hermético da filosofia como filosofar não poderia significar então que a
filosofia esteja declarando a deus Hermes: Estou contigo e não abro? Ou melhor, que a
filosofia no seu filosofar não é outra coisa do que ser simplesmente, totalmente inserção no
“estar na sua” da divindade de Hermes, no entusiasmo de Hermes? Em que consiste o estar
“na sua”, no próprio divino de Hermes, no seu entusiasmo? Hermes é deus, uma divindade.
E deus na sua divindade é representação da excelência do ser, concentrada num ente, i. é,
em um “em sendo”. Essa concentração na “mitologia” é entendida muitas vezes como
personificação, subjetivação ou hipostatização, gramaticalmente substantivação do adjetivo
ou verbo, de tal sorte que o Hermes deus se transforma num sujeito-pessoa, num substantivo
que indica um algo substancial, um quê ocorrente em si, que por sua vez possui qualidades
ocorrentes e acrescentadas a ele como seus atributos e ações. Se “des-mitologizamos”5 o
mito dos deuses gregos dessa personificação e os consideramos na dinâmica do seu ser
próprio como divindade, como o divino, então “deus” ou “divindade” como excelência
do ser, concentrada num ente, i. é, em um “em sendo”, não deve mais ser entendida como
fixação num ponto como centro, mas como onipresença cujo centro está cada vez em
toda parte, sem ocupar lugar, mas cada vez em cada momento de todo o “em sendo”,
como plenitude, como alegria, como vitalidade de ser. O quê, aqui qualificado como
concentração do ser, não é um quê-ponto, um núcleo subjacente a propriedades e atuações,
mas vigência qual difusão a modo de claridade ou afinação. A modo de claridade ou
afinação é tal que instante, momento, vigência ali é cada vez instante do instante, momento
do momento, vigência da vigência em crescimento e decrescimento da densidade de
liberação da auto-identidade de cada “em sendo”. Esse modo de ser da vigência, do
momento, do instante “difusão” no crescimento e decrescimento da liberação da autoidentidade é insinuado pelas expressões afins entre si como: o próprio, na sua, cada vez seu
e expressa a excelência de ser que personificada e qualificada em suas diversificadas aparições
recebe o nome de deus, deuses ou o divino.
Hermes, diferindo do seu irmão Apolo, que é deus do sol meridiano, deus da luz
do dia, é deus da luz sombreada do lusco-fusco do despertar da manhã; e é deus da luz
sombria da noite, das trevas incandescentes. O seu elemento, a sua ambiência familiar, o
seu “em casa” é vigência das forças ocultas das profundezas do mistério do ser, do
abismo insondável e inesgotável das possibilidades de ser. Ele é assim o mensageiro, o
arauto dos enigmas dos deuses, é condutor das almas para dentro do desconhecido,
inesperado e inaudito do mistério da origem e do seu toque. O seu reinado começa a se
sentir em casa lá onde todas as nossas possibilidades do ser e pensar aparentemente
estabelecidas sobre certeza do saber, exatidão do cálculo e controle, sobre firmeza do
querer do poder, colocadas, padronizadas e classificadas, nas suas posições e
pressuposições afundam nas nuvens do não saber, do não poder, do não ser,
impulsionadas na paixão da busca hermética do sentido do ser.
O fechamento hermético! O que, à primeira vista, sob a luz gélida e neutra e ao
mesmo tempo tórrida e causticante da interpelação produtiva do auto-asseguramento de
um cientificismo objetivante exacerbado, aparece como fechamento em, por e para dentro
do solipsismo subjetivo-existencialista da filosofia como filosofar, não seria antes tentação
e tentativa de uma boa aventurança, na busca da disposição, da prontidão atenta da
espera do inesperado, trabalhada, renovada, buscada tenazmente sempre de novo pela
existência “acadêmica” que de todo fecha com a paixão de Hermes e não abre?
Mas, e a filosofia institucionalizada no ensino e na aprendizagem escolar, com todas
as suas exigências formais e de conteúdo, monitoradas pela sociedade acadêmico-científica?
Nelas e através delas, assumir o empenho e desempenho de nos exercitarmos em infindas
tentativas de resolver os problemas e as dificuldades provenientes de suas determinadas
posições e pressuposições; e nessas tentativas aguçar, ampliar, questionar a precisão e a
cordialidade da busca na mira da única questão do fundo de todas as pressuposições, para
dentro do abismo hermético de uma espera, inteiramente nova e jovial, da possibilidade
do ser, isso seja talvez a tarefa hodierna do estudo da filosofia.
Conclusão
O estudo? A filosofia? Filosofia é filosofar? O que vale, porém, em tudo isso, é
não esquecer o aceno da recordação, a mais necessária dos tempos de urgência:
“Pois odeia
O deus sensato
Crescimento intempestivo”
(HÖLDERLIN, Do motivo dos Titãs. IV, 218)6.
6
Cf. HEIDEGGER, Martin. Introdução à metafísica
metafísica. Apresentação e tradução de Emmanuel Carneiro Leão. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987. p.227.
10
HARADA, Hermógenes. Estudar filosofia?
Referências
HEIDEGGER, Martin. Os conceitos fundamentais da metafísica
metafísica: mundo – finitude – solidão.
Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
HEIDEGGER, Martin. Introdução à metafísica
metafísica. Apresentação e tradução de: Emmanuel
Carneiro Leão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1987.
griechisch: griechisch-deustsch.
MENGE, Hermann. Langenscheidts grosswörterbuch griechisch
Berlin: Langenscheidt, 1970. v.1.
artigos
ROMBACK, Heinrich. Substanz, system, struktur
struktur: die ontology des Funkionalismus und der
philosophische Hintergrund der modern Wissenschaft. Freiburg: K. Albert, 1965.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.11-11, jul./dez. 2008
11
Filosofia e PPensamento
ensamento
Philosophy and Thought
Vagner Sassi*
Resumo
Partindo do desafio lançado pelos membros da Escola de Kyoto,
a saber, estabelecer as condições de possibilidade de um diálogo
entre o pensamento tradicional japonês e a filosofia ocidental, o
presente artigo, atento às considerações de Martin Heidegger
acerca da diferença entre filosofia e pensamento, aponta para a
necessidade de se ultrapassar a abordagem metafísico-categorial
da linguagem em favor de um falar originário e de uma escuta
não-objetivante.
Palavras-chave
alavras-chave: fenomenologia; superação da metafísica;
linguagem; pensamento originário.
Abstract
Starting from the challenge issued by the Kyoto School, which
was, to establish the conditions to allow a dialog between Japanese
traditional thinking and western philosophy, this article, taking
into account the considerations of Martin Heidegger about the
differences between philosophy and thought, points to the
necessity to go beyond the metaphysical-categorical language in
favor of a language originating from a non-objective listening.
Key W
ords
Words
ords: phenomenology; overcoming metaphysics;
language; original thinking.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.13-25, jul./dez. 2008
artigos
* Mestre e doutor em filosofia pela
PUC-RS e licenciado em pedagogia
pela PUC-PR, é professor na FAE Centro Universitário Franciscano,
lecionando as disciplinas de
história da filosofia antiga, ética e
ética e responsabilidade social.
13
O presente texto procura desenvolver algumas observações acerca da distinção
entre filosofia e pensamento a partir de um diálogo entre Ocidente e Oriente. Sem qualquer
pretensão sistemática, ele segue a modo dos treinos que perfazem uma arte marcial
japonesa e igualmente descarta qualquer pretensão propriamente erudita. Em sua
limitação, pouco ou nada sabe, de modo que não tem muito a acrescentar.
Isso porque o que move o presente texto é mais a jovialidade da experiência do
que a vontade de saber. Se ele afirma algo de algo, o faz atento a uma antiga palavra de
que “pouco saber, mas muita jovialidade é dada a mortais” (HÖLDERLIN). De fato, a
curiosidade de explicações jamais conduz a uma questão de pensamento. Cumpre,
portanto, permanecer na questão e assim abrir-se à possibilidade de um diálogo.
Sabe-se que a Escola de Kyoto, fundada por Kitaro Nishida (1879-1945) em fins
do século XIX, marca o começo da “filosofia japonesa”, compreendida como diálogo
entre o pensamento tradicional japonês e a filosofia ocidental. Cumpre aqui, porém, dar
um passo atrás no sentido de questionar a possibilidade tanto de uma filosofia japonesa
como de uma relação entre filosofia e pensamento.
Tal passo é importante, uma vez que tanto no senso comum como em meios ditos
científicos vai-se muito depressa ao se falar de uma “filosofia japonesa”, expressão essa
que dá muito que pensar. A bem da verdade, o próprio conceito do que seja propriamente
filosofia se presta hoje a não pouca discussão.
Nos meios acadêmicos, a filosofia é geralmente tida como um valor, a saber, uma
manifestação do espírito e um produto cultural. Com isso se quer dizer que ela já está aí
como algo, do qual alguém pode se servir, se apropriar e, quiçá, aprender e ensinar.
Nesse sentido não há problema algum em se falar de uma “filosofia japonesa”, nem de
uma culinária, literatura ou arquitetura japonesas.
Contudo, uma tal abordagem da filosofia enquanto produto à disposição em um
mercado cultural de consumo desvirtua a questão pelo que seja a filosofia, uma vez que,
ainda que útil, nada tem de filosófica. Seu único interesse é o da aquisição, controle e
manipulação, em razão do que ela objetifica e instrumentaliza. Em outras palavras, já
não se move no âmbito próprio da filosofia, mas sempre fora e em torno dela.
Como, então, é possível entrar na própria filosofia a fim de compreendê-la a partir
dela mesma?
Ao discorrer sobre Que é isto – a filosofia?, Martin Heidegger toma disto que se
tem imediatamente diante de si quando se pronuncia a própria palavra filosofia.
Se escutarmos a palavra filosofia em sua origem, então ela soa philosophía. A
palavra filosofia fala agora através do grego. A palavra grega é, enquanto palavra
grega, um caminho. A palavra grega philosophía é um caminho sobre o qual
nós estamos a caminho (HEIDEGGER, 1979b, p.14).
A própria filosofia carrega consigo os ocidentais que a partir dela falam, a saber,
a existência grega enquanto ocidental-européia. Por essa razão,
14
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
Isto pressuposto, levanta-se uma primeira questão: se a filosofia, como a própria
palavra grega o diz, determina a linha-mestra da história ocidental-européia, a saber, de
uma determinada experiência do mundo e do ser, e se o Japão como tal surgiu de uma
determinada experiência de pensamento radicalmente distinta da ocidental-européia, é
possível se falar propriamente de uma “filosofia japonesa”?
Mantendo essa questão, cumpre, todavia, levantar uma outra, que decorre dessa
primeira, sem, contudo, ser menos pertinente à presente investigação.
Isso porque “não apenas aquilo que está em questão, a filosofia, é grego em sua
origem, mas também a maneira como perguntamos, e mesmo a nossa maneira atual de
questionar, ainda é grega” (HEIDEGGER, 1979b, p.16). Esse modo de questionar e de
pensar que foi desenvolvido por Sócrates, Platão e Aristóteles pergunta pelo que algo é,
como a questão da essência, a saber, uma pergunta metafísica.
De fato, a metafísica como experiência do pensamento que deve, para investigar
o ser, ir além do ente, aponta para o traço característico da filosofia desde os gregos até
a modernidade. Entre seus aspectos constitutivos destacam-se dois, a saber, a apreensão
conceitual (lógica, racional) do Ser e a cisão do real em mundo sensível e supra-sensível.
Só que a metafísica não é a única experiência do pensamento e, quiçá, nem a originária.
Cumpre reconhecer que, radicalmente diferentes da experiência metafísica, existem
outras experiências do pensamento. Nelas, a unidade é tomada como totalidade, impossível
de ser representada e, por conseguinte, apreendida pelos conceitos e categorias da
metafísica. Tais são, por exemplo, o mito, a mística, a poesia, a arte e o próprio pensamento.
Nisso, levanta-se uma segunda questão, a saber, se a filosofia é essencialmente
metafísica e se a aparelhagem (instrumentos, linguagem etc.) da metafísica se mostra incapaz
de apreender outras experiências do pensamento na sua diferença, isto é, sem reduzi-las a
uma mera referência de si própria, é possível falar propriamente de uma relação entre filosofia
e as demais experiências do pensamento não-metafísicas?
Essas duas questões devem acompanhar a presente investigação. Elas estão no
fundamento do que chamamos Escola de Kyoto, a saber, a primeira escola de filosofia
constituída no Japão, porque no início de um diálogo que se procurou estabelecer entre
Oriente (pensamento tradicional japonês) e Ocidente (filosofia).
O fio condutor que aqui se apresenta é a recepção do pensamento de Martin
Heidegger pelos membros da Escola de Kyoto. É importante atentar aqui para o sentido
dessa recepção, que não se compreende como síntese, isto é, como um movimento
uniformizador destinado a diminuir, e quiçá eliminar as diferenças, mas sim como encontro
que possibilita um diálogo.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.15-25, jul./dez. 2008
15
artigos
a frase: a filosofia é grega em sua essência, não diz outra coisa que: o Ocidente e
a Europa, e somente eles, são, na marcha mais íntima de sua história,
originariamente filosóficos. E isso é atestado pelo surto e domínio das ciências
(HEIDEGGER, 1979b, p.15).
No início do século XX, vários professores da Universidade de Kyoto freqüentaram
as preleções de Heidegger, dentre os quais podemos destacar Kuki Shuzo (1888-1941) e
Hajime Tanabe (1885-1962). Esse diálogo foi mantido também posteriormente em
encontros com Keiji Nishitani (1900-1990), que ouviu preleções sobre Nietzsche, Tezuka
Tomio (1903-1983), professor de literatura alemã em Tókio, e Kôichi Tsujimura.
Desde as apostilas do curso Expressão e manifestação, ministrado em 1920, todos
os textos foram levados para a Universidade de Kyoto e amplamente discutidos. Assim o
foi com a conferência O que é Metafísica?, ministrada em 1929 e traduzida para o
japonês já no ano seguinte. Enquanto esta foi prontamente compreendida no Japão, já
na Europa ela prestou-se a grandes equívocos de interpretação niilista.
Contudo, esse interesse dos professores japoneses encontrou também
reciprocidade. Por sua vez, Heidegger era leitor de Lao-Tsé e dos trabalhos de Daisetz
Teitaro Suzuki sobre o zen-budismo. Nos anos de 1945-46, ele tentou traduzir partes de
Tao Te King e na sua conferência A essência da linguagem, pronunciada em 1957, faz
diversas referências ao pensamento japonês. Escreve Heidegger:
A palavra-guia do pensamento poético de Lao-Tsé é tao e significa propriamente
caminho. Porque se costuma representar sem dificuldade o caminho, atribuindolhe o sentido exterior de trecho de ligação entre dois lugares, muitos consideram
nossa palavra caminho inadequada para nomear o que diz tao. Prefere-se traduzir
tao por razão, espírito, raison, sentido, logos (HEIDEGGER, 2003, p.155).
E continua:
O tao poderia ser, no entanto, o caminho que tudo en-caminha, aquele caminho
somente a partir do qual se pode pensar o que essência, razão, espírito, sentido,
logos dizem propriamente, ou seja, a partir do seu vigor próprio. Talvez na palavra
caminho, tao, se resguarde o mistério de todos os mistérios da saga pensante do
dizer, ao menos quando deixamos esses nomes retornarem para o que neles se
mantém impronunciado (HEIDEGGER, 2003, p.156).
Assim, o pensamento japonês aparece afinado com a busca zur Sache selbst da
fenomenologia. Essa afinação está na origem da recíproca recepção que aparece no
diálogo entre Ocidente e Oriente empreendido pela fenomenologia no Ocidente e pela
Escola de Kyoto no Oriente. Origem que contém em si um caminho de encontro,
semelhante ao que se esboça na seguinte narrativa zen-budista.
Pintada pela primeira vez na China por um aluno do mestre Lin-chi (em japonês:
Rinzai, morto em 866) no tempo de Sung, a narrativa diz do caminho percorrido por um
praticante do zen que procura e encontra, para então viver de acordo com sua verdadeira
natureza. Esse itinerário aparece na estória de um vaqueiro que sai a procura de um
touro que se perdeu (e do qual se perdeu) e o encontra.
Embora existam diversas versões, juntamente com respectivas interpretações e
comentários, podemos, resumidamente, identificar os seguintes passos: procurando o
touro, encontrando as pegadas, primeiro vislumbre do touro, agarrando o touro,
16
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
domando o touro, indo para casa montado no touro, esquecendo o touro, esquecendo
a si mesmo, retornando à fonte, entrando no mercado para ajudar os outros.
Em vista da presente investigação, cumpre abordar brevemente aqui apenas alguns
desses passos. Para tanto, recorre-se à versão do mestre zen chinês K‘uo-an Chihyuan,
que teve seus versos traduzidos por D. T. Suzuki (In: SCOTT, 2000, p.153ss).
Sozinho na imensidão, perdido na selva, o rapaz está buscando, buscando!
As águas transbordantes, as montanhas longínquas e o caminho sem fim;
Exausto e em desespero, ele não sabe para onde ir,
Ele só escuta as cigarras vespertinas cantando nas árvores.
De modo análogo, todos já fizemos a experiência de sair à procura de algo que
julgamos haver perdido. Tal perda, contudo, não significa propriamente privação. Se
estivéssemos completamente alienados, não teríamos sequer por que (motivos) nem por
onde (vestígios) começar a procurar. Isso porque a possibilidade da busca está justamente
em que de antemão já se deu um encontro, e este perdura como possibilidade.
O caminho sempre já nos é dado. Isso, contudo, não nos isenta de ter que percorrêlo. O caminho se faz ao caminhar. Ainda que o touro nunca se separe do vaqueiro, isso
não impede que este se separe daquele e, nesse extravio, o coloque como objeto de sua
busca. Um objeto atrás do qual ele deve sair à procura como a um perdido e o encontrar
como um achado. Um objeto que precisa ser conquistado.
Com a energia deste ser total, o rapaz, finalmente, segurou o touro;
Porém, tanto sua vontade é selvagem quanto ingovernável é o seu poder!
Às vezes, anda empertigado num platô. Que vemos?
Perde-se novamente na bruma impenetrável do desfiladeiro da montanha.
Montado no animal, ele finalmente está de volta para casa.
Onde o touro não está mais; o homem está sentado sozinho, serenamente.
Apesar do sol vermelho alto no céu, ele ainda está calmo, sonhando,
Sob um telhado coberto de palha repousam, imóveis, o chicote e a corda.
Uma vez em casa, não há mais o que procurar. Assim, o touro desaparece enquanto
objeto de uma busca, e o vaqueiro se vê sozinho. Tal solidão, contudo, não significa
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.17-25, jul./dez. 2008
17
artigos
Dá-se um longo percurso onde, depois de seguidas as pegadas, o vaqueiro agarra
e domina o touro, a saber, o objeto de sua busca. Toda conquista requer força e energia
haja vista que ambos, touro e vaqueiro, precisam ser domados. É difícil manter o touro
sob controle quando este sente saudades do campo selvagem. Ao vaqueiro, é difícil
manter-se sob controle, quando desejos e dúvidas o dividem.
Por isso a necessidade da ciência e do exercício, bem como do empenho e da
disciplina que perduram até o momento em que o objeto da busca é conquistado, a
saber, dominado e controlado. Após travar dura luta, o vaqueiro vence e, de posse do
touro, volta para casa. Ele colhe, por assim dizer, o resultado de um aprendizado. Saber
é poder! Agora sim o vaqueiro sabe!
propriamente ausência. O touro está presente, bem como o chicote e a corda. Essa
presença, contudo, dá-se não mais a modo de objetificação. O próprio vaqueiro não
mais se vê como sujeito-agente de uma busca, uma entidade separada e existente em si.
Tudo está vazio – o chicote, a corda, o homem e o touro:
Quem poderá pesquisar a vastidão do universo?
Sobre a fornalha ardendo em chamas, nem um floco de neve pode cair:
Quando este estado de coisas é obtido, manifesto é o espírito do antigo mestre.
Onde toda distinção é posta de lado e vige a serenidade (Gelassenheit), aí tudo é.
Enquanto transformamos tudo e a nós mesmos em objetos de busca, amor, crença ou
uso, nunca vemos a nós mesmos e às coisas, mas tão-somente representações para nós.
Com ciência e filosofia não há bois, nem homens, nem coisa alguma. Por isso o convite
da fenomenologia de Heidegger de retorno zur Sache selbst.
Retornar às coisas elas mesmas e deixá-las ser é o modo de quem está em casa.
Quando o vaqueiro está em casa, o boi não está mais. Ele próprio não está mais. “Tudo
está vazio – o chicote, a corda, o homem e o touro”. E nesse vazio é que eles aparecem
como são, é que eles se mostram a si mesmos de imediato e não mais mediatizados por
algo que não eles, isto é, representados.
Com o peito nu e os pés descalços, chega ao mercado;
Todo sujo de lama e cinza, com que alegria sorri!
Não precisa dos poderes milagrosos dos deuses,
Tudo em que ele toca... Vejam! As árvores mortas estão florindo.
O vaqueiro está em toda parte em casa. Uno com todas as coisas, sereno e
impassível, ele nada sabe e nada pode. O peito nu e os pés descalços dizem do vazio
perfeito. E nós, filhos da ciência e da filosofia, que tanto sabemos e podemos, quando
estamos em casa? Onde ao homem moderno é dado, hoje, morar? Escreve Heidegger:
Ao perguntarmos pela morada do homem moderno em nossa época,
perguntamos: Há ainda um brilhar da natureza? Há ainda um aparecer? O brilhar
da natureza está obstruído e o seu aparecer lhe é vedado – enquanto vivemos
numa época em que o que é presente só é presente na forma do que a
maquinação humana produz e encomenda. O homem de hoje pensa que se faz
a si mesmo e às coisas à sua volta (HEIDEGGER, 2000, p.716).
E continua:
É assim que acontece: o homem moderno não pode ver e muito menos perguntar
onde mora; se lhe retrai aquilo a que está exposto; mais ainda: nem lhe é possível
fazer a experiência desse retraimento. Ele não pode pensar nem perguntar se
talvez esse retraimento da paragem da sua morada não efetua algo em que a
ele, ao ser humano, algo superior está retido – essa retenção não sendo um
nada vazio, mas a única realidade de todo fazer e empreender pretensamente
realista (HEIDEGGER, 2000, p.717).
18
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
De fato, todo agir e não agir na modernidade ocidental-européia é caracterizado
por uma relação fundamentalmente metafísico-objetivante do homem consigo mesmo
e com o todo do mundo. Essa determinada experiência do mundo e do ser, que se
estende desde os gregos (filosofia) até a modernidade (ciência e técnica) vige, hoje, por
toda parte, atingindo não somente a Europa e os Estados Unidos, mas também a China
e o Japão.
Mas, uma vez afirmado que o Japão como tal surgiu de uma determinada
experiência do pensamento radicalmente distinta da ocidental-européia, não se incorre
agora numa contradição? Necessariamente não, porque nada impede que, não obstante
sua origem, o mundo japonês tenha sido aprisionado pela objetividade metafísica e sua
superfície ter se tornado igualmente européia e americana.
Junta-se a isso a impressão, não isenta de um certo espanto, de que, nos dias de
hoje, a maquinação humana mediante o desenvolvimento científico e tecnológico tenha
atingido seu ápice com maior rapidez justamente no Japão moderno. E que o auge das
possibilidades do Ocidente se dê propriamente em terras orientais, isso não deixa de ser
algo paradoxal.
Com o intuito de apreender o caráter paradoxal dessa imagem, a saber, de um
Japão moderno à imagem e semelhança da Europa, e deixar aparecer o contraste deste
com uma abordagem livre da objetividade metafísica, cumpre prestar ouvidos a um
texto publicado por Fernando Pessoa em 1914, na revista O Raio, e que traz como título
Crônica Decorativa (PESSOA, 1986, vol. II. Prosa).
Antes de se abordar propriamente o texto, cumpre atentar para o modo como
nós próprios nos colocamos ao fazê-lo. Nesse sentido, se partimos da consideração de
que Fernando Pessoa é poeta, isso implica que somente quando lido poeticamente é que
seu pensamento se torna acessível. Porque singular, a existência poética é radicalmente
diversa da existência científica ou filosófica.
O que significa propriamente esse ver, para o qual não basta não ser cego? O que
vemos nós que não sejam objetos ou idéias? Nem filósofo nem cientista, quem é, então,
o poeta? Nem objeto de pesquisa nem produto abstrato, o que é, então, a poesia?
Como havemos nós de penetrar, pois, no espaço que é o próprio da poesia e da arte?
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.19-25, jul./dez. 2008
19
artigos
Não basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego
Para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Com filosofia não há árvores: há idéias apenas.
Há só cada um de nós, como uma cave.
Há só uma janela fechada, e todo mundo lá fora;
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela (PESSOA, 1978, p.169).
Mas só tal como o próprio poeta se torna senhor e servo da poesia, a saber, por
uma luta, é que ganhamos, para além do poema existente, o espaço da poesia.
A luta pela poesia no poema é a luta contra nós próprios, na medida em que, na
trivialidade quotidiana do ser-aí, estamos expulsos da poesia, estamos sentados
na praia cegos, coxos e surdos e não vemos nem ouvimos nem sentimos a
ondulação do mar (HEIDEGGER, 1979a, p.30).
A experiência de ver, ouvir e sentir a ondulação do mar só nos é dada quando nos
decidimos a sair da praia, deixar de ficar somente à margem, e entrar no mar. De modo
análogo, o texto do poeta Fernando Pessoa só pode ser apreendido se o lemos a partir
da disposição que lhe é própria, a saber, o seu humor. Ele não é um tratado filosófico
mas, antes, um simples poema. Ouçamos, pois, o texto.
A circunstância humana de eu ter amigos fez com que me acontecesse vir a
conhecer o Dr. Boro, professor da Universidade de Tóquio. Surpreendeu-me a
realidade quase evidente da sua presença. Nunca supus que um professor da
Universidade de Tóquio fosse uma criatura, ou sequer cousa, real.
E continua:
O Dr. Boro – sinto que me custa doutorá-lo – pareceu-me escandalosamente
humano e parecido com gente. Trajava à européia e, como qualquer mero professor
existente da Universidade de Lisboa, tinha o casaco por escovar. Ainda assim, por
delicadeza, dei-me por ciente, durante duas horas, da sua presença próxima.
Ao receber a visita de um professor japonês, o poeta se surpreende. Mas que
surpresa pode haver num evento tão corriqueiro como a visita de um professor? Sua
surpresa tem origem no estranhamento quando da constatação da realidade quase
evidente da presença do japonês. Que um japonês seja algo, uma coisa, gente, é motivo
de estranhamento para o poeta.
Isso não porque japoneses não tenham existência, mas porque a exposição
exacerbada da realidade, a saber, o privilégio de seu aparecimento enquanto presença
coisal, física e real, é uma modalidade da existência típica do Ocidente, nunca do Oriente.
A existência japonesa privilegia a exposição velada e o retraimento, o que é atestado
tanto nas artes como nos costumes orientais.
Mas o professor Boro é sólido, tem sombra – várias vezes fiz com que o meu
olhar o verificasse – e além de falar e falar inglês, coloca idéias e noções
compreensíveis dentro das suas palavras. A circunstância de que as suas idéias
não comportam nem novidade nem relevo apenas o aproxima dos professores
europeus, pavorosamente europeus, que conheço.
E continua:
Além disso, o professor Boro tem movimento, desloca-se, não sei como, de um
lado para o outro, o que, feito perante quem sempre teve o Japão por uma
nação de quadro, parada e apenas real sobre transparência de louça, é
requintadamente ordinário e desiludidor.
20
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
Fica patente a decepção de Fernando Pessoa com o alto grau de europeização do
Prof. Boro e com “a construção de um Japão à imagem e semelhança da Europa, desta
triste Europa tão excessivamente real”. Mas, não seriam essa decepção e estranhamento
frutos de um preconceito por parte do poeta? Não estaria ele preso a uma idéia por
demais romântica do espírito japonês e, a partir da mesma, julgando?
É possível que não. Pois, se atentarmos, como exposto anteriormente, que a fala
do poeta é poética, isto é, diferente de uma fala judicativa e crítica, o texto de Fernando
Pessoa não faz julgamento algum. Antes ele fala de uma admiração e de uma surpresa!
Suas considerações são artísticas, não antropológicas ou sociológicas. O texto refere-se
à existência mesma e não a uma avaliação sobre ela.
Com seu olhar de artista, o poeta admira no Dr. Boro como a não-existência própria
do pensamento e da existência japonesa sucumbe perante a existência evidente e
metafísica-objetificante do Ocidente. Globalizado, todo o mundo é então uniformizado
e padronizado. Elimina-se, assim, qualquer possibilidade de se estabelecer diferenças ou
mesmo distâncias.
O resto da minha vida, doravante, será escrupulosamente dedicado a esquecer o
Prof. Boro e que ele – impronunciável absurdo! – se sentou na cadeira que está
agora, na realidade de madeira defronte de mim. Um japonês verdadeiro aqui, a
falar comigo, a dizer-me cousas que nem mesmo eram falsas ou contraditórias:
não! Ele chama-se José e é de Lisboa. Falo simbolicamente, é claro. Porque ele
pode chamar-se Macwhisky e ser de Inverness. O que ele não era decerto era
japonês, real, e possível visitante de Lisboa. Isso nunca.
Se não no Dr. Boro, que solapa a diferença, onde podemos encontrar o próprio da
existência japonesa? O que, para nós ocidentais, há de real no Japão? Escreve o poeta:
O acesso ao Japão e o pensamento japonês implica, pois, na guarda da distância
e da diferença, na consideração do Japão como de algo que está sempre longe de nós.
Mas essa distância, bem como essa diferença, não se refere aqui a conceitos espaçotemporais. Não se trata de geografia ou de história.
O acesso ao lugar e o modo de ser propriamente japonês nunca se dá a modo
metafísico, a saber, em termos de ciência e de filosofia. Mas, então, como havemos de
fazer se desde o seu início nos compreendemos como filosofia e ciência? E se é assim,
“que não se pode lá ir, nem eles podem vir até nós”, é possível falar propriamente de um
encontro entre Ocidente e Oriente?
Tal questão diz justamente da aporia em que reside o “como” de todo encontro
radical, isto é, que desce às raízes das próprias possibilidades de pensar um encontro do
Ocidente com o pensamento japonês, o que é justamente a temática e o interesse da
presente investigação.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.21-25, jul./dez. 2008
21
artigos
A primeira cousa real que há no Japão é o facto de ele estar sempre longe de
nós, estejamos nós onde estivermos. Não se pode lá ir, nem eles podem vir até
nós. Concedo, se me forçarem a isso, que existam um Tóquio e um Iokoama.
Mas isso não é no Japão, é apenas no Extremo Oriente.
Que havemos, pois, de fazer? Antes ainda: há o que se fazer? Não seria mais
sensato, então, ao invés de nos precipitarmos em logo fazer algo atropelando-nos a nós
mesmos, nos dispormos a nada fazer? Mas há de se compreender esse “nada” de modo
a não cairmos nem num niilismo absurdo nem numa passividade estéril, ambos ressentidos
e incapazes de qualquer criatividade?
Em outras palavras: em que consiste a virtude do nada fazer? Não consiste ela
justamente na capacidade de simplesmente esperar? Mas esperar o quê, se nada se sabe?
Esperar o inesperado! Porque assim diz, ainda na aurora do Ocidente, o pensador Heráclito
de Éfeso: “Se não se espera, não se encontra o inesperado, sendo sem caminho de encontro
nem vias de acesso” (OS PENSADORES ORIGINÁRIOS, 1991, Fragmento 18, p.63).
Talvez a meditação deste fragmento de Heráclito nos possa orientar. Isso porque
ele fala de uma espera paciente, quase que diríamos: oriental. Uma espera que, já de
início, logra nossa ânsia ocidental de avanço apressado e controle, de progresso e
desenvolvimento. Uma espera que nada faz porque nada sabe de antemão, mas tãosomente concentra-se em escutar, ponderar, retornar zur Sache selbst!
Essa atitude de esperar o inesperado é a marca característica do pensamento de
Martin Heidegger, haja visto que ele se interessou pelo Japão sem nunca perder a idéia
da distância do Japão. Assim, é nítida a evidência de que “o Japão está sempre longe de
nós, estejamos nós onde estivermos” e por isso mesmo “sem caminho de encontro nem
vias de acesso”. Essa distância originária, contudo, permanece velada ao Ocidente
determinado pela ciência e pela técnica.
Todo distanciamento no tempo e todo afastamento no espaço estão encolhendo.
O homem está superando as longitudes mais afastadas no menos espaço de
tempo. E, no entanto, a supressão apressada de todo distanciamento não lhe
traz proximidade. O que acontece quando, na supressão dos grandes
distanciamentos, tudo se torna igualmente próximo igualmente distante? O que
é esta igualdade em que tudo não fica nem distante nem próximo, como se
fosse sem distância? (HEIDEGGER, 2001, p.143)
Essa constatação de que tudo está recolhido à monotonia e uniformidade do que
não tem distância, Fernando Pessoa já a havia percebido quando na visita do Prof. Boro.
Quando tudo se dispõe em intervalos calculados e justamente em virtude da
calculação ilimitada de tudo, a falta de distância se espraia e isso sob a forma de
uma recusa da proximidade de uma vizinhança dos campos do mundo. Na falta
de distância, tudo se torna in-diferente em conseqüência da vontade de
asseguramento e apoderamento uniforme e calculador da totalidade da terra.
Todas as referências entre todas as coisas se convertem na ausência calculável de
distância. Isso constitui a desertificação do en-contro face a face dos quatro
campos de mundo, a recusa da proximidade (HEIDEGGER, 2003, p.168).
Nos dias de hoje, a falta de distância se espraia e faz com que não só o Prof. Boro,
mas todo o Japão se torne por demais próximo. Não se guardando a diferença, reina a
22
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
indiferença que aniquila qualquer possibilidade de diálogo e que desertifica qualquer
possibilidade de um encontro face a face. Nesse sentido, Heidegger é o pensador ocidental
que toma a sério a advertência de Nietzsche no fim da metafísica: “O deserto cresce. Mas
ai daquele que semeia desertos”.
A filosofia começou na Grécia e, embora não tenha começado como metafísica,
se configurou como metafísica, esquecida de sua origem. Assim, a luz que luziu na
origem é ocultada no esquecimento do Ser. Esquecida da sua origem, a filosofia caminha
para seu fim enquanto metafísica na teoria nietzscheana da vontade de poder: o domínio
da técnica mediante a objetivação científica do mundo.
Técnica é vontade de asseguramento e apoderamento uniforme e calculador da
totalidade da terra que tudo objetiva. Assim,
para nossos hábitos representacionais, circunstanciados em toda parte pelo cálculo
técnico-científico, o objeto do conhecimento pertence ao método. O método
científico segue a degradação e aberração mais extrema do que seja um caminho
(HEIDEGGER, 2003, p.154).
Nesse contexto, como, então, há ainda de se falar propriamente em caminho?
Dando um passo atrás, zur Sache selbst! É aí que se apresenta a possibilidade de um
pensamento que não é mais metafísico, mas sim um pensar e falar não objetivante.
Escreve Heidegger:
Enquanto co-respondência, o pensamento do ser é uma causa muito errante e
assim muito indigente. O pensamento talvez seja um caminho inevitável, que
não pretende elevar-se a uma via de salvação nem trazer uma nova sabedoria. O
caminho é, quanto muito, um caminho pelo campo, que não apenas fala de
renúncia mas que já renunciou à pretensão de uma doutrina autorizada ou de
uma produção cultural válida ou ainda à pretensão de um grande feito do espírito
(HEIDEGGER, 2001, p.162).
E continua:
Pensamento, caminho e caminho do pensamento se mostram necessariamente
apenas num falar não objetivante. Nisso a importância de se colocar a questão pela
linguagem. O que significa propriamente falar?
Segundo a tradição ocidental, a determinação da essência do homem diz que o
homem é aquele vivente que tem a fala (zoon logon echon), expressão grega
posteriormente traduzida por animal rationale. Logo, na questão da linguagem decidese, por assim dizer, a questão pela existência do homem e sua determinação. O que
acontece quando, na definição ocidental do homem, se traduz o lógos grego por ratio,
razão (lógica)?
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.23-25, jul./dez. 2008
23
artigos
Tudo repousa no passo atrás (Schritt zurück), ele mesmo muito errante, em direção
ao pensamento, que cuida da virada do esquecimento do ser, a qual se prenuncia
no destino do ser. O passo atrás, que se dá a partir do pensamento representador
da metafísica, não rejeita esse pensamento, mas entreabre a distância, que dá
lugar ao apelo da verdade do ser, na qual se coloca e acontece o co-responder
(HEIDEGGER, 2001, p.163).
Já mencionamos anteriormente que a palavra-guia do Oriente, segundo Lao-Tsé,
é tao (em japonês: do), que significa propriamente caminho. Mas o Ocidente insiste em
traduzir tao por razão, assim como insiste em traduzir lógos também por razão. Colocase, pois, a questão: qual o sentido e o alcance dessa insistência? Ela corresponde à
essência do que se nomeia propriamente por linguagem?
Em 1959, Heidegger publicou A caminho da linguagem. Esta obra traz um texto
nomeado De uma conversa sobre a linguagem entre um japonês e um perguntador,
onde se investiga a possibilidade de se fazer uma experiência pensante com a linguagem,
bem como de um diálogo com o Oriente. O diálogo foi escrito por ocasião de uma visita
do Prof. Tezuka Tomio. Diz Heidegger:
Não vejo se o que eu tento pensar como essência da linguagem satisfaz também
a essência da linguagem oriental. Igualmente ainda não vejo se o que na verdade
seria o começo pode chegar a uma experiência pensante de um vigor de
linguagem capaz de garantir, tanto ao dizer ocidental-europeu quanto ao dizer
asiático-oriental, a possibilidade de uma conversa, que pudesse jorrar de uma
única fonte (HEIDEGGER, 2003, p.77).
Ao que completa o Prof. Tezuka: “Mas que se mantivesse oculta a ambos os
mundos”.
Esse começo a que se refere diz da proveniência que é sempre por-vir. Proveniência
e por-vir se evocam mutuamente: tal o modo originário do caminho do pensamento.
Pois, “no pensamento, o que permanece é o caminho. E os caminhos do pensamento
guardam consigo o mistério de podermos caminhá-los para frente e para trás, trazem
até o mistério de o caminho para trás nos levar para frente” (HEIDEGGER, 2003, p.81).
Não é difícil perceber que tais considerações soam incompreensíveis, e até
irracionais, a ouvidos lógico-técnico-científicos. Mas esse modo que deixa indeterminado
justamente aquilo a que se visa, e até mesmo o deixa recolhido no indeterminável, é o
que justamente possibilita o êxito de toda conversa entre pensadores. Ele evoca a espera
do inesperado que se mostra não no fim, mas tão-somente ao longo da caminhada.
Nesse sentido, certa ocasião, escreveu um mestre zen:
A montanha azul é o pai da nuvem branca. A nuvem branca é o filho da montanha
azul. O dia todo eles dependem um do outro, sem que um seja dependente do
outro. A nuvem branca é sempre a nuvem branca. A montanha azul é sempre a
montanha azul (SUZUKI, 1994, p.29).
24
SASSI, Vagner. Filosofia e pensamento
Referências
ANAXIMANDRO; PARMÊNIDES; HERÁCLITO. Os pensadores originários
originários: Anaximandro,
Parmênides, Heráclito. Petrópolis: Vozes, 1991.
HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem
linguagem. Tradução de: Márcia Sá Cavalcante
Schuback. Petrópolis: Vozes, 2003.
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências
conferências. Tradução de: Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan
Fogel e Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2001.
HEIDEGGER, Martin. Hinos de Hölderlin
Hölderlin: Germânia e o Reno. Tradução de: Lumir Nahodil.
Lisboa: Instituto Piaget, 1979a.
HEIDEGGER, Martin. Que é isto, a filosofia? In: Conferências e escritos filosóficos
filosóficos. Trad.
Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1979b.
HEIDEGGER, Martin. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges
Lebensweges. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann, 2000. Gesamtausgabe Band 16.
PESSOA, Fernando. Obra poética e em prosa
prosa. Antonio Quadros (Org.). Porto: Lello e Irmão
Editoras, 1986.
PESSOA, Fernando. Poemas
oemas. Seleção de Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1978.
Zen Tradução de: Maria Alda Xavier
SCOTT, David e DOUBLEDAY, Tony. O livro de ouro do Zen.
Leôncio. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.
artigos
SUZUKI, Shunryu. Mente zen, mente de principiante
principiante. Tradução de: Odete Lara. São Paulo:
Palas Athena, 1994.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.25-25, jul./dez. 2008
25
Pascal: Apol
ogia em FFragmentos
ragmentos
Apologia
Pascal: Apol
ogy In FFragments
ragments
Apology
Jaime Spengler*
Resumo
Pascal é autor que encanta e desafia. Encanta pela beleza de alguns
de seus textos; as Provinciais, por exemplo, são marcadas pelo
belo estilo e pela ironia; alguns de seus Pensamentos são
conhecidos e citados a memória. Desafia, pois, a forma escolhida
para expressar muitas de suas intuições, a forma do fragmento.
Além do mais, esses fragmentos foram forjados em vista de um
projeto maior: uma apologia do cristianismo. Nosso objetivo aqui
é realizar uma apresentação da pessoa de Blaise Pascal; buscar
compreender o que seja a apologia; lançar algumas indicações
para uma possível inauguração de leitura dos Pensamentos.
Palavras-chave
alavras-chave: apologia; fragmento; pensamento; Pascal.
Abstract
Pascal is an author that dazzles and challenges. Dazzles for the
beauty of some of his texts; the Provincials, for example, are
noticeable for its beautiful style and irony; some of his Pensées
are known and cited by memory. The challenge comes from the
way chosen to express many of his intuitions that of fragments.
Besides that, these fragments were forged seeking a greater
project: an Apology to Christianity. Our objective here is to present
Blaise Pascal; seek to comprehend what is the apology; to offer
indications for a possible inauguration for the reading of Thoughts.
artigos
Key W
ords
Words
ords: apology; fragments; thought; Pascal.
* Professor do curso de Filosofia da FAE
- Centro Universitário Franciscano.
[email protected].
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.27-36, jul./dez. 2008
27
Pascal (1623-1662), pensador francês, se tornou célebre especialmente por sua
obra intitulada “Pensamentos”, publicada depois de sua morte. Desde sua publicação,
essa obra gozou de grande prestígio. Ela é fruto de um projeto maior, ou seja, apresentar
uma “apologia do cristianismo”. O que temos hoje sob o titulo de “Pensamentos” é, na
verdade, uma coleção de fragmentos elaborados e conservados pelo próprio Pascal, e
que seriam usados na construção dessa projetada obra maior, jamais levada a termo.
Inaugurar uma leitura dessa obra nem sempre é tarefa fácil. O desafio nasce das
características da obra, e daquele preconceito difuso de que Pascal seria um escritor religioso
e não propriamente filósofo. Por isso, nosso objetivo aqui é antes de tudo propor algumas
– poucas – indicações para quem se dispõe a penetrar na obra pascaliana. Pretendemos,
antes de tudo, oferecer algumas indicações sobre a gênese da obra “Pensamentos”; em
seguida procuraremos buscar uma compreensão em torno do que seja uma apologia, e no
nosso caso apologia do cristianismo; por fim propomos algumas considerações em torno
das características daquele gênero literário denominado “fragmento”.
Sabemos que Pascal se dedicou por longo tempo à construção de uma apologia do
cristianismo; por quanto tempo exatamente, é impossível determinar. Sabe-se também que
muitos dos fragmentos foram escritos pelo próprio Pascal; outros foram por ele ditados.
Quando morreu, Pascal deixou a apologia no estado de um conjunto de fragmentos
recolhidos, em parte, em maços. A primeira coisa que se fez então, segundo Etienne
Pèrier, foi copiá-los como estavam.
Em 1670 surgiu a primeira edição dos Pensamentos, denominada até hoje como
“Edição de Port-Royal”, seguindo as propostas de um grupo de pessoas designadas para
tal fim. Para este grupo de estudiosos, era necessário evitar o reacender das disputas
teológicas a que a paz da Igreja pusera fim em 1668. Por isso, a obra não podia apresentar
acenos de jansenismo que pudessem ser relacionados aos contatos de Pascal com PortRoyal. Esse grupo não hesitou em suprimir um ou outro fragmento, ou trecho de
fragmento, do manuscrito e modificar outros de forma a dar ao texto maior formalidade
e não deixando suspeitas de heterodoxia.
Em 1776, Condorcet publicou uma nova edição dos Pensamentos, pondo em relevo
os argumentos da impotência da razão, da incerteza necessária da religião, das dificuldades
das profecias e milagres. Surgiu assim um Pascal cético que se impôs por aproximadamente
cem anos à imaginação dos românticos e do racionalismo de cunho positivista.
Em 1842 Victor Cousin se ocupou da necessidade de reler os manuscritos dos
Pensamentos que jaziam na Biblioteca Real de Paris. Nasceu assim a edição de Prosper
Faugère (1844). A partir de então foram introduzidas melhorias ao texto das novas edições,
fruto de estudos críticos e filológicos realizados sobre os manuscritos.
Em 1897 surgiu a clássica edição de L. Brunschvicg dos “Pensamentos e
Opúsculos”1, seguida da publicação dos Pensamentos em três volumes com amplas notas
1
PASCAL, B. Pensées et opuscules (Paris, 1897; última edição, Paris, 1976).
28
SPENGLER, Jaime. Pascal: apologia em fragmentos
e comentários críticos, oferecendo assim ao público a possibilidade de ler “todo o Pascal
e somente Pascal”. Esta edição foi seguida por outras também importantes tais como
Chevalier2 (Paris, 1925, 1936, 1949), Stewart (Londres, 1950), Guersant (Paris, 1954),
Mesnard (Paris, 1964).
Ao longo destes dois últimos séculos, esta obra de Pascal continuou a suscitar
interesse, admiração, respeito; e isto com uma perseverança que nada desanima a decifrar
o sentido dessa obra; de fato, de uma parte têm-se os conceitos filosóficos e teológicos, da
outra, a forma estilística e figurativa permeada de um profundo sentimento religioso, que
fazem da mesma uma obra-prima da literatura francesa e por que não dizer ocidental?!
Encontra-se nesta obra uma feliz harmonia entre conteúdo e forma do pensamento.
O conteúdo agarrou o autor de tal modo que a forma dada torna-se a única possível para
descrever a verdade3. A força de expressão e a profundidade intelectual acompanhadas de
um desejo de perfeição concedem a esta obra um tom de genialidade; ela reflete um
mundo repleto de vigor e de profundidade extraordinária, demonstrando que a qualidade
de uma obra não se deixa medir tanto pelo desenvolvimento ordenado de sua temática,
quanto pela profundidade e força intuitiva que revela4.
II
2
PASCAL, B. Oeuvres complétes (Paris, 1925; última edição, Paris, 1954). Quanto a questão da tradução para o
português, seguimos a tradução de Sérgio Milliet: PASCAL, B. Pensamentos. São Paulo, 1973.
3
ROMBACH, H. Substanz, System, Struktur II. Freiburg/München, 1966. p.197.
4
RUIZ, F. ‘Reflexiones en torno a Pascal’. Augustinus 27-28 (1962). p.416.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.29-36, jul./dez. 2008
29
artigos
Quando ouvimos falar de “apologia do cristianismo”, quase que instintivamente
nos vem à mente a representação de uma defesa apaixonada ou de uma justificativa do
cristianismo. Tal representação tem sua razão de ser e sua verdade. Certamente o momento
histórico vivido pelo próprio Pascal se prestava a esse tipo de empenho.
Entretanto, é possível entrever na expressão “apologia” uma latência toda própria,
e que, talvez, escape ao nosso modo, às vezes, apressado de avaliar um autor ou uma
determinada obra. Até porque, não raramente, os dados da historiografia e mesmo do
academicismo acabam por rotular ou classificar a partir de considerações apressadas a
produção filosófica. Não é nossa intenção entrar aqui nessa polêmica. Interessa-nos,
sim, oferecer alguns elementos – poucos –, para uma leitura, talvez mais vigorosa dos
Pensamentos de Pascal.
O termo “apologia” é encontrado já na grecidade antiga. O lexema “apolog-” indica
uma relação com o dizer, com a palavra, com a razão. A palavra grega que subjaz a esse
lexema é “lógos”; “lógos” é um substantivo relacionado ao verbo “legein”, que significa
“palavra”, “discurso”, “linguagem”, “razão”; o verbo significa “ler”, “dizer”, “anunciar”,
“declarar”, como também “juntar”, “ajuntar”, “colher”, “escolher”. Já o prefixo “apo” é na
verdade uma preposição, cujo significado é “de”, “vindo de”, “a partir de”, “a causa de”.
Usualmente se interpreta a expressão “apologia” como defesa, elogio, justificação,
enaltecimento. O termo indicaria uma relação fundamental com o dizer e com a causa em
razão da qual a palavra é proferida5. A partir dessa ilustração do termo, podemos compreender
o empreendimento de Pascal, isto é, uma apologia do Cristianismo, como esforço enorme
para defender o cristianismo ou justificar o cristianismo diante de “ameaças” exteriores, que
na aurora da modernidade estariam começando a se tornar mais intensas. Assim, Pascal teria
decidido empenhar toda a sua genialidade na construção de uma obra que pudesse de
algum modo servir de defesa ao cristianismo.
Certamente tal compreensão da apologia não está errada; ela certamente tem sua
valência. No entanto, seria conveniente buscar sondar uma possibilidade mais ampla de
compreender não só o que justificaria uma obra apologética – como pode ser visto o
empreendimento de Pascal –, mas também sondar a compreensão, talvez, aí latente do
próprio Cristianismo.
Pascal foi homem de uma experiência fundamental capaz de fazer saltar todos os
sistemas. Essa experiência, ele a viveu na aurora da modernidade, a partir da qual o ser
humano passa a ser visto e compreendido como estando situado diante do infinitamente
grande, sem ponto de referência algum. Ao mesmo tempo, esse mesmo ser humano,
começa a perceber a possibilidade de construir um saber a partir de si mesmo, apoiado
na força da razão calculadora e sobre a base do experimento. Pascal se deixa conduzir
pelas interrogações desse novo horizonte, pelas exigências dessa nova época, assume os
desafios que as “razões sólidas” (fr. 259) do existir humano impõem àqueles que são
“homens do futuro”6. Pascal empreendeu um caminho por meio do qual estava
convencido ser possível à modernidade ver as infinitas possibilidades que se lhe estavam
sendo abertas, e ao mesmo tempo, revelar ao sujeito pensante sua identidade profunda.
Em seu caminho não procurou certezas baratas. Como homem de ciência que era, estava
fascinado pelas inúmeras possibilidades que essa ofereciam. Ao mesmo tempo, porém,
foi capaz de perceber a impotência da razão científica diante da necessidade de superar
a compreensão vigente das contradições presentes no ser humano.
Certamente, o olhar humano tem um alcance relativo. De fato, “quantos astros as
lunetas nos descobriram, que não existiam para os filósofos de outrora” (fr. 266). Assim, o
que o ser humano pode perceber desse “mundo visível é apenas um traço perceptível na
amplidão da natureza, que nem sequer nos é dado conhecer mesmo de um modo vago.
[...] Esta é uma esfera infinita, cujo centro se encontra em toda parte e cuja circunferência
não se acha em nenhuma” (fr. 72). Por isso, o ser humano de todos os tempos é convidado
a “considerar o que é, diante do que existe; [...] que, da pequena cela onde se acha preso,
5
fundamental Petrópolis: Vozes – Aparecida: Santuário, 1994. p.84.
BOSETTI, E. Apologia. In. Dicionário de teologia fundamental.
6
Cf. LECCLERC, E. Pascal
ascal. Immensitá e finitudine dell´uomo. Milão: S. Paolo, 1996. p.10.
30
SPENGLER, Jaime. Pascal: apologia em fragmentos
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.31-36, jul./dez. 2008
31
artigos
isto é, do universo, aprenda a avaliar em seu valor exato a terra, os reinos, as cidades e ele
próprio” (fr. 72). Também o tempo convida o ser humano a considerar sua condição:
“Quando penso na pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade anterior e na
eternidade posterior, no pequeno espaço que ocupo, e mesmo que vejo, fundido na
imensidade dos espaços que ignoro e que me ignoram, aterro-me e assombro-me...” (fr.
205). Tanto o infinitamente grande, quanto o infinitamente pequeno representam, segundo
Pascal, um convite para o ser humano refletir sobre sua condição. Tanto um aspecto,
quanto outro do universo apontam para o fato de que este se situa muito além de sua
capacidade intelectiva. Daí a necessidade de um horizonte característico a partir do qual o
ser humano possa realizar uma experiência originária do conhecer. A esse horizonte Pascal
denomina coração, o qual possui uma gama de significações, que vibra em diversas
dimensões da existência humana; o próprio termo coração possui uma caracterização
originária em aberta polêmica diante do mero racionalismo filosófico. O coração é, segundo
a perspectiva pascaliana, fonte real de conhecimento. A idéia essencial que a temática do
coração inspira é aquela de um referencial a partir do qual os diversos aspectos que tocam
o espaço de decisões estão unidos. O coração indica uma dimensão da vida, onde nada
permanece verdadeiramente oculto, mas também não cai sob o domínio público.
As razões do coração e o coração da razão, como empenho demonstrativo das
possibilidades últimas da razão, representam o impulso do sentido, método e objetivo
da “apologia do cristianismo”. Poder-se-ia, portanto, afirmar que o projeto da “apologia”
adquire vitalidade a partir de um estudo detalhado do coração humano, como
possibilidade de abertura a uma compreensão autêntica e vigorosa do ser homem, da
sua dignidade e possibilidades, pois é o coração que possibilita ao ser humano perscrutar
sua origem (cf. fr. 278).
Assim sendo, o projeto da “apologia” não seria aquele de construir uma defesa
apaixonada do cristianismo compreendido como sistema de dogmas, crenças e ritos,
mas esforço por trazer à fala a condição do ser humano diante dos “espaços infinitos”,
e por mostrar “quanta aparência há de que existe outra coisa além do que vejo” [vemos]
(cf. fr. 693). O cristianismo que Pascal pretende apresentar nada tem a ver com o
movimento histórico, com implicações políticas, sociais e culturais; trata-se, sim, da
apresentação de uma existência na fé, referida a Cristo e compreendida a partir da
possibilidade de participação naquilo que ele tem de mais característico, capaz de orientar
o ser humano de todos os tempos na tarefa de assumir as próprias contradições. E a
característica do cristianismo se expressa no mistério da cruz e do Crucificado (cf. fr.
826). Nesta perspectiva, o projeto da apologia ganha novo vigor. Esse projeto consistiria
em buscar uma fenda, uma brecha por onde possa, talvez, ser aberta – e mostrada –
uma dimensão que desperte o ser humano para o frescor de uma visão originária do
todo. A cruz e o Crucificado seriam essa brecha, essa fenda a partir donde é possível
forjar um novo modo de existir para quem se “percebe limitado em tudo... incapaz de
saber com segurança e de ignorar totalmente” (cf. fr. 72), mas destinado a construir a si
mesmo como sujeito.
Pascal cultivou um relacionamento todo próprio com essa realidade denominada
fé cristã, cristianismo, pois, segundo ele, por meio de Jesus Cristo é possível conhecer
não só o mistério de Deus, mas também aquele do ser humano (cf. fr. 548). Este
relacionamento não foi certamente fruto de uma decisão da própria subjetividade, mas
expressão de algo que o tocou, que o tomou por inteiro, e ao qual ele somente poderia
corresponder. A isto denominamos “experiência”, isto é, um modo característico de o
ser humano existir enquanto humano. Nisto consiste a história desse homem, o horizonte,
a dimensão a partir do qual tudo adquire sentido próprio; esse horizonte determina seu
relacionamento com toda a realidade existente.
III
Pascal nos legou alguns fragmentos que seriam usados na obra a ser levada a termo,
denominada “apologia”. Estes fragmentos passaram por várias tentativas de ordenamento7;
cada uma delas orientada por uma perspectiva pré-definida. No entanto, ao que tudo
indica, nenhuma dessas edições conseguiu encontrar um fio condutor que satisfizesse
plenamente os estudiosos de Pascal.
A característica dessa obra, expressa como fragmentos, apresenta não poucas
dificuldades e, portanto, desafios para quem se decide a pensar o pensamento de Pascal. O
próprio termo “fragmento” já traz em si um problema, remetendo para algo de fragmentário,
quebrado, fraturado. Com isso pode-se facilmente pensar que, por não possuirmos o todo
da obra, mas somente fragmentos, se tornaria impossível realizar um estudo sério,
aprofundado, amplo da obra pascaliana. Possuímos fragmentos, mas não conhecemos sua
unidade. Diante desse fato, somos tentados a pensar que se possuíssemos a obra denominada
“apologia” na sua integralidade e unidade, seriam mais fáceis e claras, a leitura, reflexão e
possível interpretação da obra; poderíamos com maior facilidade e tranqüilidade seguir o
pensamento do pensador Pascal. Será que essa impressão é verdadeira? Será mesmo que, se
possuíssemos a obra na sua unidade e integralidade, tal trabalho seria realmente facilitado?
Será que tal impressão não traz em seu bojo um equivoco? Se assim o for, então precisamos
trazer à fala a característica dessa obra e ao mesmo tempo o equívoco latente na impressão
acima expressa.
Antes de tudo, precisamos compreender a característica desse “gênero literário”
fragmento. O fragmento pode ser visto como uma proposição incisiva, simples ou
composta, podendo também ser em si uma composição breve e conclusa. Este gênero
literário, e também filosófico, se contrapõe à construção demonstrativa, caracterizada
7
As mais conhecidas são: a Edição de Port-Royal (1670), Condorcet (1776), Prosper Faugère (1844), Brunschvicg
(1897), Chevalier (1925, 1936, 1949), Stewart (1950), Guersant (1954), Mesnard (1964).
32
SPENGLER, Jaime. Pascal: apologia em fragmentos
pelos princípios da continuidade e sistematização8. O fragmento, como também o
aforismo, apresenta de forma concisa o resultado de observações e reflexões pessoais;
carrega em si uma grande potência de expressão, exprimindo um pensamento rico e
conciso. A concisão e riqueza são, geralmente, as razões principais da dificuldade de
leitura desse gênero.
Os Pensamentos de Pascal foram concebidos dentro de um horizonte maior.
Verdade é que o que chegou até nós permaneceu na forma de fragmentos devido aos
limites impostos pela vida mesma de Pascal. Isto não representa um acaso, pois doença
e morte são parte integrantes do de-correr da vida mesma. Os fragmentos, portanto,
representam um caminho; é possível colher a sua intensidade filosófica e vital, lançandose na sua reflexão e seguindo a não simples dinâmica da origem dos mesmos9, como
fruto de um intenso itinerário existencial. À base dos fragmentos está “uma pintura do
homem como ele é; eles não são fragmentos desligados, mas formam um conjunto
unitário e orgânico em torno ao tema do indivíduo e de Deus”10. Dilthey descreve muito
bem o significado deste gênero literário e filosófico:
“Nas obras dos poetas, nas reflexões sobre a vida expostas por grandes pensadores
como Sêneca, Marco Aurélio, Agostinho, Maquiavel, Montaigne ou Pascal está
contida uma compreensão do homem, da sua inteira efetualidade, uma
compreensão no tocante à qual qualquer psicologia explicativa não consegue
aproximar-se. Mas em toda esta literatura de reflexões que quereria recolher a
plena efetualidade do homem, se nota até agora, ao lado da superioridade de
conteúdo, a incapacidade de exposição sistemática. Sentimo-nos impressionados
pelas singulares reflexões até o mais íntimo do coração! Parece abrir-se nessas, a
profundidade da vida mesma!11“
Pascal conduz sua reflexão de forma crítica. De um lado, apresenta, de forma
contundente, os aspectos “negativos” da condição existencial do homem. Do outro, os
aspectos positivos ou a sua dignidade. Nessa dinâmica reflexiva, mesmo a aparente
desorganização dos Pensées – obra pensada em voz alta, mas que não chegou a alcançar
a sistematização almejada12 – oferece a possibilidade de, por meio de diferentes conexões,
encontrar, implícita ou explicitamente, um sentido indicado. A obra Fragmentos adquire,
É interessante notar o que Pascal afirma no fragmento 71/373 a respeito da sistematização ou ordem para tentar
iluminar a difícil questão da ordem dos fragmentos: “Escreverei aqui meus pensamentos sem ordem, não talvez em
uma confusão sem objetivo: esta é a verdadeira ordem, que marcará sempre meu fim pela própria desordem. Daria
excessiva importância a meu assunto se o tratasse com ordem, porquanto quero mostrar que é incapaz de ordem”.
E continua Pascal no fragmento 70/61: “De bom grado teria seguido esse discurso de ordem da seguinte maneira:
para mostrar a vaidade de todo gênero de condições, mostrar a das vidas comuns e depois a das vidas filosóficas
pirrônicas, estóicas; mas não conservaria a ordem. Sei um pouco de que se trata e quão pouca gente a entende...”
9
ROMBACH, H. Substanz, System, Struktur
Struktur, id. p.197.
10
ascal
SCIACCA, M. PPascal
ascal. Milão: Marzorati Editore, 1962. p.118.
11
DILTHEY, W. Per la fondazione delle scienze dello Spirito
Spirito. Milão: Franco Angeli, 1985. p.363-364.
12
ALONSO A. M., ‘El estilo de Pascal’. Augustinus 27-28 (1962), p.376.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.33-36, jul./dez. 2008
artigos
8
33
então, um vigor único, difícil, talvez, de ser alcançado num primeiro contato13. Daí, a
necessidade de um manuseio intenso e constante da obra, em vista de uma frutuosa
leitura. Tal exigência contradiz, talvez, um modo difuso de pensar a obra chamada
“Pensamentos”. E porque não possuímos a obra sistematicamente organizada, o autor é,
talvez, visto como alguém obscuro. Mas será que esta característica de obscuridade não
seria antes um rótulo imposto pela “publicidade”, e que impede perceber o que é claro?
Mas com o que foi dito até aqui, ainda não esclarecemos o que seja a característica
do fragmento. Em abordando essa marca dos escritos de Pascal, talvez fosse interessante
recordar o fato de ele ter passado por uma “noite de fogo”14. O que foi essa experiência?
Certamente não foi algo de pouca valia. Trata-se, sim, de algo que o traspassou, que o
marcou decidida e profundamente; marcou-o com e como fogo. E isso Pascal guardou
13
Esta dificuldade de leitura que caracteriza uma obra como os Pensées de Pascal é característica de obras que possuem
o estilo de fragmentos ou aforismos. O fragmento (pensamento) ou o aforismo apresenta de forma concisa o resultado
de observações e reflexões pessoais; carrega em si uma grande potência de expressão, exprimindo um pensamento
rico e conciso. A concisão e riqueza são, geralmente, as razões principais da dificuldade de uma obra composta de
aforismos ou fragmentos. Poderíamos ainda caracterizar o aforismo como sendo mais completo que um fragmento,
embora a delimitação entre um e outro represente uma tarefa de difícil realização.
14
Trata-se de uma experiência vivida por Pascal na noite de 23 de novembro de 1654. A síntese desse fato, Pascal
carregou por escrito consigo, costurada no interior de seu casaco, e que só veio a público depois de sua morte. A
síntese escrita desse fato recebeu o título de memorial; diz o texto:
FEU.
«DIEU d’Abraham, DIEU d’Isaac, DIEU de Jacob»
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix.
DIEU de Jésus-Christ.
Deum meum et Deum vestrum.
«Ton DIEU sera mon Dieu.»
Oubli du monde et de tout, hormis DIEU.
Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l’Évangile.
Grandeur de l’âme humaine.
«Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu.»
Joie, joie, joie, pleurs de joie.
Je m’en suis séparé:
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
«Mon Dieu, me quitterez-vous?»
Que je n’en sois pas séparé éternellement.
«Cette est la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.»
Jésus-Christ.
Jésus-Christ.
Je m’en suis séparé; je l’ai fui, renoncé, crucifié.
Que je n’en sois jamais séparé.
Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Évangile:
Renonciation totale et douce.
Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur.
Éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre.
Non obliviscar sermones tuos. Amen.
34
SPENGLER, Jaime. Pascal: apologia em fragmentos
15
HEIDEGGER, M. Heráclito
Heráclito. Rio do Janeiro: Relume Dumará, 2000. p.46.
16
LECLERC, E. Pascal
ascal: immensità e finitudine dell’uomo. Milano: S. Paolo, 1996. p.81-82.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.35-36, jul./dez. 2008
artigos
para si, distante de olhares indiscretos. Porque dessa atitude? Não sabemos! No entanto,
podemos supor que ele quisesse, assim agindo, resguardar a própria experiência do
olhar curioso. Tal experiência indicaria que o olhar público não se inclina, e nem mesmo
está interessado na possibilidade de perceber o que se mostra num olhar para além; tal
possibilidade significaria reconhecer o valor da «fantasia» e da invenção. Além disso, o
olhar público não está preparado para a possibilidade de manifestação do discreto, do
modesto, do simples, do pouco evidente. E o pouco evidente ao olhar público, só pode
ser dito fragmentariamente; ou ainda, por ser a experiência da noite de fogo algo que
tocou Blaise no seu âmago, tornou-se isso para ele algo de essencial; e o essencial exclui
ou releva o que permanece no nível do entendimento comum. Por isso, os fragmentos
deixados por Pascal não são algo sem sentido, vago ou obscuro; são, antes, expressão de
algo que ultrapassa o plano do entendimento comum; que está para além do que já é
sempre «longe demais» para o «homem racional»15.
Qualquer esforço para tentar ler essa obra de Pascal há de levar em consideração
essa característica. O que Pascal nos legou são muito mais que “simples” fragmentos sem
uma aparente unidade. Trata-se, na verdade, sim de fragmentos; mas de fragmentos escritos
por alguém marcado pelo fogo – e, portanto, são palavras de fogo; são palavras de alguém
que se via diante de uma “Presença” viva e abrazadora, na presença de uma “Pessoa”16.
Por isso, a reflexão em torno dos mesmos é algo de desafiador, senão perigoso, pois um
passo em falso e tudo pode se tornar sem sentido. É, talvez, a partir dessa característica da
obra, que se mantém aquela tendência a considerar Pascal mais como um pensador religioso
do que propriamente como filósofo. Por outro lado, poder-se-ia também dizer que somente
o trabalho dedicado do pensamento por sondar a experiência do essencial, subsumido
pelas palavras que compõem os fragmentos, será capaz de trazer à fala o que o autor dos
mesmos nos legou. Assim sendo, a busca de uma possível ordem dos fragmentos e que
ocupou críticos ao longo de muitos anos, se mostra uma obra que, certamente, pode ser
relegada a um segundo plano – senão desnecessária, supérflua.
Assim, essa obra de Pascal, na sua característica, estaria apontando para algo
muito simples. Cada fragmento é expressão do todo em vista do qual a obra foi concebida.
O fato de não possuirmos muitos elementos a respeito da pretendida estrutura da obra
projetada, o contexto a partir do qual cada fragmento foi forjado, a intenção do autor
no momento em que ia pondo um e outro fragmento no papel, a possível ordem dos
fragmentos não são determinantes para a compreensão dos mesmos. Fundamental nesse
empreendimento é, no esforço por ler esses fragmentos, auscultar o sentido do todo
pelo qual cada um foi concebido, foi pensado. Assim, cada fragmento, longo ou curto,
bem articulado ou não gramaticalmente, passível de ser aproximado de outro ou não,
torna-se possibilidade à disposição do leitor de todos os tempos, para buscar, sondar a
compreensão daquilo que estava orientando Pascal na constituição daquilo que
denominou “apologia do cristianismo”.
35
Referências
ALONSO, A. M. El estilo Pascal. Augustinus
Augustinus, n. 27-28, 1962.
BOSETTI, A. Apologia. Dicionário de teologia fundamental
fundamental. Petrópolis: Vozes; Aparecida:
Santuário, 1997.
DILTHEY, W. Per la fondazione delle scienze dello spirito
spirito. Milano: F. Angeli, 1985.
HEIDEGGER, M. Heráclito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.
LECLERC, E. Pascal
ascal: immensità e finitudine dell’uomo. Milano: S. Paolo, 1996.
PASCAL, B. Pensamentos
ensamentos. Tradução de: Sérgio Milliet. São Paulo: Difusão Européia do
Livro, 1973.
PASCAL, B. Pensées et opuscules
opuscules. Paris: Hachette, 1976.
ROMBACK, H. Substanz, system, struktur
struktur: die ontology des Funkionalismus und der
philosophische Hintergrund der modern Wissenschaft. Freiburg: K. Albert, 1965.
RUIZ, F. Relexiones em torno a Pascal. Augustinus
Augustinus, n.27-28, 1962.
SCIACCA, M. Pascal. Milano: Marzorati, 1962.
36
SPENGLER, Jaime. Pascal: apologia em fragmentos
Uma Reflexão Antropológica
da Violência a PPartir
artir das
Atividades Liberativas da
Filosofia de Schopenhauer
An Anthopological Reflection
about Violence Stemming from
the Liberative Activities of
Schopenhauer’s Philosophy
Osmar Ponchirolli*
Resumo
O objetivo deste artigo é verificar a importância da concepção filosófica
de Schopenhauer como fundamento antropológico do fenômeno da
violência. O método que caracteriza esta pesquisa é a revisão bibliográfica,
com utilização de fontes múltiplas de evidências. Os dados foram obtidos
mediante uma profunda investigação bibliográfica. A análise dos dados
foi efetuada de forma descritivo-interpretativa. Utilizaram-se a análise de
conteúdo e a análise documental. A violência vem ocupando um grande
espaço na literatura nos últimos anos. Como resposta ao fenômeno da
violência, surgem no cenário político propostas que privilegiam o
endurecimento das políticas de combate à criminalidade, reformas no
sistema penitenciário e reestruturação policial, com o objetivo de controlar
e reduzir a violência. Tem-se a necessidade de buscar o fundamento da
violência com base na filosofia. Neste sentido, procura-se analisar a
violência a partir da contribuição da antropologia filosófica de
Schopenhauer, do mundo como vontade e representação.
Palavras-chave
alavras-chave: violência; o mundo como vontade e representação;
arte; compaixão; justiça.
* Filósofo, teólogo, especialista em
didática do ensino superior,
licenciatura plena em história,
psicologia, sociologia, mestre e
doutor pela UFSC. Professor adjunto
do curso de filosofia da FAE - Centro
Universitário Franciscano e
professor pesquisador do programa
de mestrado em organizações e
desenvolvimento da FAE.
The main objective of this article is to verify the importance of the
philosophical conception of Schopenhauer as a anthropological basis of
the phenomenon of violence. The method used in this research was the
review of bibliography, utilizing multiple sources of evidence. The data was
extracted after extensive bibliographical review. Data analysis was undertaken
in a descriptive-interpretative manner. Content analyzes and analyzes of
documents were employed. Violence has occupied a large chunk of the
literature recently. As a response to the phenomenon of violence, it has
emerged in the political arena proposals to harden the policies to fight
crime, reforms in the jail system, and restructuring of the police, all seeking
to control and reduce violence. There is the need to seek the fundamentals
of violence stemming from philosophy. In this manner, we seek to analyze
violence starting from the contribution of Schopenhauer’s philosophical
anthropology of the world as will and representation.
Key W
ords
Words
ords: violence; the world as will and representation; art;
compassion; justice.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.37-45, jul./dez. 2008
37
artigos
Abstract
Introdução
O presente artigo tem como base a obra principal do filósofo Arthur Schopenhauer,
O mundo como vontade e representação, que contém a síntese de todo o seu pensamento,
e dele tenta-se destacar os elementos antropológicos com o intuito de elucidar a
compreensão filosófica da violência. Os diversos tipos de violência intrigam a sociedade
e têm despertado na comunidade em geral, especialmente acadêmica, a procura por
explicações para a violência de uma maneira geral, na tentativa de instrumentalizar
educadores, familiares e demais agentes na sua interpretação e prevenção. Os índices de
atos infracionais apresentam um crescente alarmante e uma mudança de paradigma no
modus operandi das infrações; outrora se registravam atos contra o patrimônio, hoje se
registram atos contra a vida. A filosofia de Schopenhauer servirá de base teórica para
iluminar esta reflexão sobre a violência.
O ponto de partida da filosofia de Schopenhauer é a distinção kantiana entre
fenômeno e noumeno, mas ele descreve esta distinção em sentido diverso do
genuinamente kantiano. Para Kant, o fenômeno é a realidade, a única possível para o
conhecimento humano, e o noumeno o limite intrínseco deste conhecimento. Para
Schopenhauer, o fenômeno é aparência, ilusão, sonho, e o noumeno é a realidade que
se oculta atrás do sonho e da ilusão.
Kant considerava inacessível o noumeno, e Schopenhauer (1974, p.213) descobre
esta via de acesso:
[...] não saímos do conhecimento objetivo da representação, nem podemos passar
do fenômeno, nos encontramos reduzidos ao aspecto exterior das coisas, sem
poder penetrá-las para ver o que são em si mesmas. Até aqui, de acordo com
Kant, porém a partir deste ponto coloco como contrapeso esta outra verdade:
que não somos unicamente sujeitos do conhecer, senão também objetos, coisas
em si, e que, em conseqüência, para penetrar na essência própria e imanente
das coisas, nas quais são podemos chegar desde fora, se abre uma via que parte
do interior [...].
Com Kant, Schopenhauer afirma que a intuição nos proporciona um conhecimento
dos fenômenos, mas vai mais além, dizendo que isto se aplica a todos os conhecimentos,
menos ao do nosso próprio querer, que não é intuitivo nem vazio, mas é mais real do
que qualquer outro. Na realidade, o nosso querer é o único dado que não se dá na
representação e é também a única forma de compreender a interioridade de qualquer
outro fato.
Partindo de fora, não se pode chegar à interioridade, à essência das coisas. De
qualquer maneira que nos atenhamos a elas, obteremos apenas imagens e nomes. Só
partindo daquilo que conhecemos imediatamente, ou seja, de nós mesmos, podemos
conhecer as outras coisas. Seria impossível encontrar a significação do mundo que é
nossa representação do sujeito cognocente em qualquer outra coisa, se o homem fosse
puro sujeito do conhecimento. Ele, porém, também tem suas raízes neste mundo, aí se
38
PONCHIROLLI, Osmar. Uma reflexão antropológica da violência...
encontra como indivíduo, e seu conhecimento, condição e apoio do mundo como
representação, tem o seu corpo como condição de sua intuição do mundo. Para
Schopenhauer (1974, p.214), é o nosso querer o único “Datum” de validade que pode
esclarecer todas as coisas e nos conduzir à verdade.
Nem mesmo este conhecimento interior de nossa própria vontade nos permite o
conhecimento propriamente dito da coisa em si, porque ele não é imediato. A vontade
necessita, para suas relações com o mundo exterior, do corpo e com ele a inteligência
que a vontade cria. Por meio dela, se reconhece como tal vontade em sua consciência
íntima. Mesmo neste conhecimento interior, a coisa em si, ainda que despojada em
parte de seus véus, não se apresenta totalmente nua.
O artigo estrutura-se em quatro itens. Uma introdução, onde se justifica a temática
deste artigo. O segundo item está relacionado ao conceito de vontade, onde se busca
compreender a violência a partir da concepção de vontade de Schopenhauer. No terceiro
busca-se uma colocação antropológica, e por último as considerações finais.
O item a seguir abordará a concepção de vontade a partir do pensamento de
Schopenhauer. A violência apresenta-se como impulso cego e irresistível que se objetiva
no fenômeno.
Sempre que um ato voluntário sai das profundezas obscuras de nosso interior,
penetrando na consciência do sujeito que conhece, o que surge é a coisa em si, que não
está submetida ao tempo. O ato voluntário nada mais é que a manifestação mais imediata
e visível da coisa em si. Daí se deduz que, se todos os demais fenômenos pudessem ser
conhecidos tão intimamente como o nosso ato voluntário, os reconheceríamos como
idênticos àquilo que em nós é a vontade. Schopenhauer (1974, p.215) afirma que “este
é o sentido de minha doutrina, quando digo que a essência de todas as coisas é a
vontade e a chamo de coisa em si”.
Para Mira y Lopes (1972), não é somente nos fenômenos semelhantes em tudo
aos do próprio homem que se encontra esta mesma vontade como essência íntima. Uma
reflexão mais demorada levará a reconhecer que a universalidade dos fenômenos, apesar
das variadas representações, tem uma só essência, a mesma que só o homem conhece
intimamente, imediatamente e melhor do que qualquer outra coisa. Aquela que, enfim,
em sua mais aparente manifestação traz o nome de vontade.
Esta vontade está presente na força que faz medrar a planta, cristalizar o mineral
e que dirige a agulha imantada para o norte. Encontrar-se-á também nas afinidades
eletivas dos corpos e até na gravidade que age. A própria explicação fisiológica do ciclo
vital do ser em toda a sua extensão, por mais completa que seja dada, não poderá abalar
este fato certo: que a vida e todo o seu desenvolvimento é igualmente um fenômeno da
vontade. Vontade que, considerada puramente em si, é um impulso inconsciente, cego,
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.39-45, jul./dez. 2008
39
artigos
1 A vontade
irresistível. Assim a vemos nos seres inorgânicos e vegetais, em suas leis; na própria vida
vegetativa do homem. No homem, pela incorporação do mundo da representação, a
vontade adquire a consciência do seu querer e daquilo que quer, que nada mais é que
este mundo, a vida tal como se nos apresenta.
O que a verdade quer é sempre a vida, dizer vontade de viver é dizer vontade.
Todo o universo é uma manifestação dessa vontade, não causa dos fenômenos, mas
objetivação de si mesma. Partindo da observação dos fenômenos em geral, Schopenhauer
(1974) analisa as teorias físico-biológicas existentes e afirma que, apesar de tudo, a
natureza íntima do fenômeno e sua multiplicidade permanecem sempre inexplicáveis. A
vontade é um impulso cego e irresistível que se objetiva no fenômeno.
A vontade, como coisa em si, é onipotente e tudo pode. Ela é livre. O mundo, com
toda a multiplicidade de suas partes e de suas figuras, é o fenômeno, a objetividade de um
único querer viver. A vontade de viver é eterna, pois está fora do tempo e é no homem que
ela adquire consciência. A atividade é essencial na vontade que nunca deixa de querer.
A vontade se objetiva pluralmente nas coisas e no tempo, sem que por isso perca
a sua indivisibilidade. A diferença entre as coisas do espaço só está em sua objetivação
(grau). Cada grau de objetivação da vontade contende com outro na matéria, no espaço
e no tempo, implicando, por isso, luta, batalha e, alternadamente, vitória. A vontade
está toda tanto numa pedra como num vegetal ou no homem, de tal maneira que, se
pudéssemos destruí-la numa pequena partícula de poeira, destruiríamos o mundo.
No próximo ponto procura-se, a partir de Schopenhauer, fazer uma reflexão
antropológica com o objetivo de demonstrar que é também no homem que a vontade
alcança a sua maior individuação.
2 TTentativa
entativa de uma colocação antropológica
Schopenhauer repete que o seu sistema explica o mundo pelo homem e não o
homem pelo mundo e neste sentido ele mesmo chama seu sistema de um
macroantropismo, pois coloca o centro do universo na consciência do homem.
O homem, como todos os outros fenômenos da matéria viva ou bruta, é vontade
e representação e no seu extrato mais profundo se apreende como vontade de viver.
Porque a vontade é a “coisa em si”, o conteúdo interior, a essência do mundo e o mundo
visível é o fenômeno, o espelho da vontade, a vida acompanhará inseparavelmente a
vontade; onde há vontade, há vida. Schopenhauer diz ser um pleonasmo “vontade de
viver”. A vontade de viver tem assegurada para si a vida. Continuando, afirma que o
sujeito é o suporte do mundo, a condição constante sempre subentendida de tudo o
que é perceptível, de todo objeto, porque tudo quanto existe, existe para um sujeito. O
mundo é minha representação, um princípio evidente para Schopenhauer. Todo homem
é este sujeito, mas somente enquanto conhece e não enquanto é objeto de conhecimento.
Seu próprio corpo é objeto. Deste ponto de vista ele é igualmente representação, porque,
40
PONCHIROLLI, Osmar. Uma reflexão antropológica da violência...
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.41-45, jul./dez. 2008
41
artigos
o corpo é um objeto entre os objetos submetidos às leis dos objetos, portanto submetidos
às formas de todo o conhecimento que são: tempo e espaço. A vontade é aquilo que
conhecemos imediatamente.
A ação do corpo é o ato da vontade objetivada e ambos são uma só e mesma
coisa, que nos vêm de sua maneira diferente, de uma vez imediatamente e outra pela
intuição e conhecimento. É no homem também que a vontade alcança a sua maior
individuação, devido a um sem-número de personalidades, e é nele que ela se apreende
como vontade de viver. A vida está presa ao querer viver e, enquanto este existir no
homem, ele não deverá se inquietar com sua vida e com sua morte.
Segundo Schopenhauer (1974, p.501), a vontade de viver tem sempre assegurada
a vida, e enquanto ela nos alentar não devemos nos preocupar por nossa existência, nem
mesmo ante o espetáculo da morte. Vemos o indivíduo nascer e morrer, mas o indivíduo
não é mais que o fenômeno. Só existe pelo conhecimento submetido ao princípio de
razão que é o princípio de individuação, por isso o indivíduo recebe a vida como um
presente. Sai do nada, sofre logo pela morte a perda do dom da vida e volta ao nada de
onde saiu.
O nascimento e a morte, por pertencerem ao fenômeno da vontade e, por
conseguinte, à vida, não atingem a vontade em nada nem atingem o sujeito do
conhecimento. É atributo essencial da vida aparecer em criaturas individuais, manifestando
fugazmente no tempo o que em si não conhece tempo e deve precisamente manifestarse sob esta forma, a fim de poder objetivar sua verdadeira natureza. O nascer e o morrer
são pólos do fenômeno total da vida.
Para Schopenhauer (1974), a mais sábia de todas as mitologias, a indiana, expressa
este mesmo pensamento dando por atributo a Siva, o deus da destruição e da morte, o
colar de caveiras e, ao mesmo tempo, o Lingan, símbolos da geração e da morte que se
compensam reciprocamente.
A morte de um indivíduo não afeta a natureza, que nada mais é que a realização
da vontade de viver. Sendo o homem a própria natureza em seu supremo grau de
consciência de si, e sendo a natureza vontade de viver objetivada, nada mais natural que
o homem se console com sua própria morte e a dos seus, lançando olhos para a vida
imortal da natureza que é ele mesmo. A forma do fenômeno da vontade é tempo, espaço
e causalidade. A forma do tempo é sempre o presente e não o futuro ou o passado. Estes
só existem pela abstração, pelo encadeamento do conhecimento submetido ao princípio
de razão. Só o presente é propriedade de toda a vida, propriedade segura, e nada,
jamais, pode arrebatá-lo.
Para Schopenhauer (1974), o próprio passado, mesmo o mais próximo, o dia que
acaba de escoar-se, não é mais do que um inútil sonho e outra coisa não é o passado de
outros milhões de seres. Eu sou definitivamente dono do presente que me acompanhará
por toda uma eternidade como minha sombra; por isso não me espanta nem pergunto
de onde procede este presente e por que precisamente neste instante.
Só a manifestação individual da vontade é que começa e acaba, mas isto não a
afeta, já que ela é eterna. A vontade em si e o sujeito puro do conhecimento
existem fora do tempo e não conhecem nem a permanência, nem a destruição.
Por isso, o egoísmo do indivíduo não pode valer-se disto para apagar sua sede
de imortalidade, pois não pode alimentar a certeza que depois de sua morte o
mundo continuará existindo (SCHOPENHAUER, 1974, p.509).
O homem só enquanto fenômeno difere dos outros objetos, mas também é vontade
que se manifesta em tudo. A morte faz desvanecer a ilusão de que sua consciência é
distinta da consciência universal, e nesta não há destruição, nisto consiste sua eternidade.
Todas as ações do homem são a manifestação reiterada do caráter inteligível,
apenas ligeiramente modificada em sua forma. A indução resultante da soma dessas
ações é o caráter empírico. O caráter adquirido, que vem juntar-se depois ao inteligível e
ao empírico, se forma na medida em que se vive em contato com o mundo, através do
conhecimento claro e abstrato do próprio caráter empírico.
Quando elogiamos ou censuramos alguém devido ao seu caráter, estamos nos
referindo ao caráter adquirido. Se poderia pensar que, sendo o caráter empírico, enquanto
fenômeno do inteligível, é invariável e conseqüente consigo mesmo. Como todo fenômeno
natural, também o homem deveria aparecer sempre igual a si mesmo e não ter necessidade
de formar artificialmente seu caráter por força de experiência e reflexão. Não é isto, porém,
o que sucede. O homem, ainda que sempre permaneça idêntico, nem sempre se entende
a si mesmo. Muitas vezes ele se desconhece até que alcance certo grau de conhecimento.
Querer e ambicionar são a essência do homem. Querer significa desejar, e o desejo
implica a ausência daquilo que se deseja. Desejo é privação, deficiência, indigência e,
conseqüentemente, dor. A vida parece lançada num esforço incessante de afastar a dor,
esforço que se mostra vão no preciso momento em que chega ao seu termo. Com a
satisfação do desejo e da necessidade surge um novo desejo e uma nova necessidade. A
satisfação jamais será definitiva e positiva. O prazer é a cessação da dor e tem, portanto,
um caráter negativo e transitório. Na falta de objetos a desejar, quando uma satisfação
facilmente chega, apodera-se do homem um vazio espantoso, o tédio, que ainda é mais
insuportável que a dor.
Quando satisfizer todas as suas aspirações, sente um vazio aterrador, o tédio, quer
dizer, em outros termos, que a existência se converte numa carga insuportável. A
vida oscila, como um pêndulo, constantemente entre dor e tédio, que são, na
realidade, seus elementos constitutivos (SCHOPENHAUER, 1974, p.511).
A vida de todo homem é uma história de todos. De forma geral, cada existência é
uma série contínua de desgraças, que cada um tenta ocultar da melhor maneira possível,
por que sabe que os outros não se interessam ou lastimam, mas, ao contrário, geralmente
sentem satisfação ante o relato das dores das quais estão livres naquele momento.
Se fizéssemos com que o mais obstinado dos otimistas visitasse hospitais,
lazarentos, cárceres, senzalas, câmaras de tortura, campos de batalha; se o
fizéssemos penetrar em todos os sombrios redutos de miséria, acabaria por
entender qual a natureza deste mundo (SCHOPENHAUER, 1974, p.555).
42
PONCHIROLLI, Osmar. Uma reflexão antropológica da violência...
Para Schopenhauer (1974), a história é um manifestar-se da incansável vontade
de viver, que repete sempre a mesma tragédia ou comédia, ainda que mudem os
personagens. A negação da vontade de viver sobrevém quando o conhecimento aniquila
a vontade, porque então os fenômenos da percepção não agem mais como estímulos
sobre a vontade; pelo contrário, na concepção das idéias que refletem a essência do
mundo, encontra um calmante, um aquietador, que a serena e a impulsiona a anular-se
a si mesma, espontaneamente.
Isto acontece apenas através de outras atividades próprias do homem, que são
gradativamente liberativas: a arte, a justiça e a compaixão. No último capítulo busca-se,
como conclusão, explicitar essas atividades liberativas como forma de entender a violência,
tendo como base a antropologia filosófica de Schopenhauer, apontando-as como vias
de suspensão da violência.
A partir do pensamento filosófico de Schopenhauer, pode-se apontar, mesmo
que precariamente, algumas vias para a suspensão da violência. Num primeiro momento,
temos a contemplação artística. A contemplação desinteressada das idéias seria um ato
de intuição artística e permitiria a contemplação da vontade em si mesma, o que, por
sua vez, conduziria ao domínio da própria vontade. Na arte, a relação entre vontade e a
representação inverte-se, a inteligência passa à posição superior e assiste à história de
sua própria vontade; em outros termos, a inteligência deixa de ser atriz para ser
espectadora. A atividade artística revelaria as idéias eternas através de diversos graus,
passando sucessivamente pela arquitetura, escultura, pintura, poesia lírica, poesia trágica
e finalmente pela música.
Em Schopenhauer, pela primeira vez na história da filosofia, a música ocupa o primeiro
lugar entre todas as artes. Liberta de toda a referência específica aos diversos objetos da
vontade, a música poderia exprimir a vontade em sua essência geral e indiferenciada,
constituindo um meio capaz de propor a libertação do homem, face aos diferentes aspectos
assumidos pela vontade, dentre os quais a violência. Constitui o elemento do artista, o
lado puramente cognoscível do mundo e a reprodução do mesmo numa arte. O artista é
cativado pela contemplação do espetáculo da vontade em sua objetivação.
O homem comum é capaz de elevar-se à contemplação, ainda que sem gênio,
caso contrário ele não apreciaria as obras de arte. A diferença que existe entre ele e o
homem de gênio é que o segundo, possuindo em grau muito maior esta capacidade de
contemplação, consegue reproduzir, numa obra arbitrária, o assim conhecido, reprodução
que é a obra de arte. Para Schopenhauer (1980, p.23), é a arte, a obra do gênio. Enquanto
para o homem comum sua faculdade de conhecer é a lanterna que ilumina seu caminho,
para o homem de gênio é o sol que revela o mundo. A música, que às vezes eleva nosso
espírito a tal altura que parece nos transportar a outros mundos, nada mais faz do que
alargar nossa vontade de viver.
A música vai além das idéias, é completamente independente do mundo fenomenal.
A música fala do ser. Ela é uma objetivação, uma cópia tão imediata de toda a vontade
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.43-45, jul./dez. 2008
43
artigos
Considerações Finais
como é o mundo, como o são as próprias idéias. Cultivar a arte é uma forma de entender
a superação da violência. Necessita-se da arte para consolidar o processo de humanização
do homem. Mais importante que prevenir a violência é entendê-la filosoficamente.
Fica o desafio para as políticas públicas na contemporaneidade de investir nas
artes como forma de tornar o homem mais humano, mais próximo de si. A supressão da
violência pode se tornar realidade a partir de uma educação integral do ser humano,
onde a arte não é ignorada. A injustiça é a condição da vontade de viver, dividida e
discordante, que existe no diversos indivíduos. Para ela, só existe um remédio: o
conhecimento da vontade como unidade fundamental em todos os seres e,
conseqüentemente, o reconhecimento dos outros, por sua vez, como sujeitos.
O homem mau não é apenas o que atormenta, mas é também o atormentado. O
que faz com que ele se sinta separado dos outros ou da dor nada mais é que o produto
de um sonho ilusório. É a obscura consciência da unidade da vontade, que existe em
todos os homens, o que provoca o aparecimento do remorso e da angústia junto com a
maldade. Toda maldade é injustiça, é o desconhecimento dessa unidade. Toda bondade
é justiça, é conhecimento da vontade una, da ilusória multiplicidade resultante do princípio
da individuação.
A justiça é o primeiro grau de reconhecimento. Em relação à violência, observamse diversas crises na sociedade: crise na família, crise na relação de gênero, crise urbana,
crise dos direitos humanos, crise social e crise na justiça criminal. Porém, a maior crise, é
a crise da falta de conhecimento da vontade como unidade fundamental em todos os
seres e, conseqüentemente, do reconhecimento dos outros, por sua vez, como sujeitos.
O resgate de uma teoria da justiça na contemporaneidade é essencial para uma séria
discussão sobre a violência na contemporaneidade.
Outra via de superação da violência é o amor. O amor, cuja origem está no
conhecimento, e que vai além do princípio de individuação, conduz à redenção, ao
abandono completo da vontade de viver, ou seja, de toda volição em geral. O que nos
leva a realizar boas ações e obras de caridade é o conhecimento da dor alheia, nascido
de nossa própria experiência e considerado como nosso. Por isso, o amor puro (caritas)
é por natureza piedade e é indiferente qual a dor que mitiga, já que entendemos como
dor toda necessidade ou aspiração não satisfeita. Todo verdadeiro amor é piedade e
todo amor que não é piedade é egoísmo. A compaixão é o sentimento ético fundamental.
Sem ética, a sociedade continua mergulhada na violência. Entender a violência é entender
o significado da ética para a humanidade.
O pensamento de Schopenhauer se apresenta como um grande sistema metafísico.
A intenção do artigo foi fazer uma aproximação da obra O mundo como vontade de
representação e propor uma reflexão antropológica da violência a partir das atividades
liberativas. Esta reflexão, embora precária, constitui-se num projeto aberto para novas
reflexões. Portanto, o entendimento das atividades liberativas, apresentadas por
Schopenhauer, é uma das formas de suspensão da violência, tendo como base a
antropologia filosófica.
44
PONCHIROLLI, Osmar. Uma reflexão antropológica da violência...
Referências
ABBAGNANO, Nicola. Storia della filosofia
filosofia. Tradução de: Armando da Silva Carvalho.
Lisboa: Editorial Presença, 1980.
men Tradução de: Vivente Felix de Queiroz. São Paulo:
CASSIRER, Ernest. An essay on men.
Mestre Jou, 1982.
crime Nova York: The National Criminal Justice
DONZINGER, S. (ed.). The real war on crime.
Commission, 1996.
GURR, T. R. Violence in american: the history of crime (violence, cooperation, peace).
Series, v.I. Newbury Park: Sage Publications, 1989. 2v.
International Series
MANN, Tomas. O pensamento vivo de Schopenhauer
Schopenhauer. São Paulo: Martins, 1980.
MARIAS, Julian, La Filosofia en sus textos
textos. Barcelona: Labor, 1960.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação
representação. Tradução de: Eduardo
Ovejero y Maury. Buenos Aires: El Ateneo, 1980.
artigos
SCHOPENHAUER, Arthur. Obras completas
completas. Tradução Port. de: Wolgang Leo Maar. São
Paulo: Abril, 1974.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.45-45, jul./dez. 2008
45
Reflexões sobre a Obra de Arte - uma
análise do texto ““A
A Origem da Obra
de Arte” de Martin Heidegger
Reflections about the W
ork of
Work
art - an analysis of the text “The
Origins of the W
orks of Art” by
Works
Martin Heidegger
Solange Aparecida de Campos Costa*
Resumo
Esse artigo examina a questão da proveniência da arte, tendo por
base o texto de Heidegger: “A origem da obra de arte”. Essa
abordagem reflete os questionamentos que norteiam a disciplina
de filosofia da arte, ou seja, o que o texto pretende é tratar de
questões fundamentais sobre o nascimento da obra de arte e de
como a filosofia se coloca no horizonte dessa experiência. O
objetivo das questões tratadas neste artigo é possibilitar uma
discussão inicial sobre o tema que permita o estudo acadêmico
da estética ou filosofia da arte.
Palavras-chave
alavras-chave: obra de arte; origem; mundo; terra; verdade.
Abstract
This article investigates the issue of the origins of art, having as a
basis the text by Heidegger: “The origins of the works of art”. This
investigation reflects the questionings that guide Philosophy of
Art, in other words, the text aims to deal with fundamental issues
about the birth of the work of art and how philosophy is placed
in the horizon of this experience. The objectives of the questions
addressed in this article is to allow for a initial discussion about
this theme that is conducive of the academic study of aesthetics
or the philosophy of art.
Key W
ords
Words
ords: work of art; origin; world; Earth; truth.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.47-57, jul./dez. 2008
artigos
* Graduação em Filosofia pela
Universidade Federal do Paraná
(1999) e Mestrado em Letras pela
Universidade Federal do Paraná
(2007). Trabalha na área da
educação desde 1998 e no ensino
Superior desde 2002. Atualmente é
professora titular do curso de
filosofia da FAE - Centro Universitário
Franciscano e do Instituto Radial de
Ensino e Pesquisa. Tem experiência
na área de Filosofia, com ênfase em
Filosofia Alemã.
47
Primeiras questões
Este artigo emerge da tentativa de indagar sobre o que ocorre no processo de
criação para que a obra de arte surja. Para tanto, recorreu-se à análise de A origem da
obra de arte, de Martin Heidegger.
As questões que se pretendem desenvolver são: como nasce e para que aponta a
arte? O que se mostra através da arte? Qual a relação da vida e da obra de arte? Por que é
fundamental para o homem se indagar sobre isso?
Para pôr-se no horizonte de tais questões far-se-á o seguinte percurso:
-
A obra e a origem: Como nasce a obra de arte? A primeira questão ao abordar
a obra é a pergunta pelo seu fundamento: o que faz a obra ser obra? Ou seja,
indaga-se pela sua proveniência, por aquilo que torna a obra tal como ela é.
Assim, a discussão sobre a obra de arte deve fundar-se na pergunta pela origem.
Para entender o que emerge no ato de procriação artística é necessário antes
revelar o que fornece à obra o seu caráter de obra, abordar em que medida a
origem está vinculada à obra, e como esta pode manifestá-la.
-
Obra de arte e realidade. Mundo e terra: O que se mostra através da arte?
Tendo anteriormente perguntado pela origem, isto é, desvelado o cerne da
obra, pode-se então investigar para o que a obra de arte aponta. Portanto
buscar-se-á inquirir, neste item, sobre o que visa a obra de arte, examinando a
relação entre o que ela manifesta e a realidade – o que a obra de arte permite
revelar, e qual a relação entre o que ela revela e a efetividade. A partir dessas
questões, descobre-se que a obra abre um mundo e produz terra. Nesse ponto
será trabalhado em que sentido aparecem mundo e terra na obra e qual a sua
relação com o acontecer do real.
Obra de arte: desocultação e ocultação: A obra indica, manifesta algo que
não está imediatamente visível. Ela é via de acesso para a desocultação de
mundo e terra. Nessa tarefa de desvelamento ela também assume a ocultação
como necessária à própria existência. Como ocorre a desocultação, por que a
arte assume essa tarefa, e de que forma ela também pode ser ocultação são as
principais questões a serem trabalhadas nesse tópico.
Faz-se necessário explicitar, ainda, que este artigo não pretende responder
completamente todas as questões propostas, mas apontar a relevância de se trabalhar
com tais questões. O esforço é por tornar inteligível a indispensável tarefa de pensar a
arte. A indagação fundamental que deriva de todas as questões acima propostas e,
portanto, permeia este artigo enquanto reflexão sobre a obra é: se a obra de arte mostra
algo que tem vínculo com a realidade e, assim, de certa forma, chama a atenção para a
essência do real; como acontece a manifestação desta pela obra; e por que este é um
modo privilegiado de sua aparição.
-
48
COSTA, Solange A. de Campos. Reflexões sobre a obra de arte...
A obra de arte e a origem
1
Lembremos o pensamento platônico. Nos diálogos, todas as indagações procuram a essência. Busca-se a virtude, a
coragem, o belo em si mesmos, e não suas características. A pergunta platônica aspira a desvelar a origem, a promover
a revelação do ser sendo, que garante a identidade das coisas. Tenta ver o que é a virtude que está na atitude virtuosa,
mas que não se limita a apenas uma propriedade. A ação virtuosa só é possível porque se determina desde a virtude
como essência. Exemplifiquemos: No diálogo Teeteto, Sócrates pergunta a Teeteto o que é conhecimento (146 c), e
este lhe responde que o conhecimento é a geometria, o artesanato e todas as demais artes. Essas artes têm como
origem o conhecimento; no entanto, não são o conhecimento em si mesmo. O conhecimento perpassa cada uma
delas, mas não podemos limitá-lo a uma arte. De outro modo: é pelo conhecimento que o sapateiro faz os sapatos,
mas o conhecimento não está somente no fazer sapatos do sapateiro, nem na capacidade de cálculo do geômetra,
e por isso dizer que o conhecimento se resume a essas artes não responde a pergunta. As artes são modos que o
conhecimento toma para se manifestar, vias de acesso para sua presença, mas não são o conhecimento enquanto tal.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.49-57, jul./dez. 2008
49
artigos
Para alcançar o que a obra de arte é, ou seja, o que acontece na obra, um caminho
fundamental baseia-se na pergunta pela origem. Ao indagar-se pela obra, em verdade,
busca-se sua origem, ou seja, o que garante à obra sua existência enquanto tal. Entretanto,
origem não é aqui tomada como ponto de partida, como início que permanece em um
passado longínquo, mas como fundamento, aquilo que fornece às coisas sua identidade,
a unidade essencial que impulsiona sua existência. Quando dizemos que a janela é, a
origem da janela constitui-se como o “é”, o que a torna janela e não outra coisa. Assim,
assegura-se por ela a identidade da coisa consigo mesma. Essa unidade que revela à coisa
sua força própria, Heidegger denomina essência. “Origem significa aqui aquilo a partir do
qual e através do qual uma coisa é o que é, e como é. Ao que uma coisa é como é,
chamamos a sua essência. A origem de algo é a proveniência da sua essência” (HEIDEGGER,
1999, p.11). A essência é o instante que inaugura a abertura da realidade e que a permeia.
A unidade fundamental do existente (origem), a essência como movimento de virà-existência, os gregos denominavam hypokeímenon. O hypokeímenon enquanto
totalidade se resguarda, não aparece completamente, mas é o alicerce de todo o aparecer,
é a essência que projeta o que se mostra na realidade. Portanto, ele se faz como o ser da
coisa, a ação de ser e vir-a-ser o que se é. No entanto, o que aparece é desde o já revelado
e conhecido, o hypokeímenon só é acessível pelo seu aparecimento em um ente
determinado. A origem só se mostra nas coisas, ou seja, embora o fundamento em sua
totalidade que permite essa revelação nos escape, sua presença se faz visível1.
O ser do ente, o hypokeímenon, foi traduzido pelos romanos por subjectum. A
partir dessa tradução, o modo de compreensão grego se perdeu. Entende-se, a partir de
então, substância como algo velado por detrás das aparências. A tarefa do homem, dentro
dessa compreensão, seria atingir a substância; ele alcançaria o auge da sua existência
encontrando o substrato sobre o qual repousa toda a realidade. A essência, assim, se torna
o objetivo, a meta a ser atingida pelo homem e não mais a origem que projeta e governa
a realidade. Por esse caminho, abandonamos a experiência grega da essência como origem.
Uma outra compreensão distorcida da origem é a que a define como um princípio
gerador limitado ao tempo. Desse modo, afirma-se que ela é semente originária, causa
que principia um processo e não mais se vincula a ele. No entanto, faz-se necessário
perceber que, a origem não está apenas no início, mas em todo o acontecer da obra, ela
não é algo que já se perdeu em um começo preso ao pretérito, mas o acontecer que
salva a obra do esquecimento (que é a verdadeira perda). A origem constitui-se como o
movimento que torna a obra obra. “A pergunta pela origem da obra de arte indaga a sua
proveniência essencial” (HEIDEGGER, 1999, p.11). A essência da obra de arte se mostra
no ser obra da obra, ou seja, pelo movimento através do qual ela se torna obra de arte.
A arte é a origem da obra e do artista, por meio dela eles afirmam sua existência.
Dessa forma, é pela arte que artista e obra tornam-se possíveis. A arte traça, então, o
vínculo entre artista e obra; só na presença da arte é que a obra se manifesta, só sendo
tomado pela arte é que o artista cria.
Deparamo-nos, agora, com um paradoxo: perguntamos pela obra desde a sua
origem (essência) e chegamos à arte, que, por sua vez, só se manifesta na obra pois a
obra é a efetivação da arte. Achamo-nos em um círculo: de um lado parte-se da obra e
chega-se à arte, de outro, indaga-se pela arte e volta-se para a obra. Para não utilizarmos
esse círculo como pretexto para encerrarmos nossa reflexão, ao contrário, lancemo-nos
totalmente para o interior dessas questões; assim é possível conquistar o movimento do
círculo escavando a relação entre obra e arte, de forma a continuar o caminho para a
obra. Para isso faz-se necessário perguntar o que a obra nos revela a partir da origem e,
qual o vínculo entre a essência da obra e o real.
Obra de arte e realidade: mundo e terra
A pergunta pela origem da obra, feita no intuito de encontrar a sua essência, o
que garante à obra a existência enquanto tal se revela no acesso à arte, logo, a arte se
mostrou como núcleo originário da obra. Ambas mantêm entre si um vínculo fundamental,
mas esse vínculo por si só não nos permite sua compreensão. Para buscar um
entendimento da obra, é preciso antes pôr-nos no horizonte do seu caminho, ou seja,
embrenhar-nos na via de acesso pela qual ela se mostra. Assim sendo, a primeira indagação
a se fazer é a seguinte: através do que a obra se patenteia para nós? Pela realidade, ou
seja, é no movimento de vir-à-luz, de existir, ao qual todos pertencemos, que a arte se
manifesta. Cabe-nos, então, a tarefa de buscar a compreensão da obra a partir de suas
relações com a realidade. E assim, ao mesmo tempo, poderemos avistar a sua essência.
O caminho da pergunta pela origem da obra converte-se na indagação pelo aparecer da
obra na realidade. Tendo em vista que a obra se insere no âmbito do real, se funda nele,
perguntemos primeiramente o que ela expõe no seu aparecer. O que os quadros, a
poesia, a escultura, enquanto obras de arte querem mostrar? O que há neles para que os
designemos por obras? Para pôr-nos no sentido da indagação, será útil pensarmos a
partir de uma obra propriamente dita.
50
COSTA, Solange A. de Campos. Reflexões sobre a obra de arte...
2
Nietzsche, na obra O nascimento da tragédia, ao abordar a lírica grega, afirma que ela é poesia na medida em que
não parte de um subjetivismo, ou seja, a lírica grega não trata do indivíduo, enquanto sujeito singular, mas toca o
núcleo que torna possível toda e qualquer individualidade, isto é, a essência enquanto fundamento do aparecer,
unidade que reúne os indivíduos. O poeta lança mão de sua individualidade para imergir no ser, fazendo de si
caminho e meio para atingir o “verdadeiramente existente (Seiende)”. O poeta lírico é poeta porque através dele a
essência, o ser sendo, se patenteia. Esse núcleo que o artista deixa aflorar através da obra (neste caso a poesia lírica),
Nietzsche chama de Ichheit (eudade). “O gênio lírico precisa dizer ‘eu’: só que essa ‘eudade’ não é a mesma que a do
homem empírico real, desperto, mas sim a única ‘eudade’ verdadeiramente existente e eterna, em repouso no fundo
das coisas, mediante cujas imagens refletidas o gênio lírico penetra com o olhar até o cerne do ser” (NIETZSCHE, 1992,
p. 45). Da mesma forma que Nietzsche ao tratar da lírica grega, Heidegger apresenta uma compreensão de arte que
transcende o objeto e o indivíduo, aliás é a própria arte que fundamenta a existência deles. A arte atinge a “essência
geral das coisas” que é o que permite o nascimento do indivíduo, do “ente singular”.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.51-57, jul./dez. 2008
51
artigos
Concorda-se que a obra nos remete a algo, nos oferece algo. Esse “algo” é a própria
realidade, pois a obra se faz como abertura para que a realidade se evidencie. Esse “mostrar”
ultrapassa o modo corriqueiro de observar o real, como algo parado e estático, inserindose no próprio movimento de acontecer do real.
Heidegger, para mostrar a obra como abertura para a realidade, se utiliza do
exemplo de um quadro de Van Gogh que permite ver os sapatos de uma camponesa.
Empreguemos o mesmo exemplo; o quadro de Van Gogh como obra não é tão-somente
o artefato, ou o adorno, que se pendura na parede (se bem que pode ser tomado, por
um longo tempo, sendo isso o que não desmerece nem apaga seu caráter de obra – na
medida em que o instrumento é um dos modos possíveis como a obra pode aparecer,
mas não aponta para a obra enquanto tal – nem é este modo que nos propomos a
investigar, perguntando pelo que faz a obra ser obra). O quadro de Van Gogh, ao mostrar
os sapatos da camponesa, torna visível o mundo da camponesa. Aqueles sapatos gastos
presentes no quadro trazem consigo a presença da própria lavoura, do peso do trabalho
árduo, da manhã que se inicia no caminho para o campo, do suor da lida, do sol quente
no verão, do inverno rigoroso etc. Pelo quadro que exibe apenas um par de sapatos
velhos faz-se conhecer todo o mundo ao qual ele pertence. A obra constitui-se como
abertura para o ente, como janela que deixa ver o que na cotidianidade se vela. O par de
sapatos contido na obra torna patente o lugar de onde ele recebe sua existência, e esse
lugar só é visível pela obra. No entanto, se o par de sapatos se referir apenas a um objeto
individual, se ele aparecer somente como aquele par de sapatos dado, então, o quadro
abandonará o seu caráter de obra, pois não abrirá para nada além do instrumento. Ele
só se constitui enquanto obra pelo abrir-se da essência do ser-sapato, que remete ao
mundo da camponesa. “Na obra, não é de uma reprodução do ente singular, que cada
vez está aí presente, que se trata, mas sim da reprodução da essência geral das coisas”
(HEIDEGGER, 1999, p.28)2.
Essa abertura que a obra propicia é o lugar próprio da revelação do ente. Utilizemos
outro exemplo heideggeriano que comprova a afirmação acima, tornando nítida também
a obra enquanto abertura para a realidade: o templo grego. Segundo Heidegger, os gregos
não viam o templo como obra de arte, o viam como presença do Sagrado, como lugar da
divindade que os governava e fortificava. Através do templo, eles se viam a si mesmos,
porque ali existia um sentido próprio que lhes falava. O templo, no seu estar ali, trazia
consigo o deus. Assim, ele é obra na medida em que revela através de si um sentido
historial (geschichtlich), desde sua origem: o lugar do sagrado3. Por expor ao homem a
presença do deus e tornar visível (a si mesmo) o seu lugar, o templo se faz obra e, no seu
fazer-se obra ilumina tudo que congrega o seu existir (isto é, mundo). Assim o templo
deixa ver o vento que passa por suas colunas, dá dimensão às colunas que o circunda e faz
aparecer toda a paisagem que o cerca e a que pertence. O templo enquanto obra não está,
portanto, somente na figura arquitetônica que lhe dá contorno, mas no mundo que o
rodeia e que através dele se exibe. Assim, ele não se resume ao amontoado de pedras que
o compõe; antes utiliza a pedra para se erguer e como tal faz a pedra ser pedra.
O templo, ao mesmo tempo em que torna visível o emergir do mundo que o
cerca, conferindo-lhe sentido (a presença do sagrado), também oferece ao homem o seu
lugar. O mundo aberto pela obra mostra ao homem sua tarefa. Isto é, assim como o
templo faz ver o azul do céu, a montanha, o vento, e traz consigo o advento do deus, ele
também concede ao homem a descoberta do seu próprio. Portanto, o templo como
obra permite ao homem ver a realidade e reconhecer o seu lugar próprio na essência do
real. “O templo no seu estar-aí (dastehen) concede primeiro às coisas o seu rosto e aos
homens a vista de si mesmos” (HEIDEGGER, 1999, p.33).
O fazer vir à luz próprio da obra de arte é um modo de ser da physis, e o que assim
aparece é o mundo. A terra dá-se como lugar (khóra) que abriga o que a obra ilumina. A
obra, quer como o quadro da camponesa, quer como templo grego, evidencia um mundo
e o depõe sobre a terra. Mundo e terra abrem e resguardam o ser-obra da obra. Mas
antes de abordar o que mundo e terra expõem, busquemos qual o sentido deles na
constituição da obra de arte.
A obra instala um mundo, isto é, ela faz-se como clareira aberta para o advento do
ente. Então, o mundo não é um objeto que pode ser tomado a priori, mas se realiza, somente,
no caminho pelo qual os entes se desvelam, ele se constitui na ação de tornar visíveis os
entes. A obra consagra um mundo, isto é, põe a tarefa do homem em seu horizonte, o
defronta com seu destino. E, no erigir um mundo, ela mostra ao homem as coisas em sua
gênese própria. Desse modo, o mundo oferece ao homem a abertura do ente, isto é, a
possibilidade de ser si mesmo, de pôr-se a caminho do próprio, da origem. Nesse caminho as
coisas aparecem desde uma abertura do fundamento. Por exemplo: no quadro dos sapatos
da camponesa, o mundo é o que o sapato permite ver, mas não se resume ao sapato,
3
Da mesma forma que o templo é o lugar onde o deus advém, as estátuas dos deuses não apenas lembram o divino, mas
o manifestam. Não são meras representações erigidas com o intuito de lembrá-los, mas são a sua própria existência. A
estátua evoca o deus à presença; nela o deus advém. Semelhantemente, o mito não se constitui como simples história,
uma fábula cristalizada no tempo, mas torna vivenciável o que conta. Quando conta-se um mito, no dizer se erige,
renasce o que se está falando, isto é, no aberto da arte advém o que ela indica pela reprodução do seu surgimento.
52
COSTA, Solange A. de Campos. Reflexões sobre a obra de arte...
4
A questão da relação entre terra e mundo converte-se na pergunta fundamental da filosofia, a da diferença ontológica
(ser e ente) que aparece em Heidegger de forma especial em Ser e tempo. A história da filosofia se debruça sobre essa
relação, pois ela promove a realidade. Em Nietzsche, em O nascimento da tragédia, a “diferença ontológica” aparece
no vínculo entre impulso apolíneo e dionisíaco, é da relação conflituosa essencial entre eles que a realidade vem à luz.
Na verdade, pode-se observar que, tanto como mundo e terra, o apolíneo e o dionisíaco não falam de duas coisas
completamente diversas, mas advêm de uma unidade; o apolíneo só é no e pelo dionisíaco. Assim como o ser só
aparece no e pelo ente. “Todo ente é no ser” (HEIDEGGER, 1979, p.17).
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.53-57, jul./dez. 2008
53
artigos
embora garanta a ele seu lugar enquanto tal; o trabalho na lavoura, o suor do cansaço, o
caminho para o campo... é o mundo que os sapatos fazem visível. No entanto esse mundo
não é algo pronto para o qual a obra aponta, mas é somente com o erigir-se dele que a obra
faz ver os sapatos da camponesa no mundo da camponesa. Logo, a obra mostra o trabalho
da camponesa em seu acontecer, junto com seu cansaço, com o sol quente, com a paisagem
que a cerca. Ao erigir-se a obra, tudo o que faz parte do mundo no qual os sapatos da
camponesa têm sentido aparece desde o seu movimento próprio de vir à luz. Em outros
termos, a obra instala um mundo; ou seja, no quadro a tinta é cor, no templo a pedra se
“pedrifica”, na poesia a palavra conquista o dizer. O mundo é assim aquilo que deixa sobressair
a vocação para a qual se destina cada coisa na sua existência. “Mundo nunca é um objeto,
que está ante nós e que pode ser intuído. O mundo é o sempre inobjetal a que estamos
submetidos enquanto os caminhos de nascimento e da morte, da benção e da maldição nos
tiverem lançados no Ser” (HEIDEGGER, 1999, p.35).
Ao mesmo tempo em que a obra instala um mundo como via de acesso para o
ente, apontando o destino de cada coisa, ela resguarda o seu caráter de obra. O templo,
na abertura de um mundo deixa a pedra ser pedra, o quadro deixa a cor colorir, mas a obra
não se limita nem à cor, nem à pedra: ela se guarda na terra. Enquanto a obra funda a
possibilidade de deixar-ser através do mundo, ela também recolhe a obra da matéria e a
abriga na terra. Portanto, a terra se constitui como plena possibilidade do ente, como
lugar do ente na totalidade. Assim, a terra resguarda a totalidade do ser-obra da obra. Ela
se faz como aquele limite que não se ultrapassa, o que não aparece; a terra constitui o
mistério do ente na totalidade que permanece imperscrutável. Por exemplo: observando o
sol, sente-se o calor que ele produz, vê-se a claridade que dele emana; sabe-se que ele
ilumina, mas o “iluminar” não se faz apreensível, continua impenetrável repousando num
mistério. Esse fechar-se, ocultar-se, é próprio da terra, na medida em que ela resguarda a
totalidade do ente deixando aparecer no aberto do mundo o ente como algo determinado4.
O resguardar próprio da terra não é uma privação, ou seja, a terra não oculta algo que
pode vir a ser desvendado, mas deixa o mundo ser num modo de ser posto pelo
recolhimento. Assim, o fechar-se da terra é um modo de proporcionar um caráter sempre
renovado da obra, e sempre de novo fazer renascer o mundo.
Ao produzir terra, a obra deixa algo ser para o recolhimento de todas as suas
possibilidades. Assim, a obra, na terra, mantém o que se presentifica com a própria
ocultação, ao modo do recolhimento – o sol continua a iluminar, ainda que esse iluminar
não se torne apreensível, pois o iluminar só é possível no seu retirar-se à compreensão.
Afirmou-se anteriormente que mundo e terra se originam, de um modo privilegiado,
na obra de arte. A obra instala um mundo, que, ao mesmo tempo em que resguarda,
produz terra. Como essa relação ocorre? Como o abrir-se de um mundo se vincula com
o recolhimento que a terra promove? Esses dois modos de ser da obra não se destroem
pela sua oposição aparente?
Ainda que mundo e terra mantenham uma oposição fundamental, um como
abertura, a outra como recolhimento, é essa contraposição que garante a sua existência
recíproca. Mundo e terra são diferentes, mas se mantêm pela harmonia que criam em
obra. São opostos que guardam um vínculo originário. Assim sendo, essa relação advém
de um combate, pois um almeja sobrepujar o outro; o mundo como pura abertura não
admite a terra, embora tenha as raízes nela. A terra deseja fechar em si também o aberto
do mundo. Ambas sustentam o conflito que instiga a origem da obra. Há que se considerar
que um embate nem sempre acarreta um aniquilamento destruidor, o seu resultado nem
sempre são danos, pois dele pode emergir algo novo e do confronto de forças antagônicas
pode proceder algo criador. Neste caso, da luta entre mundo e terra provém a força da
auto-afirmação de cada um, dando vazão à obra de arte. Mundo e terra conservam uma
ligação necessária, pois pelo duelo que devém da sua relação, um leva o outro a conquistar
a força da sua autenticidade, isto é, no embate um impele o outro a ser si mesmo, a
ultrapassar tudo que impede a obtenção do seu próprio. Ver-se-á que são os momentos
de tensões que revelam com mais intensidade a essência; no calor da disputa, afirmamse a origem e o caráter próprio de cada um. Deste modo, terra e mundo, um se funda no
e pelo outro, e deste mútuo fundar-se advém a obra. A obra, ao instalar um mundo e
produzir terra, faz nascer o confronto entre eles; é ela que instaura esse entrave e nele
vige a essência da obra. “O ser-obra da obra consiste no disputar do combate entre
mundo e terra. [...] Na intimidade do combate é que a quietação da obra, em si mesma
repousando, tem a sua essência” (HEIDEGGER, 1999, p.39).
Abordamos até o momento o fundamento ontológico da obra, o combate entre
mundo e terra. Antes dissemos que a obra aponta para algo, fazendo ver a realidade.
Para isso, utilizamos os exemplos do quadro de Van Gogh e do templo grego; contudo,
o sentido da obra como abertura e deixar-ser não ficou completamente claro, pois é
necessário referir-se à obra também como um modo de desvelamento da verdade.
Obra de arte: ocultação e desocultação
Partindo do fundamento da obra, isto é, da relação entre mundo e terra, em que
medida a obra pode expor a verdade? Em outros termos: Pensada a partir de seu fundamento
ontológico (combate entre mundo e terra), em que sentido é possível dizer que a obra de
arte é verdadeira?
A verdade aparece aqui no sentido da essência, ou seja, a verdade do ente pertence
ao ser, aquele “é” que o sustenta. Então, a verdade se constitui como núcleo essencial a
partir do qual o ente é; nela se determina a possibilidade do real. “Em que consiste a
essência essencial de algo? Provavelmente consiste naquilo que o ente é na verdade. A
essência verdadeira de uma coisa define-se a partir de seu ser verdadeiro, a partir da
verdade do respectivo ente” (HEIDEGGER, 1999, p.40).
54
COSTA, Solange A. de Campos. Reflexões sobre a obra de arte...
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.55-57, jul./dez. 2008
55
artigos
Ao dispor-se no aberto, a obra de arte faz visível a origem, ou seja, a essência do
seu existir. Ela deixa ver a origem. No entanto, nesse mesmo processo, a obra torna
patente o ente enquanto mistério, isto é, ao mesmo tempo em que a obra assume a
tarefa de desocultação, ela traz à tona a ocultação do ente. Nesse sentido a verdade se
mostra como a exposição do ente no aberto, através do seu velamento e desvelamento.
Portanto, o velamento do ente é um modo de ser da verdade.
O ente na sua totalidade é ser, que só se faz visível através de uma forma determinada.
Assim, o ser só se revela no ente, que, por sua vez, é ao mesmo tempo encobrimento. “O
desvelamento do ente enquanto tal é, ao mesmo tempo e em si mesmo, a dissimulação do
ente em sua totalidade” (HEIDEGGER, 1999, p.143). O ente só é ente na medida em que se
expõe na clareira e, ao mesmo tempo, se vela, recusa um aparecimento total, vigora como
mistério. Toda sua possibilidade pertence ao prestar-se ao recolhimento. É preciso perceber,
portanto, que a ocultação do ente não se constitui como uma falta ou uma impossibilidade,
ao contrário – a ocultação não é o oposto –, mas um modo da própria efetivação da verdade.
Esse encobrimento do ente é não-verdade, mas não como algo que se contrapõe à verdade,
não se faz como falso, mas como aquilo que se realiza ao modo do mistério.
Todo o movimento do real está desde o início lançado nessa dupla possibilidade
do ente. Com isso, faz-se necessário compreender que o homem está desde sempre
dentro desse movimento de ocultação e desocultação da verdade, aliás sua própria
existência advém dessa relação.
Cabe ao homem, portanto, a tarefa de assumir a verdade do ente, de compreender
o mistério como possibilidade necessária, como caminho para a ação de ser. Assim, a
forma como o ente advém na clareira, quer velando-se, quer desvelando-se, faz ver o
ente enquanto tal. “A clareira em que o ente assoma é em si simultaneamente ocultação”
(HEIDEGGER, 1999, p.42). O ente só é acessível neste jogo no qual não há escassez ou
privação, mas apenas a manifestação da verdade (que pode ser sob a face da nãoverdade – a não-verdade é a verdade existindo desde outra forma de ser). Ao ocultar-se,
o ente também se presentifica pelo movimento que garante existência à realidade na
qual ele emerge. Por conseguinte, seu aparecimento dá-se constantemente, aliás toda
manifestação da realidade é um modo como o ente advém na clareira. No entanto,
assumir o destino do homem como possibilidade de ser no encoberto causa espanto.
Entregar-se a essa tarefa requer esforço. Por isso, fazem-se necessárias a arte e a filosofia
como modos de aparecimento da verdade, que chamam o homem à sua tarefa, desvelam
sua origem, impõem-lhe seu destino. Assim sendo, a obra de arte é um modo de como
o ente advém na clareira; ela aponta o aparecer do ente.
Retomemos as questões anteriores: como o ente se expõe no aberto? O que
constitui o aberto?
O aberto é a clareira criada pelo embate fundamental entre mundo e terra. Essa
disputa ocorre permanentemente; é ela que dispõe a realidade. Essa relação de combate
entre mundo e terra põe em movimento a vida como enraizamento ontológico da finitude.
Então, através da clareira, a verdade do ente se patenteia como desocultação e ocultação,
como desvelamento e velamento. A verdade se expõe (dispõe) ao homem de alguns
modos especiais como, por exemplo, pela filosofia e a arte. O confronto entre mundo e
terra faz emergir a realidade, o seu embate coloca o mundo em movimento, abrindo o
ente na clareira e, do aberto disposto pelo entrave fundamental entre mundo e terra,
advém a verdade (enquanto aparecimento e encobrimento). Um modo pelo qual a verdade
surge na clareira é a arte.
A terra só irrompe através do mundo, o mundo só se funda na terra, na medida em
que a verdade acontece como combate original entre clareira e ocultação. Mas como
é que a verdade acontece? Respondemos: acontece em raros modos essenciais. Um
dos modos como a verdade acontece é o ser-obra da obra. Ao instituir um mundo
e produzir terra, a obra é o travar desse combate no qual se disputa a desocultação
do ente na sua totalidade, a verdade (HEIDEGGER, 1999, p.44).
A arte se constitui, então, como um modo pelo qual a verdade surge, ou seja, a
verdade toma a arte como meio de instauração de si. Assim, a origem da obra, a sua essência,
é a revelação da verdade. Em outros termos; a arte é um modo de ser desde a clareira que
mostra a verdade do ente no seu movimento de ser, emerge como uma forma que o advento
da verdade assume. Ela faz-se como caminho que promove a abertura do ente em sua
totalidade, possibilitando um acesso especial, privilegiado, para a existência fática.
Por ser um modo privilegiado de pôr o homem em relação com a verdade da
origem, mostra-se imprescindível buscar compreender a arte no seu acontecer. Esse artigo
buscou dispor aqui as questões relevantes que emergem ao se abordar esse tema. No
entanto, não objetivava solucionar inteiramente todas elas, mas indicar a importância de
sua abordagem e estudo.
56
COSTA, Solange A. de Campos. Reflexões sobre a obra de arte...
Referências
CORVEZ, M. La philosophie de Heidegger. Paris: PUF, 1961.
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1999.
HEIDEGGER, Martin. Arte y poesia. El Origen de la Obra de Arte. Trad. Samuel Ramos.
México: Fondo de Cultura Económica, 1985.
HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos filosóficos. Tradução de: Ernildo Stein.
São Paulo: Abril Cultural, 1979. Coleção Os Pensadores.
HEIDEGGER, Martin. Heráclito. Trad. Márcia de Sá Cavalcante Schuback. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 1998.
HEIDEGGER, Martin. Que é isto – a filosofia? São Paulo: Abril Cultural, 1979. Coleção
Os Pensadores.
HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
Coleção
Os Pensadores.
HEIDEGGER, Martin. Vier seminare. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1977.
LOWITH, Karl. Heidegger, pensador de un tiempo indigente. Madrid: Rialp, 1958.
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Tradução de: Jacob Guinsburg. São
Paulo: Companhia das Letras, 1992.
artigos
WAHL, J. Vers la fin de l’ontologie. Étude sur l’introduction dans la Methaphysique
par Heidegger. Paris: S.E.D.E.S, 1956.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.57-57, jul./dez. 2008
57
Trabalho e si mesmo. Reflexões a
partir de Heinrich Rombach
Work and yourself
yourself.. Reflections
stemming from Heinrich Rombach
Enio Paulo Giachini*
Resumo
Este artigo procura refletir sobre algumas indicações de H.
Rombach, relacionadas com o tema do trabalho e suas
implicações. Trabalho, para ele, não é uma mera atividade humana
como meio de produção e sustento, mas um processo de
confronto com as possibilidades exteriores de um si-mesmo; essas
possibilidades dizem respeito a cada um, representam o aguilhão
de embate e a chance de autoconcreção. Trabalho estrutural visa
sempre melhoramento do todo, elevação do si mesmo. Só nessa
concretização é possível dar-se autêntica alegria, que ele chama
de êxtase. Trabalho, enquanto estrutural, é um processo de
constante libertação, irrupção para novas possibilidades.
Palavras-chave
alavras-chave: trabalho; melhoramento; liberdade; êxtase;
concreção; si-mesmo; estrutura.
.
Abstract
Key W
ords
Words
ords: work; improvement; freedom; ecstasy; own-self.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.59-68, jul./dez. 2008
59
artigos
* Mestrado e doutoramento em
filosofia pelo IFCS-UFRJ. Filósofo e
pesquisador do Instituto de Filosofia
São Boaventura (IFSB) e do Instituto
Franciscano de Antropologia e
Humanidades (IFAN).
This article aims to reflect upon some indications of H. Rombach
related with work themes and its implications. Work, for
Rombach, is not a mere human activity as a means of production
and survival, but a confrontational process with the exterior
possibilities of a human being; and these possibilities are related
to each individual, they represent the battle and the possibilities
of self-realization. Structural works always seek the improvement
of the whole, self-elevation. Only in this concretization it is
possible to have true happiness, that the author calls ecstasy.
Work, while structural, is a process of continuous liberation,
movement towards new possibilities.
Introdução
Concebe-se, de pronto, trabalho como processo de produção e transformação de
bens. Trabalho é meio para a produção. O trabalho resulta em produtos.
Assim é concebido em nosso mundo usual. Sua importância e o interesse nele estão
focados num de seus elementos, no produto. “Aquilo que visas como fim em tua obra, isso
é a obra.” E uma vez que o interesse está fixo ali, o trabalho é ainda apenas tolerado como
um mal necessário em vista de um bem necessário. O trabalho é assim comércio de troca.
Todo o esforço da técnica moderna em buscar substituir o empenho do trabalho humano
por máquinas, mesmo sob a fachada de “melhoramento” das condições gerais de vida, não
passa de uma corporificação dessa tolerância. A tolerância do trabalho se torna máquina.
Hoje, quando tentamos argumentar contra essa concepção, dizendo que o trabalho
humano implica igualmente um “trabalhar-se”, parece não fazermos outra coisa que
incluir mais um produto na lista dos bens gerados pelo trabalho: a idéia de pessoa
humana perfeita.
Vamos sondar essas nossas idéias usuais em confronto com algumas indicações de
pensamento de Rombach (Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit. Freiburg/
Munique: Karl Alber, 1971, p.245-262). Rombach diz que “o fenômeno do trabalho é o projeto
de exterioridade da estrutura”1. Definição estranha. Vamos ficar de olho, sondando a ver se
surpreendemos a direção de indicação dessas palavras: exterioridade, estrutura, trabalho.
De outro lugar, ele apresenta um outro indicativo do mesmo: “Trabalho significa que
uma multiplicidade de significações é trazida para o nexo de uma sucessão, e quiçá de tal
modo que o processo se estabelece e se firma em seu próprio desempenho”. Logo, o “produto”
do trabalho não passa de um dos membros dessa corrente sucessória, visto que o produto
dos produtos é a estrutura ou o próprio processo do trabalho. Todos os produtos e todos os
momentos do trabalho são apenas intermediários, em vista do próprio desempenho da
estrutura. O desempenho dos momentos do trabalho é a exterioridade da estrutura.
Se bem compreendemos o texto, a exterioridade tem a ver com condições prévias
do trabalho. Exterior, porque não é interior. Há portanto um interior e um exterior da
estrutura. A estrutura projeta-se para um exterior, como que para reunir as condições de
sua própria existência. Reunir essas condições possibilita seu existir. Seu existir é o subsumir
(Aufarbeitung) essas condições de existência. O exterior é o estranho. O interior é o
“intranho”. Não há intranho sem embate e sub-com-sumação do estranho. Mas o que se
constitui em estranho para a estrutura e tarefa do trabalho, e que pertence ao “intranho”,
possui sua estranheza do dado prévio, que deve ser transformado em dado próprio,
1
Uma estrutura pode manifestar-se como um estado, uma pessoa, uma comunidade, uma ciência ou seja o que for. É
tudo que se organiza com vida própria e pode desenvolver um processo de melhoramento. Na definição de Rombach,
“estrutura caracteriza-se pela autogênese, pela auto-edificação, que possui sua irrupção, sua auto-estruturação exstática,
seu ponto alto e seu declínio. Chamamos a esse processo de ‘vida’, não é porém só a forma de acontecimento dos
elt als lebendige Struktur
‘seres vivos’, mas o ‘ente’ no seu todo” (ROMBACH, H. Die W
Welt
Struktur. Probleme und Lösungen der
Strukturontologie. Freiburg in Breisgrau: Rombach Verlag, 2003, p.16).
60
GIACHINI, Enio Paulo. Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir de Heinrich Rombach
apropriado. É desse modo que se dá existência: Estrutura que se projeta para exterioridade
de suas condições prévias, subsume-as, delas se apropria.
O universo do estranho ao si mesmo provoca a esse para um labor de apropriação.
Não é um processo que se dá de modo direto e imediato, mas um processo de
aproximação, que tem seu tempo próprio. No sermão 9, de Sermões alemães de Mestre
Eckhart, tiramos um exemplo que nos pode ajudar a visualizar esse embate-trabalho.
De igual modo, como quando o fogo quer tomar a madeira e ser por sua vez
tomado pela madeira, encontra primeiro a madeira como o que não lhe [ao
fogo] é igual. Por isso, é preciso tempo. O fogo começa por aquecer e fazer
arder <a madeira>, fazendo-a depois fumegar e estalar, porque esta lhe <a
madeira ao fogo> é desigual; e então, quanto mais quente se tornar a madeira,
tanto mais silenciosa e calma ela se torna, e quanto mais se tornar igual ao fogo,
tanto mais se torna pacífica, até tornar-se toda e inteira fogo. Se o fogo deve
assumir em si a madeira, então toda desigualdade deve ser expulsa2.
2
MESTRE ECKHART. Sermões alemães
alemães. Bragança Paulista: Edusf; Petrópolis: Vozes, 2006. v. 1. Sermão 11, p.98.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.61-68, jul./dez. 2008
61
artigos
Apropriação se dá quando a madeira se “tornar toda e inteira fogo”. O exercício
do empenho com a exterioridade busca desinstalar a estranheza e deixar se instaurar a
igualdade onde antes não havia. Trata-se de um processo que implica “trabalho”. Não é
um desempenho que vai por si e espontaneamente. Há um encontro e embate com o
desigual. Não há fogo sem madeira; todavia são desiguais. O trabalho exerce um processo
de transformação da própria estrutura. Implica Aufarbeitung (trabalho de acolhimento,
subsunção), Einarbeitung (trabalho de ruminação e incorporação, apropriação)
Ausarbeitung (trabalho de esgotamento, de levar até o fim, toda multiplicidade significativa
da estrutura) e Umarbeitung (trabalho de trans-formação). No caso do fogo: aquecer,
fazer arder, fazer fumegar, estalar... Significa um verdadeiro agir artesanal. O embate
corpo-a-corpo com a exterioridade, com as condições prévias, implica o auto-exercício
daquele que executa o trabalho. Há implicações de toda ordem que aos poucos, com o
desenrolar-se do embate, vão ganhando o direcionamento próprio da convocação do
trabalho: o adestramento dos movimentos elementares, a disponibilização e cordialização
do ânimo, o afinamento do tato e do tino na escuta da convocação da tarefa, o exercício
da paciência e fortalecimento da espera, o experimentar a alegria etc. O estranho não
está fora do movimento do trabalho, mas está dentro do círculo de seu a-fazer. É um
trabalho de limpidificação exterior e interior, de justo harmonizar interior e exterior. Tratase de um real processo de aprendizagem. Muitos processos de ida e volta são necessários
até que aos poucos a madeira/matéria começa a se tornar mais quente, mais silenciosa e
calma, tornando-se por fim em fogo (fogo/madeira, madeira/fogo). “É quando a estrutura
acolhe internamente o que lhe é estranho e até o faz como o seu mais próprio”. Ao
acolher totalmente a madeira, tanto fogo quanto madeira já não são fogo e madeira
nem madeira e fogo mas um entre-fogo-madeira. Essa consumação de uma apropriação
não esgota seu a-fazer nessa batalha, pois exterior e interior se encobrem e se ocultam
novamente para dentro de seu próprio mistério, remetendo o si mesmo novamente ao
estranhamento e à tarefa de re-criação.
Esse embate é próprio de todo e qualquer trabalho, de toda e qualquer profissão. É o
processo por excelência da arte. Mas talvez arte seja o modus faciendi de todo e qualquer
fazer. Arte é por excelência o movimento da estrutura e é o núcleo de toda profissão autêntica.
Segundo Rombach, aqui há níveis de pego (Ausgriff) da estrutura. Essa apropriação
e interpretação feita pela estrutura não é “livre”, mas obedece a condições prévias. Quer
dizer que uma estrutura é finita e limitada. Quem se organiza como estrutura não escolhe
por si suas condições prévias. Todavia, essa finitude não é uma restrição mas um dom,
no sentido de prender a um condicionamento, justo para dar condições de progredir. O
condicionamento é a própria possibilidade de avanço e se faz presente do começo ao
fim do processo. A gravidade nos prende ao chão, mas é isso que nos possibilita caminhar.
Não há fogo sem material, como não há profissão sem desempenho.
O grave da finitude e do limite das condições enfrentadas pelo trabalho do dia-adia carrega uma sombra de vislumbre da finitude e limite extremo, a morte. Rombach
afirma que “a estrutura humana só pode ser considerada como alcançada com sucesso,
quando ruminou (integrando) a morte, a qual lança suas sombras em todos os nossos
dias como o ‘grave do trabalho’”. Poderíamos dizer que todo empenho acertado de
superação do limite imposto pelas condições estranhas da estrutura, ou seja, todo trabalho
é superação da morte. Como se dizia acima, reunir as condições da estrutura possibilita
existência. Viver é integrar a morte.
Trabalho e melhoramento
O trabalho consolida a existência da estrutura. Ele visa a “melhora, melhoramento
(Meliorisation). Melhoramento é o sentido fundamental do acontecer”. Será que podemos
dizer: todo acontecer, enquanto é acontecer, é um direcionamento em vista de melhora?
O acontecer é um melhorando? Do contrário não há acontecimento. Será esse o sentido
da parábola dos talentos, do Evangelho? Os talentos nos são dados sob responsabilidade,
a cada um diversamente, de modo único e intransferível. O trabalho promove a melhora.
Ao estabilizar-se, o processo de melhora dos talentos nada acontece, acontece o nada,
se instaura a Unfuge, o desajuste, a piora, a decadência.
Nesse sentido nada é bom, e tudo precisa tornar-se melhor. O avançar torna-se um
imperativo, mas não como um adiante e adiante insensato. Se o movimento se estabiliza,
há um pioramento (Pejorisation), aquilo que foi alcançado se desfaz, sofre um enrijecimento
e se torna o contrário de si mesmo.
O adiante e adiante desatinado é sempre unilinear, chapado e raso. No sentido da
estrutura, o avanço implica muitas vezes um recuo, a retomada, a reelaboração, o
redirecionamento, até porque adiante e acima não tem caráter temporal e espacial,
62
GIACHINI, Enio Paulo. Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir de Heinrich Rombach
quantitativo, mas estrutural. Poderíamos dizer, é aprofundamento e ampliação da sintonia
da própria estrutura. Quanto mais Aufarbeitung (trabalho de acolhimento, subsunção),
Einarbeitung (trabalho de ruminação e incorporação, apropriação) Ausarbeitung (trabalho
de esgotamento, de levar até o fim, toda multiplicidade significativa da estrutura) e
Umarbeitung (trabalho de trans-formação), mais elevação, ou seja, mais interioridade,
maior intensificação da vida própria da estrutura.
Rombach afirma: “Melhoramento é elevação. Um acontecimento se modifica logo
em acontecimento estrutural quando se encontra uma possibilidade de elevação”. Elevação
é um verdadeiro achado (Findung) um achado originário, uma invenção (Erfindung) da
estrutura por si mesma.
Achado, invenção, descoberta, carregam o encanto da surpresa, do novo inusitado,
mas de algum modo aguardado. É o próprio empuxo velado do trabalho da estrutura.
Esse processo de melhorização que se dá na elevação é o movimento estruturante
característico dos sermões eckhartianos. Sempre que fala de elevar-se acima de tempo e
de lugar, Eckhart está falando desse movimento. Não é um processo de elevação dentro
de uma ordenação sistemática pré-estabelecida, em graus e degraus, até alcançar o
último e sumo ente. Nos faz desconfiar ser um processo imanente à experiência humana
de superação e elevação, a cada vez total, pois também aqui mora o divino.
Vejamos:
“Coloca-te no portal!” Os membros de quem ali se encontra estão coordenados.
Essa palavra quer dizer que a parte suprema da alma deve estar erguida,
firmemente disposta. Tudo o que está ordenado deve ordenar-se sob o que está
acima de si... Por isso a alma deve recolher-se e elevar-se e ser um espírito3.
Os membros estarem coordenados, a alma estar erguida, sob o que está acima de
si... o fluxo do acontecer, enquanto acontecer, é essa elevação. O que não alcança esse
elevar-se não acontece, des-acontece, é nada.
Se nos elevarmos acima de todas as coisas e tudo que está em nós for também
elevado, nada então nos oprime. O que está abaixo de mim não me oprime. Se eu
buscasse puramente só a Deus, a modo de nada haver acima de mim a não ser
Deus, nada então me seria pesado e eu não me perturbaria tão rápido. Santo
Agostinho diz: Senhor, quando me volto para ti, me é retirado todo peso, sofrimento
e tribulação. Quando damos um passo para além do tempo e das coisas temporais,
somos livres e alegres todo o tempo, e assim se dá a “plenitude do tempo”4.
No começo, falávamos de trabalho como meio de produção. Afazer árduo e
trabalhoso, pesado e difícil. É o trabalho em vista de... um bem; este em vista de... outra
coisa... numa remissão sem con-tenção, sem con-tentamento. É quando trabalho e êxtase
parecem ser contrários.
3
MESTRE ECKHART. Op. cit., sermão 19, p.133.
4
MESTRE ECKHART. Op. cit., sermão 11, p.98.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.63-68, jul./dez. 2008
63
artigos
Trabalho e êxtase
“O homem ama tanto trabalhar bem como mal... e até acredito que a primeira
maneira lhe é muito mais agradável, como é mais em conformidade com sua natureza...
E, no entanto, quanto mais feliz seria a humanidade se o trabalho em vez de ser castigo
fosse a finalidade!”5.
Adentrar um trabalho exige preparação, ordenar os membros a uma elevação.
Adentrando num trabalho, seja físico ou espiritual, esse desenvolve uma dinâmica que
nos toma e nos carrega. “Ele desenrola garras e passos, ‘leva consigo’ o factível; assim
‘flui’ e avança ‘alegremente’”.
Os antigos usavam o termo “complacência” para caracterizar o que Rombach
chama de êxtase. O êx
êxtase, estar fora, além, traz referência ao dar-se de um evento que
empurra o sistema de condições prévias para uma nova luz, para uma nova configuração.
Visto de fora, esse processo só pode ser caracterizado negativamente como não
não-estático,
além-do-estacionário. Esse novo satisfaz porque vê a si mesmo reafirmado
fora do estático, além
numa reverberação.
O trabalho dimensiona o aspecto de sentido da realidade, traz sentido, vivifica o
real. É só depois disso que ele cria os meios para “viver”. Com isso se dá uma composição
de interior e exterior; o interior se abre ao estranhamento das condições que o invocam,
adota, elabora, se apropria, e solta novamente essas condições, ou antes, esse “exterior”
se ausenta novamente, de volta, para dentro do estranho. Assim prossegue o movimento
de familiarização-estranhamento, dimensionados numa disposição de sentido. O
marceneiro que prepara a madeira para confeccionar um utensílio se vê às voltas sempre
de novo com o material indeterminado da madeira para novas elaborações. Junto com
“a madeira vêm todos os condicionamentos do selvagem, tosco e sem forma – material.
Reerguer a si mesmo para a dinâmica e disposição para esse afazer, ordenando todo seu
ser para isso, pertence também ao movimento de retomada do estranho. Ver-se às voltas
sempre de novo é o aguilhão de pertença a esse estranhamento. Perfaz o sentido de
mundo do marceneiro. Quando esse trabalho não é acolhimento mas desprezo do exterior,
o estranhamento se torna alienação, e o si mesmo, o interior, torna-se o “exterior do
exterior”. Rombach parece estar descrevendo aqui algo decisivo para o mundo do trabalho.
Quando o trabalho atinge a sua vocação verdadeira, atina e acerta com seu destino e lhe
corresponde, se dá uma disposição e composição entre si mesmo-estranhamento que
sempre de novo renova e reafirma a si mesmo. O trabalho alimenta a si mesmo da
alegria da reafirmação. Ele faz sentido. Caso contrário, o si mesmo se vê impelido a
recolocar-se na fuga de ser apenas o “exterior do exterior”, é uma reconvocação para
uma re-escuta e recolocação do si mesmo.
5
RODIN, A. A arte
arte. Diálogos com Paul Gsell. São Paulo: Chrayon, p.78.
64
GIACHINI, Enio Paulo. Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir de Heinrich Rombach
Trabalho e totalidade
Nesse sentido, todo e qualquer trabalho, profissão tem sua razão de ser. Prestar
contas corresponde a essa escuta. Não há exteriormente um trabalho mais nobre que
outro. Ou, melhor dizendo, trabalho não se refere mais a um tipo de atividade mas a um
modo de ser dentro de uma atividade, um modo de perfazer a atividade. Todos os demais
qualificativos do trabalho, como útil, produtivo, inútil, improdutivo estão colocados numa
interpretação que coloca como o determinante do trabalho um elemento do mesmo, o
produto. Mas como medir a fecundidade do trabalho? “Tomado fenomenologicamente,
trabalho consiste também na rentabilidade dos mais extremados âmbitos exteriores e da
auto-relação com os mesmos.” Assim, o mínimo feito está aberto e em sintonia com o
todo. Na medida em que se dá abertura, estranhamento e elevação, a existência
experimenta a vitalidade de si mesma. É a dinâmica do pouco, passo a passo, vagaroso,
que recoloca todo feito na dinâmica do afazer. É quando pela atividade e atuação uma
existência cresce em intensidade da própria vida e não em quantificação do saber e do
poder. Assim, o trabalho tem sua própria dinâmica de repercussão, rentabilidade e
produtividade. É a própria estrutura que remete sua auto-realização para seus âmbitos
de convivência, e na medida de sua autenticidade essa reverberação se torna inteira em
todos os níveis e direcionamentos que lhe dizem respeito. O processo de tornar-se inteiro
é experimentado cada vez como libertação.
Segundo Rombach, liberdade não é um estado, mas uma “categoria de passagem”.
O que significa, liberdade só existe como libertação, “emancipação”. Como no processo
de melhoramento, ao estabilizar-se, a liberdade decai e torna-se em aprisionamento.
Voltada para o futuro, a estrutura, o si mesmo só experimenta liberdade no movimento
de irrupção. Seu confronto e embate com as condições exteriores invoca e convoca para
a consumação do novo, “topar com novas possibilidades”. Repercute aqui o que se dizia
antes a respeito de trabalho e totalidade. “O descobrimento de um novo futuro é sempre
o descobrimento de um novo passado”. A descoberta de novas condições externas está
pari passu com a descoberta de nova interioridade. O que significa que não se dá um
abandono do passado ou das condições antigas do si mesmo mas uma retomada pela
elevação. A vida do passado não é um depósito já estacionado e pronto, ido. É sempre a
bagagem do si mesmo na direção de reinventar a própria vida, reinventar a si mesmo. É
o que se diz no texto com o conceito de coerência. “A liberdade está ligada à condição
da coerência”. Não se dá uma libertação, por saltos, por sobre, passando ao largo da
própria história. Mas como libertação das potencialidades da história própria. A liberdade
persiste na sondagem e aproveitamento das possibilidades de melhoramento. Os caminhos
humanos, por mais difíceis, jamais estão fechados. Vida é a possibilitação do aberto.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.65-68, jul./dez. 2008
65
artigos
Trabalho e liberdade
Seja qual for o conteúdo emprestado a essas possibilidades, a esperança que cada pessoa
encontra em sua vida denuncia essa possibilidade para o aberto e novo. Denuncia
igualmente uma identidade com esse novo, visto que a esperança sempre vem
acompanhada de alegria. Esse movimento coerente não pode ser, não é privilégio de
alguns, de um grupo, de uma facção. Enquanto coerente, seu direcionamento visa o
todo, seja de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. O movimento de libertação
é igualmente movimento de totalização, inteirização.
Trabalho e concretização
Nessa dinâmica de melhoramento e alavancamento ou elevação do todo do si
mesmo, na busca de inteirização, é im-portante o processo de correção. Melhoramento
só surge através de redirecionamento, reorientação. Está implícita aqui e assumida a
possibilidade do erro. “Os erros possuem um caráter indicativo, são chances de experiência,
e na realização das possibilidades de experiência, sua função é transformada por assim
dizer em positiva.” Não é possível aplicar uma “moral” ao si mesmo, à estrutura, que
provenha de fora. A moralidade do si mesmo é a busca da concreção, concretização.
Orientação, medida, comparação, autocorreção redirecionamento devem provir sempre
de uma escuta do si mesmo. Mas como evitar que aqui não se dê uma confirmação do
subjetivismo, intimismo, um fazer o que bem se entende, o que dá na telha? Se não há
padrão de medida exterior...? O conceito de coerência implica novamente essa dificuldade
ainda mais desafiadora de atinar para a convocação e o movimento de concreção do si
mesmo. Esse deve ser sempre um movimento de totalidade, uma libertação da e rumo à
totalidade, a inteireza. Levar à efetivação o projeto da própria existência. É precisamente
por isso que se torna em autêntico movimento de libertação do subjetivismo. O
subjetivismo não é superado pela adoção de conceitos, idéias, ideais mais elevados, da
sociedade, da religião, da filosofia..., mas pela concreção do si mesmo. É só essa que
pode abrir para o novo, para o futuro de novas possibilidades e possibilidades novas.
A título de conclusão desse apanhado de idéias/indicações, essa estória melhor
ilustra o pouco que se quis dizer. Todos os títulos/conceitos/indícios mal elaborados acima,
aparecem melhor trabalhados abaixo.
Destrinchando um boi
O cozinheiro do Príncipe Wen Hui estava destrinchando um boi.
Lá se foi uma pata; pronto, um quarto dianteiro.
Ele apertou com um dos joelhos, o boi partiu-se em pedaços.
Com um sussurro, a machadinha murmurou como um vento suave.
Ritmo! Tempo!
Como uma dança sagrada, como “a floresta de arbustos”.
Como antigas harmonias!
66
GIACHINI, Enio Paulo. Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir de Heinrich Rombach
”Bom trabalho”!, exclamou o Príncipe.
”Seu método é sem falhas”!
”Método?”, disse-lhe o cozinheiro, afastando a sua machadinha.
”O que eu sigo é o Tao, acima de todos os métodos!
Quando primeiro comecei a destrinchar bois, via diante de mim o boi inteiro.
Tudo num único bloco.
”Depois de três anos, nunca mais vi este bloco.
Via as suas distinções.
”Mas, agora, nada vejo com os olhos.
Todo o meu ser apreende.
Meus sentidos são preguiçosos.
O espírito livre para operar sem planos segue o seu próprio instinto,
Guiado pela linha natural, pela secreta abertura, pelo espaço oculto.
Minha machadinha descobre seu caminho.
Não corto nenhuma articulação, não esfacelo nenhum osso.
”Todo bom cozinheiro precisa de um novo facão, uma vez por ano – ele corta.
Todo cozinheiro medíocre precisa de um novo cada mês – ele estraçalha!
”Eu uso a mesma machadinha há dezenove anos.
Cortou mil bois.
Sua lâmina é tão fina como se fosse afiada há pouco.
”Não há espaços nas articulações;
A lâmina é fina e afiada:
Quando sua espessura encontra aquele espaço,
Lá você encontrará todo o espaço de que precisava!
Ela corta como uma brisa!
Por isso tenho esta machadinha há 19 anos, como se fora afiada há pouco!
”Realmente, há, às vezes, duras articulações.
Vejo-as aparecendo, vou devagar, olho de perto,
Seguro a machadinha atrás, quase não movo a lâmina, e, vapt!
A parte cai como um pedaço de terra.
”Então retiro a lâmina, fico de pé, imóvel,
E deixo que a alegria do trabalho penetre.
Limpo a lâmina e ponho-a de lado”.
Disse o Príncipe Wan Hui:
6
artigos
”É isso mesmo! Meu cozinheiro ensinou-me como devo viver a minha própria vida!”.6
MERTON, T. A via de Chuang Tzu
Tzu. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 1996. p.62-64.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.67-68, jul./dez. 2008
67
Referências
ECKHART, Mestre. Sermões alemães
alemães. Tradução e introdução de: Enio Paulo Giachini.
Bragança Paulista: EDUSF; Petrópolis: Vozes, 2006.
MERTON, T. A via de Chuang Tzu
Tzu. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 1986.
RODIN, A. A arte
arte: dialogos com Paul Gsell. São Paulo: Chrayon [s.d.]
ROMBACK, H. Substanz, system, struktur
struktur: die Ontologie des Funktionalismus und der
philosophische Hintergrund der modernen Wissenschaft. Freiburg: K. Albert, 1965.
68
GIACHINI, Enio Paulo. Trabalho e si mesmo. Reflexões a partir de Heinrich Rombach
A Ética Kantiana e o Primado
da Autonomia
Kantiana Ethics and the Prioryty
of Autonomy
Ítalo Kiyomi Ishikawa*
Resumo
No presente artigo tem-se por objetivo apresentar a ética de Kant e
ressaltar seus princípios metafísicos, e visa-se demonstrar, também,
os fundamentos racionais do Direito e do Estado. A ética deontológica
de Kant estabelece o princípio formal do imperativo categórico, este
somente é possível através da autonomia da vontade humana, que é
transcendentalmente livre, capaz de determinar a si mesma. A moral
cristã, através de sua progressão ininterrupta a um reino inteligível, é
validada pelo projeto kantiano, pois ambos os sistemas constituem
éticas do merecimento, uma vez que o sujeito moral merece ser feliz,
embora a ética não seja uma doutrina da felicidade. O Direito e o
Estado possuem um fundamento metafísico, a idéia universal e
necessária de proteção e garantia das liberdades individuais. A ética
de Kant culmina na necessidade de paz universal entre as nações, na
formação de uma federação internacional; tal aspiração pela paz
constitui uma exigência moral da razão.
Palavras-chave
alavras-chave: Immanuel Kant; autonomia; liberdade;
esclarecimento; direito; estado; paz.
* Licenciado em filosofia pela FAE Centro Universitário Franciscano,
aluno de pós-graduação em
fundamentos de ética pela PUC-PR.
O presente artigo foi elaborado
originalmente a partir trabalho de
conclusão de curso apresentado à
então Faculdade de Filosofia São
Boaventura da FAE - Centro
Universitário Franciscano.
e-mail: [email protected];
í[email protected]
The present article seeks to present Kant’s ethics and to highlight its
metaphysical principles, and seeks to demonstrate also the rational
fundamentals of Law and State. The Deontological ethics of Kant
established the formal principal of categorical imperative, this is only
possible through the autonomy of the human will, which is
transcendentally free, capable of self determination. The Christian
morals, through continuous progression to and intelligible kingdom,
is validated by the kantian project, because both systems make up
ethics of deserving, because the moral subject deserves to be happy,
although the ethics is not one of ultimate happiness. The Law and
the State have metaphysical fundamentals, the universal and necessary
idea of protection and guarantee of individual liberties. Kant’s ethics
culminate with the need for universal peace among nations in the
formulation of international federation, this aspiration for peace make
up a moral pre-requisit of reason.
Key W
ords
Words
ords: Immanuel Kant; autonomy; freedom; enlightenment;
right, state, peace.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.69-81, jul./dez. 2008
69
artigos -resumo de monografia
Abstract
Introdução
A construção da filosofia transcendental de Immanuel Kant erigiu uma ética
fundada no valor da liberdade da vontade humana. O homem é capaz de dar a si mesmo
suas próprias leis, e a moralidade é conferida pela universalização racional da máxima da
ação. Agir moralmente é um dever dado universal e necessariamente pela razão.
No projeto filosófico de Kant a moral cristã é validada: Deus, imortalidade da alma
e liberdade, embora não possam ser conhecidos teoricamente, são assumidos como
exigências racionais da ética. A deontologia da ética kantiana a exime de contemplar a
felicidade como finalidade da ação moral, a ética é antes um merecer ser feliz.
O Estado e o Direito, como foram concebidos por Kant, possuem fundamentos
metafísicos, isto é, da razão pura. O contrato social, através do qual acontece a passagem
do estado de natureza para o estado civil, é concebido como uma idéia da razão onde o
consenso é dado sobre a limitação e a defesa das liberdades individuais. Kant oferece
pressupostos para o Estado Liberal ao conceber a liberdade como o direito natural
fundamental, e o Estado Civil legitima-se a partir de sua proteção.
A saída do estado de natureza é analogamente válida entre os países: o cume da
ética de Kant é a necessidade moral de paz entre as nações livres. Para que a guerra seja
efetivamente evitada, deve-se criar uma confederação internacional que legitime as
relações entre os povos.
No presente trabalho, apresenta-se a ética de Kant como uma teoria e prática da
liberdade, uma ética do esclarecimento, do uso da maioridade no pensamento. Ética
que somente é possível pela liberdade metafísica do ser humano, este, mediante a pura
espontaneidade de sua vontade, é capaz de determinar e escolher a si mesmo.
1 A herança da filosofia teórica
A obra Crítica da razão pura (1781) de Immanuel Kant (1724-1804) operou a
Revolução Copernicana do conhecimento: através da construção da filosofia
transcendental, Kant erige a subjetividade como o centro do conhecimento humano.
Examinando as possibilidades e limites do conhecimento, chega à conclusão de que a
"razão conhece segundo um projeto seu" (KANT, 1997a, p.xx). Através da distinção feita
entre fenômeno e noumenon, a metafísica não pode ser aceita como ciência, pois as
proposições metafísicas extrapolam os limites da experiência, suas proposições não
contemplam o viés sintético a priori do conhecimento verdadeiro. Porém, na Dialética da
razão pura, nas aporias transcendentais em que a razão se encontra, Kant encontra um
horizonte onde a metafísica pode ser pensada, embora não possa ser conhecida.
A terceira antinomia da razão pura possui uma tese e uma antítese: a tese assevera
que a liberdade humana, puramente transcendental, pode iniciar por si mesma uma
série de fenômenos. A antítese, da esfera do entendimento, afirma que tudo na natureza
70
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
está associado à ordem de causa e efeito. A razão pura não pode estabelecer a realidade
da liberdade, pois só é real o que concorda com as condições materiais da experiência.
Tampouco pode provar as possibilidades da liberdade, pois esta depende das condições
formais da experiência. A conclusão de Kant, a partir da via teórica, é de que a liberdade
não é impossível, isto é, não está em contradição com o determinismo material. Se não
é possível comprovar a realidade da liberdade, ao menos é possível pensar sua existência
(cf. KANT 1997a, p.406-427). É a partir da liberdade transcendental do homem que será
fundada a ética de Kant: a vontade humana, como pura espontaneidade, é capaz de
determinar a si mesma e iniciar uma série de causas.
A liberdade só é possível de ser pensada a partir da teoria do duplo caráter do
homem: a tese da terceira antinomia é verdadeira em relação à razão, a partir de sua
liberdade transcendental; a antítese é verdadeira em relação ao entendimento, a partir
do caráter empírico do homem. Este, entre as coisas a serem conhecidas, aparece como
fenômeno na natureza, mas em nível de ética é sempre noumenon, inteligível, sujeito
transcendental, ou seja, capaz de agir segundo a não-causalidade da vontade.
A fim de sistematizar a ética apenas apontada pela Crítica da razão pura, Kant
publica a Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), a Crítica da razão prática
(1788) e a Metafísica dos costumes (1797). Preliminarmente, na Fundamentação, Kant
reconhece que a ética "não se deve buscar em nenhuma outra parte senão numa filosofia
pura" (KANT, 1997b, p.17), isto é, trata-se de uma metafísica dos costumes, pois a
metafísica, incapaz de ser conhecida no projeto teórico, é encontrada como fundamento
da ética no sujeito da ação. "A metafísica dos costumes deve investigar a idéia e os
princípios duma possível vontade pura, e não as acções e as condições do querer humano
em geral" (KANT, 1997B, p.17). A investigação pelos fundamentos da ética é a busca
pelo "bom sem limitação" (KANT, 1997B, p.21) da ação moral. Este princípio supremo é
encontrado na boa vontade.
A ética de Kant é deontológica, isto é, sua preocupação recai sobre os princípios da
ação moral, ou seja, seus motivos: a boa vontade não possui outro fundamento
determinante, mas ela mesma é capaz de determinar a escolha. A boa vontade expressa a
"incondicionada indeterminação humana" (HECK, 2004, p.508). A vontade humana, porém,
é contingente; ao lado de um querer bom, há outros interesses, a vontade humana é
afetada por inclinações, e, somente onde a vontade humana é contingente, a boa vontade
se configura como dever. Através desta, a moralidade é constituída "na forma de
mandamento, do desafio, do imperativo" (HÖFFE, 2005, p.193). Na interpretação de Höffe:
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.71-81, jul./dez. 2008
71
artigos -resumo de monografia
1.1 O princípio da boa vontade e o dever
Só se pode falar de dever onde há, ao lado de um apetite racional, ainda impulsos
concorrentes das inclinações naturais, onde há, ao lado de um querer bom,
ainda um querer ruim ou mau. Esta circunstância é o caso em todo ente racional
que é dependente também de fundamentos determinantes sensíveis. Tal ente
racional sensível ou finito é o homem. Na medida em que Kant elucida a
moralidade com a ajuda do conceito de dever, ele persegue o interesse de
compreender o homem como ente moral (HÖFFE, 2005, p.193).
Há três possibilidades de agir a partir do dever (cf. KANT, 1997B, p.27-28). A
primeira forma é agir conforme ao dever; tal ação não é moral, porque o motivo da ação
está em quaisquer outros interesses menos na vontade do sujeito. A segunda forma é
agir conforme ao dever motivado por uma inclinação subjetiva, e tal ação ainda não é
moral, porque o móvel está em outra coisa que ainda não é ação por si mesma. A ação
moral, finalmente, é aquela assumida simplesmente por dever, sem motivação externa
ou inclinação subjetiva. Para a ética de Kant, o valor da ação moral não está na meta a
que se possa pretender, mas somente na motivação, na máxima que a determina. A ética
depende "...unicamente do princípio do querer, segundo o qual a ação foi produzida,
sem tomar em conta nenhum dos objetos da faculdade apetitiva" (KANT, 1997b, p.30).
Entre o ilimitadamente bom da vontade boa e a ação por dever deve haver um
terceiro termo para mediar sua união: o sentimento de respeito. De fato, o homem
necessita de um móvel para agir, e nenhum móvel tomado da sensibilidade pode ser
qualificado como ético; não resta, portanto, "outro móvel para a ação de quem queira
agir por dever senão o respeito à lei que lhe ordena cumprir o dever" (PASCAL, 2005,
p.122). Em nota, Kant esclarece que não se trata de algo obscuro, embora seja um
sentimento. O respeito não é recebido por influência externa ao sujeito; ao contrário, é
"um sentimento que se produz por si mesmo através de um conceito da razão" (KANT,
1997B, p.32), portanto muito distinto da inclinação e do medo.
1.2 O aspecto imperativo da ética
A ética trata de "princípios íntimos que não se vêem" (KANT, 1997B, p.40), e a
moralidade nunca pode ser apreendida a partir da experiência, pois esta jamais poderia
conferir a universalidade e a necessidade que a moral exige. Se, por um lado, não se
pode "prestar pior serviço à moralidade do que querer extraí-la de exemplos", por outro,
"a razão por si mesma e independentemente de todos os fenômenos ordena o que deve
acontecer" (KANT, 1997b, p.41).
Diante de uma vontade humana contingente, o dever se apresenta, junto com
suas leis morais objetivas e derivadas de princípios racionais, como obrigação. "A
representação de um princípio objectivo, enquanto obrigante para uma vontade, chamase mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se imperativo" (KANT,
1997b, p.48). O princípio objetivo do dever universal, representado diante de uma vontade
contingente, assume o caráter de mandamento, de imperativo. Uma vontade que fosse
72
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
plenamente racional, uma vontade perfeita, não se poderia representar como obrigada
a agir conforme ao ideal prático da razão. Os imperativos são fórmulas "para exprimir a
relação entre leis objectivas do querer em geral e a imperfeição subjectiva deste ou daquele
ser racional, da vontade humana, por exemplo" (KANT, 1997b, p.49).
Kant conceitua o imperativo categórico na oposição e superação aos imperativos
hipotéticos. Esses também são mandamentos da razão, mas possuem uma finalidade
fora de si mesmos, movem-se a partir da máxima que reza que "aquele que quer os fins
quer os meios".
O imperativo hipotético apresenta a necessidade prática de uma ação que visa
atingir uma finalidade. O imperativo hipotético é a inclinação prática que determina a
vontade em direção a algo. "Os (imperativos) hipotéticos representam a necessidade
prática de uma ação possível como meio para se alcançar qualquer coisa que se quer (ou
que é possível que se queira)" (KANT, 1997b, p.50). Nos imperativos hipotéticos, sejam
eles de destreza (busca de fins contingentes) ou de prudência (busca da felicidade), a
determinação da vontade se inclina em direção a algo, a racionalidade é nesses casos
parcial e contingente.
Kant demonstra a impossibilidade de fundar, num nível transcendental, a moral
sobre os imperativos ditos hipotéticos, eles não comportam a universalização necessária
para o projeto kantiano.
O imperativo categórico marca a superação dos imperativos hipotéticos, pois
A natureza do imperativo categórico é sintética a priori, pois seu fundamento está
na razão pura e se constitui na experiência: a máxima é dada pela razão, mas somente
na ação ele pode se constituir.
A formulação do imperativo categórico é: "Age apenas segundo uma máxima tal
que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal" (KANT, 1997B, p.59).
Trata-se de um princípio objetivo incondicionado, isto é, aquilo a que todo agente racional,
independentemente de seus desejos e fins particulares, obedeceria necessariamente se a
razão tivesse completo controle sobre suas paixões e inclinações. O imperativo categórico
só se configura como tal porque é universalizável, tem de ser válido para todos os agentes
racionais, possui um caráter objetivo. O imperativo categórico não determina "conteúdos"
morais, mas preocupa-se tão-somente com a forma da obrigação moral. Entre a lei
moral da razão e a ação do sujeito, Kant introduz a máxima, que é o
princípio subjetivo da ação, aplicável não somente a uma situação, mas a
diferentes situações da mesma espécie. A máxima tem um aspecto material por
considerar as circunstâncias, os fins e as conseqüências das ações individuais,
mas deve apresentar a forma da universalidade. Quer dizer, sua validade depende
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.73-81, jul./dez. 2008
73
artigos -resumo de monografia
só a lei traz consigo o conceito de uma necessidade incondicionada, objectiva e
conseqüentemente de validade geral, e mandamentos são leis que têm de se
obedecer, quer dizer que se têm de seguir mesmo contra a inclinação (KANT,
1997, p.53).
da possibilidade dela transformar-se em lei universal. Pelo conteúdo ou matéria,
conhecemos o lado concreto da moral e pela sua forma, há uma proximidade da
máxima com a lei moral como tal (GUIMARÃES, 2004, p.522-523).
A pergunta "como é possível um imperativo categórico?" é respondida através da
liberdade e da autonomia. Aqui se chega ao escopo da ética de Kant, pois o "citado
princípio da autonomia é o único princípio da moral" (KANT, 1997b, p.85-86).
2 Liberdade e autonomia: os fundamentos da ética
O imperativo categórico só é possível porque entre vontade, que "é uma espécie
de causalidade dos seres vivos enquanto racionais" (KANT, 1997b, p.93) e dever, que é "a
necessidade objectiva de uma acção por obrigação" (KANT, 1997b, p.84) tem que haver
um terceiro termo: a liberdade. Liberdade é, pois, a capacidade da vontade de iniciar
uma causalidade "independentemente de causas estranhas que a determinem" (KANT,
1997b, p.93). Tal definição de liberdade da vontade por enquanto só se apresenta em
seu aspecto negativo, ou seja, da liberdade da vontade não ser determinada por qualquer
coisa exterior a ela. Tal conceito de liberdade é puramente a priori. Para Kant, "a definição
de liberdade que acabamos de propor é negativa e portanto infecunda para conhecer
sua essência; mas dela decorre um conceito positivo desta mesma liberdade, que é tanto
mais rico e fecundo" (KANT, 1997b, p.93), ou seja, uma definição sintética.
Analiticamente, o conceito de causa implica um efeito; esse conceito de causalidade
se configura como lei. Ora, a liberdade enquanto capacidade da vontade de iniciar por si
mesma uma causalidade traz em si uma espécie de lei, pois uma vontade absolutamente
livre seria um absurdo (cf. KANT, 1997b, p.94). As leis da liberdade da vontade não são
qualquer tipo de lei, dadas de fora do sujeito, mas "que outra coisa pode ser, pois, a
liberdade da vontade senão autonomia, isto é a propriedade da vontade de ser lei para si
mesma?" (KANT, 1997b, p.94). Se se afirma que "a vontade é, em todas as acções, uma
lei para si mesma" (KANT, 1997b, p.94), e uma vontade boa sem limitação "caracteriza
apenas o princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não seja aquela
que possa ter-se a si mesma por objecto como lei universal" (KANT, 1997b, p.94), concluise que tal definição de liberdade da vontade é a mesma do imperativo categórico: "Age
apenas segundo uma máxima que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei
universal" (KANT, 1997b, p.59). Para Kant, portanto, "vontade livre e vontade submetida
a leis morais são uma e a mesma coisa" (KANT, 1997b, p.94).
Resumidamente e em outros termos, os pressupostos teóricos lançados na Crítica
da razão pura continuam válidos na filosofia prática. Kant estabeleceu que só é possível
conhecer o fenômeno, que começa na experiência. Fazer experiência da liberdade seria
atribuir-lhe uma causa, o que comprometeria os princípios do projeto moral, um princípio
que tem de ser incondicionado. Ora, a liberdade não pode ser "conhecida" no viés teórico
da Crítica da razão pura, mas tão-somente conhecida na prática moral. O resultado
74
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
dessa construção conceitual é que a liberdade não pode ser provada teoricamente, mas
tem que ser pressuposta na prática moral. O homem tem que pressupor-se como livre
para que sejam possíveis os imperativos categóricos. O princípio de que a vontade é lei
para si mesma é uma proposição sintética a priori; a ligação entre vontade pura e vontade
empírica, isto é, entre uma vontade absolutamente boa e uma vontade afetada pelas
inclinações só é possível por meio da liberdade.
Por fim, se o imperativo categórico é possível mediante o conceito positivo da
liberdade, a pergunta pela possibilidade desse mesmo imperativo é imperscrutável, pois a
razão metafísica é superior ao entendimento, e tal questionamento extrapola os limites do
conhecimento: "como seja possível esse pressuposto mesmo (a autonomia), isso é o que
nunca se deixará jamais aperceber por nenhuma razão humana" (KANT, 1997b, p.114).
Para Kant, a ética não pode ser uma doutrina da felicidade, assim como Aristóteles
a concebeu, mas a ética é um merecer ser feliz. Kant chega a afirmar que "o exato oposto
do principio da moralidade é tornar o princípio da felicidade própria fundamento
determinante da vontade [...]" (KANT, 2002, p.58).
A lei moral está muito acima da máxima que busca a felicidade pessoal, o amor de
si ou a prudência: "A máxima do amor de si (prudência) apenas aconselha
aconselha; a lei da
moralidade ordena
ordena. Há, porém, uma grande diferença entre aquilo que nos aconselha e
aquilo para o qual somos obrigados
obrigados" (KANT, 2002, p.60). A razão prática e suas leis são
superiores à máxima da felicidade porque a ação moral está na eminente possibilidade
de todos: todos os homens podem agir moralmente aqui e agora, enquanto que a busca
da felicidade não está na eminente possibilidade de todos, e tampouco a felicidade
geral, como visto acima, tem um único objetivo entre os homens (cf. KANT, 2002, p.61).
Através de sua ética, Kant valida a moral cristã; com efeito, a forma moral dos
preceitos evangélicos é a mesma da ética Kantiana: ambos os sistemas fundam-se sobre
a autonomia da vontade e aspiram ao progresso moral ininterrupto, rumo ao infinito.
Para Kant, a lei moral "concorda perfeitamente com a possibilidade de um tal mandamento:
ama a Deus acima de tudo e teu próximo como a ti mesmo
mesmo" (KANT, 2002, p.134). Kant
reconhece que é impossível amar a partir da exigência de uma lei, mas, na compreensão
de Kant, a proposição evangélica refere-se a um amor prático, que tenciona que se
cumpram os mandamentos divinos de bom grado (cf. KANT, 2002, p.134).
Os princípios da razão prática pura se conformam com a moral do Evangelho
porque esta não é restritiva quanto aos conteúdos, mas erigi-se apenas numa forma que
aspira a progressão ao infinito. O homem, possuidor de vontade contingente, vê-se, por
um lado, determinado a agir moralmente pela influência da lei moral; e, por outro lado,
se vê submetido aos apetites e inclinações da sensibilidade. A moral evangélica é válida
porque valoriza a disposição: mesmo que não seja plenamente atingida, a perfeição
moral não pode ser renunciada.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.75-81, jul./dez. 2008
75
artigos -resumo de monografia
2.1 Felicidade e virtude
Portanto aquela lei de todas as leis, como todo o preceito moral do evangelho,
apresenta a disposição moral em toda a sua perfeição, do modo como ela
enquanto ideal de santidade não é atingível por nenhuma criatura; contudo é o
arquétipo do qual devemos aspirar aproximar-nos e, em um ininterrupto mas
infinito progresso, aspirar a ela igualar-nos (KANT, 2002, p.134-135).
No projeto teórico da Crítica da razão pura, a razão se encontrou em questões
metafísicas em que não obteve soluções: Deus, imortalidade da alma e liberdade não
podem ser conhecidos. Mas o que fora antinomia agora se converte em postulado:
Deus, imortalidade da alma e liberdade são exigências da razão prática pura sob o ideal
do sumo bem. A razão, portanto, "procura a totalidade incondicionada do objeto da
razão prática pura sob o nome de sumo bem
bem" (KANT, 2002, p.176).
A lei moral é a condição suprema do conceito de sumo bem, que se configura
como único objeto que determina a vontade, pois o conceito de sumo bem já está
incluído e pensado numa vontade pura:
Mas é evidente que, se no conceito de sumo bem a lei moral já está compreendida
como condição suprema, então o sumo bem não é simplesmente objeto
objeto, mas
também o seu conceito e a representação de sua existência possível mediante a
nossa razão prática são ao mesmo tempo o fundamento determinante da
vontade pura; porque então a lei moral – já efetivamente incluída e pensada
conjuntamente nesse conceito – e nenhum outro objeto determina a vontade
segundo o princípio da autonomia (KANT, 2002, p.179).
Através dos postulados da razão prática pura, Kant concebe uma fé racional (cf.
KANT, 2002, p.203). Os postulados não são necessários na construção do projeto moral,
mas tornam-se exigências desta mesma razão quando esta se torna objetiva.
Importante observar a intenção kantiana de contemplar e validar a moral cristã. A
ética não pode ser uma doutrina da felicidade; Deus, imortalidade da alma e liberdade se
convertem em exigências da razão prática pura; logo, a ética é um merecer a felicidade,
pois assim como o Evangelho busca a progressão moral ininterrupta, rumo ao infinito, o
homem ético é aquele que merece uma felicidade sem fim que não pode ser dada no
mundo fático.
A Crítica da razão prática tem o seu desfecho com um testemunho de Kant: "Duas
coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre nova e crescente, quanto mais
freqüente e persistente a reflexão ocupa-se com elas: o céu estrelado acima de mim e a
lei moral em mim"
mim (KANT, 2002, p.255). Embora a metafísica tenha sido eliminada na
primeira crítica, Kant a encontra e a admite numa outra esfera de conhecimento: a moral.
Através dela, os preceitos cristãos são validados: é moralmente bom crer em Deus e
aspirar o merecimento ininterrupto dos justos. Na frase citada acima é possível intuir
uma certa religiosidade sobre a moral, o que para Kant é uma fé racional.
76
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
3 Justiça, liberdade e paz
O Direito distingue-se da ética porque se configura como uma moral empírica, isto
é, age-se legalmente porque o motivo da ação não está no sujeito, mas na força da lei. Mas
o Direito, para Kant, não pode ser desconsiderado, e a investigação da Metafísica dos
costumes (1797) busca os fundamentos puramente racionais, isto é, metafísicos do Direito.
Os filósofos jusnaturalistas consideram a fundação do Estado civil a partir da
superação do estado de natureza, Kant situa-se entre os jusnaturalistas, porém, altera
substancialmente a tese de O contrato social: se para Hobbes e Rousseau o direito natural
fundamental a ser defendido é a vida, o direito natural inalienável para Kant, aquele que
deve legitimar o Estado, é a liberdade. O Estado e o Direito se constituem na medida em
que garantem a liberdade dos indivíduos.
Em Kant pode-se fazer uma tríplice caracterização do Direito: pertence às relações
humanas, se constitui na relação entre arbítrios e sua função é de prescrever as formas e
as condições para a coexistência entre as liberdades. Para Kant,
Dessa definição Kant deriva o postulado universal do Direito, da seguinte forma
definida: "Age externamente de modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com
a liberdade de acordo com uma lei universal" (KANT, 2003, p.77).
A preocupação do Direito em Kant é a defesa da liberdade: somente as relações
entre os homens podem ser jurídicas, e o objeto do Direito não é prescrito previamente,
mas deve ocupar-se com as condições formais para que a coexistência entre arbítrios seja
assegurada. Pode-se ver em Kant a ereção de grandes fundamentos do Estado Liberal. A
justiça, nesse horizonte, é compreendida negativamente: justo é o ato que permite a
coexistência de todas as liberdades segundo uma lei universal (KANT, 2003, p.77).
3.1 À paz perpétua
O opúsculo, de 1795, A paz perpétua: Um projecto filosófico é concebido, no presente
trabalho, como o escopo da ética de Kant. Essa pequena obra fora de atualidade tremenda:
em meio à violência da Revolução Francesa, Kant formulou um tratado de paz internacional
que visa erigir as condições para que os países estabeleçam uma confederação internacional
que legitime suas relações. As exigências de saída do estado de natureza no interior do
Estado valem analogamente entre as nações: a falta de um Direito que assegure a liberdade
entre os países é um estado de natureza, um estado de constante ameaça e violência que
necessita ser superado através de uma confederação internacional que busque a efetiva
paz entre os países. Tal confederação não pode tornar-se um superestado (um Estado
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.77-81, jul./dez. 2008
77
artigos -resumo de monografia
O Direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a escolha de alguém
pode ser unida à escolha de outrem, de acordo com uma lei universal de liberdade
(KANT, 2003, p.76).
federal), mas todos os seus membros devem estabelecer uma relação entre iguais e se
eximir de interferir em qualquer assunto interno de outro Estado.
Primeiramente Kant estabelece seis condições negativas para a paz: 1) "Não se
deve considerar como válido nenhum tratado de paz que se tenha feito com a reserva
secreta de elementos para uma guerra futura" (KANT, [s/d], p.120); 2) "Nenhum estado
independente (grande ou pequeno, aqui tanto faz) poderá ser adquirido por outro
mediante herança, troca, compra ou doação" (KANT, [s/d], p.121); 3) "Os exércitos
permanentes (miles perpetuus) devem, com o tempo, desaparecer totalmente" (KANT, [s/
d], p.121); 4) "Não se devem emitir dívidas públicas com assuntos de política exterior"
(KANT, [s/d], p.122); 5) "Nenhum Estado deve imiscuir-se pela força na constituição e no
governo de outro Estado" (KANT, [s/d], p.123); 6) "Nenhum Estado em guerra com outro
deve permitir tais hostilidades que tornem impossível a confiança mútua na paz futura
[...]" (KANT, [s/d], p.124).
Além dos artigos preliminares, de caráter negativo, Kant propõe três artigos
definitivos, de caráter positivo. O primeiro, "a constituição civil em cada país deve ser
republicana" (KANT, s/d, p.127), estabelece o ideal do republicanismo como a forma de
governo onde o poder executivo está separado do poder legislativo, ou seja, não cabe ao
governante estabelecer se deve ou não haver guerra, mas tal decisão tem de recair sobre
o povo. O republicanismo é o único modelo político que erige como fundamento a
autonomia, na Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? lê-se: "[...] a pedra de
toque está na questão de saber se um povo poderia ter ele próprio se submetido a tal lei"
(KANT, 1974, p.115). É à vontade pública que pertence o poder legislativo, e a constituição
republicana, segundo A paz perpétua, é a única "em que se deve fundar toda a legislação
jurídica de um povo" (KANT, s/d, p.128).
O segundo artigo, "o direito das gentes deve fundar-se numa federação de Estados
livres" (KANT, [s/d], p.132), assevera que não basta que os países sejam republicanos,
mas para que a paz seja efetiva ela tem de ser garantida pela criação de uma confederação
de Estados livres. Nesse artigo Kant concebe um Direito internacional que assegure a
liberdade entre as nações e que torne possível a paz.
O terceiro artigo afirma que "o direito cosmopolita deve limitar-se às condições da
hospitalidade universal" (KANT, [s/d], p.137). Kant concebe um direito de visitação
internacional, onde os homens são cidadãos do mundo e têm o direito de visitar qualquer
localidade do mundo sem serem hostilizados por motivo de sua presença. Há limites
claros para a hospitalidade: pode-se rejeitar o estrangeiro se este cometer atos hostis
contra o Estado hospedeiro. Através desse artigo, Kant critica a prática colonialista dos
europeus e sua conduta inospitaleira; "causa assombro a injustiça que eles revelam na
visita a países e povos estrangeiros (o que para eles se identifica com a conquista dos
mesmos)" (KANT, [s/d], p.138). O Direito cosmopolita opõe-se assim a um direito de
estabelecimento e a uma prática de abuso sobre o território de um outro povo. O filósofo
tem em mente, ao escrever o terceiro artigo, os países vitimados pelo colonialismo europeu,
como a América, a África e países orientais.
78
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
Ao final de A paz perpétua, Kant escreve um artigo secreto onde afirma: "As máximas
dos filósofos sobre as condições de possibilidade da paz pública devem ser tomadas em
consideração pelos Estados preparados para a guerra" (KANT, [s/d], p.149). A filosofia tem
de ser uma atividade pública, e o filósofo, por força de sua atividade, não pode se calar
diante de situações em que a razão está obscurecida. Os filósofos, pelo caráter de seu
ofício, assim como todos os intelectuais e demais pessoas que usam de sua razão, têm
algo a dizer aos governantes: estes não podem deter arbitrariamente o destino da
humanidade, este deve depender do uso da razão acima de quaisquer interesses.
Conclusão
O texto, de 1784, Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?, ao modo de
conclusão do presente trabalho, indica a passagem da menoridade para a maioridade no
uso da razão. Menoridade que é "a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem
a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a
causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem
de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem" (KANT, 1974, p.100).
A essa categoria de pessoas que vivem na menoridade, Kant chama de "gado
doméstico". "É difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da
menoridade, que para ele se tornou quase uma natureza" (KANT, 1974, p.102). Sair
dessa condição pode ser difícil, mas se ao homem "lhe for dada a liberdade, é quase
inevitável" (KANT, 1974, p.102). A única maneira de possuir a liberdade é tendo coragem
e autonomia de fazer uso do próprio pensamento, e esse espírito racional constitui, para
"para este esclarecimento, porém nada mais se exige senão liberdade" (KANT, 1974, p.104).
A moral da autonomia é do uso esclarecido da razão, a ética kantiana é uma ética
da liberdade e da responsabilidade: o homem é o agente das leis que a si mesmo impõe.
Tornar-se maior, tornar-se sujeito das próprias ações, marca a suprema dignidade humana.
A lição imortal legada por Kant é o valor do homem como fim em si mesmo e
jamais como meio para algo. "Diante de um homem humilde e cidadão comum, no qual
percebo uma integridade de caráter [...], meu espírito se curva" (KANT, 2002, p.125);
através da ética o homem eleva sua grandeza, e o heroísmo, nas palavras de Kant, a
"disposição moral em luta" (KANT, 2002, p.137), torna-o merecedor da felicidade. Tal
ética pode ser compreendida idealisticamente, e essa crítica fora, de fato, feita muitas
vezes. Mas há de se admitir, no entanto, o valor de seus princípios "universalmente
necessários", o que no entendimento de Kant os justificaria por si mesmos.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.79-81, jul./dez. 2008
79
artigos -resumo de monografia
Kant, o "próprio valor" e a "vocação de cada homem" (cf. KANT, 1974, p.102). E mais,
O grande mérito da filosofia do Direito e do Estado concebidas por Kant consiste
em sua exigência de universalização de critérios que permitem a coexistência entre os
homens, isto é, seu mérito reside na exigência moral de paz. Sua filosofia do Estado
continua atual, porque a paz ainda não foi alcançada, esta, mesmo que distante, não
pode ser abdicada pelos filósofos e por todos aqueles que não podem justificar a violência
e o horror na história.
Enfim, a metafísica que não pode ser conhecida pelo entendimento é encontrada
como o fundamento incondicionado da razão pura prática: apesar de ser fenômeno
entre os fenômenos do mundo, a liberdade humana é noumenon, o homem é
transcendentalmente livre, ser capaz de determinar e construir a si mesmo.
80
ISHIKAWA, Ítalo Kiyomi. A ética kantiana e o primado da autonomia
Referências
GOMES, Alexandre Travessoni. O fundamento de validade do direito
direito: Kant e Kelsen. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2004.
GUIMARÃES, Waldir Souza. As fórmulas do imperativo categórico de Kant. Revista
Estudos, Goiânia, v.31, n.3, p.517-541, 2004.
Estudos
eritas, Porto Alegre, v.46,
HECK, JOSÉ N. Autonomia, sentimento de respeito e direito. Veritas
n.4, p.527-542, 2001.
HECK, JOSÉ N. Direito e lei em Kant. Revista Síntese
Síntese, Belo Horizonte, Nova Fase, v.25, n.80,
p.43-72, 1998.
HECK, JOSÉ N. Imperativo categórico e doutrina dos deveres em Kant. Revista Estudos
Estudos,
Goiânia, v.31, n.3, p.497-516, 2004.
KANT, IMMANUEL. A metafísica dos costumes
costumes. Contendo a doutrina do direito e a
doutrina da virtude. Tradução e notas de: Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2003.
KANT, IMMANUEL. A paz perpétua e outros opúsculos
opúsculos. Tradução de: Artur Mourão.
Lisboa: Edições 70, [s/d].
KANT, IMMANUEL. Crítica da razão prática
prática. Tradução de: Valério Rohden. São Paulo:
Martins Fontes, 2002.
KANT, IMMANUEL. Crítica da razão pura
pura. Tradução e introdução de: Valério Rohden. São
Paulo: Abril, 1983. Coleção Os Pensadores.
KANT, IMMANUEL. Crítica da razão pura
pura. Tradução de: Manuela Pinto dos Santos. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
KANT, IMMANUEL. Lógica
Lógica. Tradução de: Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1992.
KANT, IMMANUEL. O conflito das faculdades
faculdades. Tradução de: Artur Mourão. Lisboa: Edições
70, [s/d].
KANT, IMMANUEL. Textos seletos
seletos. Tradução de: Raimundo Vier e Floriano de Souza
Fernandes. Petrópolis: Vozes, 1974.
NOUR, SORAYA. À paz perpétua de Kant
Kant: filosofia do direito internacional e das relações
internacionais. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
PASCAL, GEORGES. Compreender Kant
Kant. Petrópolis: Vozes, 2005.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.81-81, jul./dez. 2008
81
artigos -resumo de monografia
KANT, IMMANUEL. Fundamentação da metafísica dos costumes
costumes. Tradução de: Paulo
Quintela. Lisboa: Edições 70, 1997.
Utilitarismo Negativo
Negative Utilitarism
Leonardo Aureliano dos Reis T. dos Santos*
Resumo
Tendo como fundamento a epistemologia falseabilista, apresenta-se
a proposta popperiana de um utilitarismo negativo como alternativa
à versão clássica. A adoção de um princípio de minimização do
sofrimento seria decorrente da assimetria moral e lógica existente
entre dor e prazer análoga àquela existente entre verificabilidade e
falseabilidade. Defende-se aqui a coerência desta proposta com o
pensamento de Popper e com uma crítica à epistemologia milleana,
possibilitando uma aproximação do utilitarismo com a moral comum
e combatendo os possíveis efeitos perversos de uma política
direcionada para o incremento do bem-estar.
Palavras-chave
alavras-chave: utilitarismo; crítica; teleologia; assimetria;
sofrimento; falseacionismo.
* O presente artigo foi elaborado
originalmente a partir do trabalho
de conclusão de curso apresentado
à Faculdade de Filosofia São
Boaventura do Centro Universitário
Franciscano do Paraná (FAE).
Graduado em filosofia pelo Instituto
de Filosofia São Boaventura.
Atualmente cursa teologia no ITF –
Instituto Teológico Franciscano.
[email protected]
Having as a basis the falseabilist epistemology, we present the
popperian proposal of a negative utilitarism as an alternative to
the classic version. The adoption of a principal of minimizing
suffering would come from the moral and logic asymmetries
existing between pain and pleasure, similar to that of trueness
and falsehood. We defend the coherence of this proposal with
the thought of Popper and with criticism of the milean
epistemology, allowing for an approximation of utilitarianism with
the common moral and fighting the possible negative effects of
policies directed towards increasing well-being.
Key W
ords
Words
ords: utilitarianism; critic; theology; asymmetry; suffering.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.83-97, jul./dez. 2008
83
artigos -resumo de monografia
Abstract
Introdução
A idéia de um utilitarismo que fosse negativo vem da proposta que Karl Popper
aponta em Conjecturas e refutações: um princípio mais modesto e realista para substituir
o princípio clássico do utilitarismo. – Esta concepção apareceu pela primeira vez em A
sociedade democrática e seus inimigos, em duas notas de rodapé. Em 1958, Popper
recebeu uma crítica de R. N. Smart, no artigo Negative utilitarianism, onde o autor, ao
mesmo tempo em que nomeava a tese de Popper, estabelecia a crítica que posteriormente
tornou-se a mais conhecida.
Este artigo é uma revisão bibliográfica, tanto dos textos de Popper quanto de
comentadores, a fim de analisar a coerência do utilitarismo negativo (doravante UN) em
relação às teses fundamentais da epistemologia popperiana. Ao mesmo tempo, estabelecese uma comparação da versão negativa do utilitarismo com a clássica.
Para tanto, apresentar-se-á na primeira parte uma introdução ao utilitarismo, a
partir de Bentham e Mill. Outros referenciais poderiam ser apresentados, mas a brevidade
não o permite. Segue-se, então, uma crítica àquilo que neste trabalho é chamado de
utilitarismo clássico. O fundamento desta crítica é a epistemologia popperiana,
particularmente presente na Lógica da pesquisa científica, e também com embasamento
na crítica de Popper ao historicismo. A seguir, há uma contraposição entre o que seriam
as versões clássica e negativa do utilitarismo, tangida pela crítica decorrente de dois
aspectos do pensamento de Karl Popper: a crítica de cunho lógico ao positivismo e a
crítica ao historicismo, apesar de em alguns pontos haver coincidência entre ambas. Para
a crítica à proposta popperiana de um UN, são tomados dois referenciais: Roderick Ninian
Smart, para quem o UN implicaria na destruição de toda a humanidade, e Martin Diego
Farrell, defendendo a tese de que a proposta em questão não toca nenhum dos problemas
fundamentais do utilitarismo.
O que se segue é, portanto, uma discussão acerca da proposta popperiana de
reformulação do utilitarismo a partir da obra do próprio Popper com especial atenção
para as interpretações de Bermudo e Farrell.
84
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
1 A versão clássica do utilitarismo
Jeremy Bentham é o primeiro grande sistematizador do que se conhece por
utilitarismo. Para ele, a natureza teria colocado o ser humano sujeito a dois senhores,
que determinariam toda a vida: o prazer e a dor. O princípio da utilidade seria a utilização
deste duplo senhorio como fundamento para uma ética conseqüencialista1, que prime
pela busca do prazer e pela fuga da dor, definida nos seguintes termos:
Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova
qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade
da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros
termos, segundo a tendência de promover ou a comprometer a referida felicidade
(BENTHAM, 1974, p.10).
Para Bentham, há seis princípios que fundamentam a moral e a legislação. Por
diversas vezes, leituras unilaterais comprometeram a coerência de seu pensamento. A
seguir, tem-se a apresentação dos seis princípios (P) do utilitarismo com as respectivas
regras (R) morais:
I
Princípio de utilidade:
P1. Todo ser humano busca sempre o maior prazer possível.
R1. Busque sempre o prazer e fuja da dor.
II Princípio da identidade de interesses:
P2. O fim da ação humana é a maior felicidade de todos aqueles cujos interesses
estão em jogo. Obrigação e interesse estão ligados por princípio.
R2. Aja de forma que sua ação possa ser modelo para os outros.
P3. A utilidade das coisas é mensurável e a descoberta da ação apropriada
para cada situação é uma questão de aritmética moral.
R3. Faça o cálculo dos prazeres e das dores e defina o bem em termos numéricos.
1
Por ética conseqüencialista entenda-se o mesmo que ética teleológica. Neste modo de abordar a ética verifica-se a
subordinação do conceito de justo ao télos, que é a finalidade, o bem. O justo é, pois, definido como o que conduz
o homem ao bem. Os adversários desta abordagem costumam iniciar seus ataques argumentando, com base em
casos hipotéticos, que para haver incremento de bem-estar dever-se-ia necessariamente violar uma regra moral. A
resposta dos que defendem uma ética conseqüencialista segue uma das formas seguintes: 1. Ética teleológica não
requer, necessariamente, violação de alguma regra moral (esta parece ser a resposta da maior parte dos utilitaristas
clássicos); 2. Ética conseqüencialista pode, eventualmente, requerer violação de alguma regra moral, mas tal violação
pode ser justificada pelos próprios fundamentos da moral, como nos casos em que o indivíduo se vê entre duas
opções, sendo que ambas hão de violar a moral, e escolhe a que lhe acarretará o menor mal (este argumento, no
século XX, foi defendido por F. C. Sharp e J. J. C. Smart) (cf. OLSON, 1967, p.88).
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.85-97, jul./dez. 2008
85
artigos -resumo de monografia
III Princípio da economia dos prazeres:
IV Princípio das variáveis concorrentes:
P4. O cálculo moral depende da identificação do valor aritmético de sete variáveis:
intensidade/duração/certeza/proximidade/fecundidade/pureza/extensão.
R4. Procure maximizar a objetividade e exatidão de suas avaliações morais.
V Princípio da comiseração:
P5. O sofrimento é sempre um mal. Ele só é admissível para evitar um sofrimento
maior.
R5. Alivie o sofrimento alheio.
VI Princípio da simetria:
P6. Prazer e dor possuem valores simétricos, pois a eliminação da dor sempre
agrega prazer.
R6. Escolha sempre a ação que resulta na maior quantidade de prazer, agregando
o prazer da eliminação de sofrimento (PELUSO, 1998, p.24-25).
De acordo com a listagem acima, tanto a partir do princípio da comiseração quanto
do princípio da simetria, é possível, pois, admitir que em Bentham há consideração do
sofrimento, ainda que este seja apenas o negativo da dor.
O utilitarismo de Mill, por seu turno, é uma versão mais refinada do que o de
Bentham (Cf. CARVALHO, 1997, p.3). Algumas idéias que este julgou claras o suficiente,
apesar de não o serem, aquele procurou tornar mais evidentes. A versão milleana do
utilitarismo é conhecida como liberalismo utilitarista (Cf. SIMÕES, 2005, p.77-78), pois
Mill traz para a reflexão utilitarista a ênfase na liberdade como fator primordial para o
incremento do bem-estar. Em Utilitarismo, ele afirma que o princípio da maior felicidade,
o que Bentham defendera, exerceu papel preponderante na formulação até mesmo das
doutrinas morais que o rejeitam (Cf. MILL, 2000, p.180-181).
E afirma ainda que o mesmo princípio da utilidade estaria a designar não o que
contrastasse com o prazer, mas o prazer em si mesmo e a ausência de sofrimento. Para
Mill, que parece ter sido o primeiro a usar o termo “utilitarismo” para denotar a moral
fundada no princípio da utilidade, o conceito de utilidade coincide com aquele
apresentado por Bentham, pois o utilitarismo é?
O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como a fundação
da moral sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a
promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o contrário da
felicidade. Por felicidade se entende prazer e ausência de dor; por infelicidade,
dor e privação do prazer (MILL, 2000, p.187).
A diferença considerável surge quando se trata daqueles dois senhores que Bentham
já havia apresentado, pois, segundo Carvalho (1997, p.3-4), Mill não identificaria a mera
satisfação com o prazer. Bentham, ao que tudo indica, não aceitaria também o disparate de
identificar os prazeres de alguém culto aos de um néscio, apesar de não ter desenvolvido tal
distinção. Mill ainda retoma mais um elemento proposto por Bentham em um dos princípios
da moral, mais precisamente no quarto; fazendo isso, Mill valoriza mais os prazeres mentais.
86
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
É preciso admitir, entretanto, que em geral os escritores utilitaristas reconhecem a
superioridade dos prazeres mentais sobre os corpóreos principalmente pela maior
permanência, maior segurança, pelo menor custo etc., dos primeiros por suas
vantagens circunstanciais, mais que por sua natureza intrínseca (MILL, 2000, p.188).
O critério apresentado por Mill para a escolha de determinados prazeres é a
unanimidade da escolha, isto é, havendo um que seja preferido por todos, sem a
interferência de uma obrigação moral ou qualquer sentimento, ele deve ter uma
superioridade qualitativa.
Afirmou-se acima que o princípio da utilidade supõe o incremento da felicidade e
a diminuição do sofrimento. É mister, contudo, lembrar que Mill defende que: “nem as
dores nem os prazeres são homogêneos entre si, e a dor e o prazer são sempre
heterogêneos” (MILL, 2000, p.193). A heterogeneidade entre ambos, porém, não significa
assimetria moral, de fato continua-se a descontar do prazer a dor nele eventualmente
engendrada. Isto torna patente a preocupação de Mill com o sofrimento, pois sua definição
de moralidade tem grande consideração até mesmo pelos animais.
Assim, é possível definir a moralidade como as regras e os preceitos da conduta
humana, cuja observação permitiria que uma existência tal como a descrita fosse
assegurada, na maior medida possível, a todos os homens; e não apenas a eles,
mas também, na medida em que compõem a natureza das coisas, a todos os
seres sencientes da criação (MILL, 2000, p.194-195).
[...] uma vez que a utilidade inclui não somente a busca da felicidade, como
também a prevenção ou mitigação da infelicidade; e se o primeiro desses fins for
quimérico, o último abrirá campo de ação mais amplo, responderá a necessidades
mais imperativas, enquanto a humanidade julgar conveniente a vida [...] (MILL,
2000, p.195).
A solução apontada por Mill é muito próxima da de Popper, pois para ele o
obstáculo real para a realização da felicidade na vida da maioria das pessoas é a “deplorável
educação e os deploráveis arranjos sociais” (MILL, 2000, p.196). Pode-se perceber aí
alguma aproximação com a mecânica social fragmentária2 que Popper propõe.
2
Em La miseria del historicismo, Karl Popper apresenta, como alternativa ao modo historicista de propor transformações
na sociedade, a tecnologia social fragmentária e sua aplicação, a engenharia fragmentária. A tecnologia fragmentária,
ou gradual, tem como tarefa fundamental, coerente com a metodologia da pesquisa científica, destacar o que não
pode ser levado a cabo. São chamados de tecnologia social fragmentária os métodos mais afortunados na solução de
problemas no campo da sociologia. Segundo Popper (1973, p.72), haveria algum risco no uso do termo “tecnologia”,
pois este remeteria a alguns modelos que culminam na planificação. O adjetivo “fragmentária” tem assim dupla
função: afastar a associação com modelos que culminem na planificação econômica e expressar a idéia da valorização
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.87-97, jul./dez. 2008
87
artigos -resumo de monografia
A existência de que Mill faz alusão é aquela que seja isenta, o máximo possível, da
dor e do sofrimento e rica em prazeres. A partir de tais questões já se entrevê que a
preocupação com a problemática do sofrimento sempre esteve presente na obra de Mill.
Há alguns pontos de sua obra em que tal preocupação aparece de maneira bastante
lúcida, inclusive dando algum aceno para a versão negativa do utilitarismo.
A atenção de Mill para com o sofrimento, entretanto, não isenta o utilitarismo
das críticas. O ponto a seguir apresenta uma breve introdução ao pensamento de Popper
seguida da apresentação da crítica popperiana à epistemologia milleana, de modo que a
crítica ao utilitarismo clássico partirá de uma crítica epistemológica.
2 A proposta popperiana
2.1 Racionalismo crítico
O pensamento de Popper repousa sobre uma constatação: aprende-se com os erros.
Eles fornecem as maiores certezas, certezas negativas que delineiam por onde a pesquisa
não poderá prosseguir e, conseqüentemente, mantêm abertas muitas sendas ao
conhecimento que progride, estabelecendo afirmações provisórias sobre a realidade, ou
conjecturas. Há uma desconfiança para com a certeza que a ciência moderna procura,
conforme a compreensão usual de ciência baseada na indução, um problema que Popper
(1975, p.13-40) afirma ter sido criticado por David Hume3. É a solução a este problema
que norteará todo o desdobramento da filosofia de Popper: o conhecimento conjectural.
“Esta solução tem sido extremamente frutífera, capacitando-me a resolver bom número de
outros problemas filosóficos” (POPPER, 1975, p.13). Nenhuma série de observações de
da particularidade necessária à metodologia proposta por Popper à pesquisa científica. Segue-se daí que a análise
crítica dos problemas particularizados conduzirá a um maior êxito na investigação e, mesmo que não haja sucesso,
evitará erros maiores. Os problemas tecnológicos no campo da ciência social podem ser de caráter teórico ou prático,
sendo que os primeiros podem ser públicos ou privados. Apesar de a tecnologia social fragmentária parecer focada
exclusivamente em problemas práticos, pode suscitar numerosos e importantes problemas teóricos, contudo os
critérios de clareza e experimentação, como falseamento através do modus tollens, permanecem válidos. A melhor
proposta para sanar problemas sociais seria, criticamente, aplicar soluções parciais. Este processo é chamado de
engenharia social fragmentária. Segundo Popper, a engenharia social fragmentária é parecida com a engenharia
física que considera que os fins estão fora do campo da tecnologia, pois o que é possível à tecnologia afirmar é a
adequação ou compatibilidade entre tecnologia e fim esperado. Da mesma maneira que o engenheiro físico projeta
máquinas e as remodela para pô-las em funcionamento, também o engenheiro social fragmentário deve projetar,
reconstruir e manejar as instituições que já existem (Cf. POPPER, 1973, p.79). Para planejar a ação o engenheiro
deverá tratar as instituições desde seu caráter funcional ou instrumental. As instituições são os meios a serviço de
certos fins, estariam mais próximas das máquinas do que dos organismos. Porém a eficácia das máquinas sociais é
limitada, elas não são infalíveis. Uma característica da engenharia social fragmentária é que, ainda que os fins sejam
concernentes à sociedade como um todo, é impossível alcançá-los de uma só vez, de maneira global. Diante de
quaisquer fins, ajustes contínuos e correções controladas são, isto é certo, mais lentos, porém mais seguros.
3
É questionável se o que Hume discute seria principalmente o problema da indução. Segundo o professor João Paulo
Monteiro, a interpretação que Popper e Russell fazem de Hume – afirmando que o que estaria em jogo seria a
indução e, no caso de Popper, estabelecendo dois problemas, um lógico e um psicológico – é um exagero que ruma
ao extremo oposto daquilo que Hume de fato propunha no problema da inferência causal. Para o professor Monteiro,
Hume estaria tratando de três problemas: O primeiro é o do papel da associação de idéias; o segundo diz respeito ao
verdadeiro papel da indução, apenas como conseqüência de sua análise da inferência causal; o terceiro problema
seria a definição de costume e hábito (Cf. MONTEIRO, 2005, p.111-128).
88
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
enunciados singulares oferece, pois, base segura para a formulação de algum enunciado
geral, como deve ser uma teoria científica. Assim como formular um enunciado geral a
partir de enunciados particulares é ilegítimo, também procurar a comprovação empírica
de enunciados gerais também o será, dada a extensão destes. Contudo, se é impossível a
comprovação empírica de uma teoria, é perfeitamente possível falseá-la. A saída racional é,
pois, submeter todas as conjecturas a testes severos para falseá-las com o uso do modus
tollens, uma forma dedutiva da lógica tradicional que opera em direção indutiva. Nisto se
verificaria uma assimetria lógica4 entre verificabilidade e falseabilidade resultante da relação
lógica entre as teorias e os enunciados básicos (Cf. POPPER, 1972, p.290).
A partir daí, isto é, a partir das principais idéias gestadas na Lógica da pesquisa
científica, toma corpo todo o pensamento de Karl Popper, que passou a ser chamado
posteriormente de racionalismo crítico. É a partir da crítica de Popper à epistemologia
positivista que se estabelecerá a crítica ao utilitarismo, tendo sempre presente a assimetria
entre verificabilidade e falseabilidade.
2.2 Crítica ao utilitarismo clássico
1) concordância – a causa de um dado efeito será a propriedade que se fizer
presente em todas as ocasiões em que esse feito se manifestar;
2) diferença – a causa de um dado efeito será a propriedade que se fizer presente
em todas as ocasiões em que esse feito se manifestar e estiver ausente em
todas as ocasiões em que esse feito não se manifestar;
3) variação concomitante – a causa de um dado efeito é a combinação das
propriedades que crescem de intensidade quando o efeito cresce de intensidade
e decrescem de intensidade quando o efeito decresce de intensidade.
4) dos resíduos – retire-se de um dado fenômeno aquilo que sabidamente é efeito
de certos antecedentes; o resíduo será efeito dos antecedentes remanescentes
(HEGENBERG, 2001, p.172).
4
A assimetria lógica entre verificabilidade (neste trabalho, correspondente ao que defende o Círculo de Viena) e
falseabilidade está presente até mesmo em enunciados simples como “todos os cisnes são brancos”. Dado que
verificá-lo dependeria de observar todos os cisnes e falseá-lo dependeria apenas de encontrar um cisne que não fosse
branco, é muito mais simples e correto, do ponto de vista lógico, submeter o enunciado a teste. No caso da ciência,
os enunciados presentes em leis descritivas e teorias seriam parcialmente decisíveis, isto é, somente podem ser falseáveis
(Cf. POPPER, 1972, p.344). Estabelece-se assim também o critério de demarcação entre ciência e não-ciência.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.89-97, jul./dez. 2008
89
artigos -resumo de monografia
Aqui se critica fundamentalmente a base epistemológica do utilitarismo clássico,
aquela que aparece de maneira mais clara no Sistema de lógica de John S. Mill. Aí se
encontra a principal tese que haveria de fundamentar todo o seu trabalho: a regularidade
na natureza. Esta seria para Mill a premissa que está oculta em qualquer raciocínio indutivo.
Sua metodologia depende de uma lei de causação universal: “Cada evento ou o início de
qualquer fenômeno deve ter uma causa, algum antecedente, de que é, invariável e
incondicionalmente, uma conseqüência” (MILL apud HEGENBERG, 1976, p.180). E para
a determinação das causas, há os quatro procedimentos a seguir:
A admissão de uma lei universal de causação não é ponto pacífico, e uma crítica
acurada, como a de Hume, é suficiente para demonstrar a fragilidade do argumento. É o
que se pode verificar nas teses fundamentais da Lógica da pesquisa científica,
principalmente quando se trata da assimetria entre verificabilidade e falseabilidade. Já,
em La miséria del historicismo, Popper critica a aplicação da metodologia defendida por
Mill no estudo da sociedade e da história. Para Mill as leis históricas de sucessão
determinariam uma seqüência de acontecimentos na ordem em que realmente ocorrem.
O método milleano consiste em
intentar, por el estudio y análisis de los hechos generales de la historia, el
descubrimiento... de la ley del progresso; la cual, uma vez determinada debe
permitirnos la predicción de acontecimientos futuros, de la misma forma que
después de unos cuantos términos de una serie algebraica infinita podemos descubrir
el principio de regularidad en su formación y predecir el resto de la serie hasta
cualquier número de términos que queramos (MILL, apud POPPER, 1973, p.132).
Não se trata de seqüências matemáticas simples, isto seria atribuir uma rigidez
muito grande à história. Mill defende a existência de leis de sucessão na história que,
para Popper, inexistem. Convém ressaltar, porém, que alguns fenômenos ligados à
sociedade parecem seguir uma tendência de caráter dinâmico, tese que, segundo Popper,
seria ratificada pelo próprio Mill ao descrever sua lei histórica de progresso como uma
propensão a um estado de coisas melhor, no qual haja mais felicidade (Cf. POPPER,
1973, p.133). Popper também defende esta idéia, mas não acredita que haja leis regendo
a história, pois o curso da história está fortemente influenciado pelo crescimento do
conhecimento, e qualquer formulação de lei que almeje prever o curso da história partirá
sempre do conhecimento já previamente existente. A tese milleana das leis históricas de
sucessão é pouca coisa além de uma coleção de metáforas mal aplicadas (Cf. POPPER,
1973, p.134).
2.3 O utilitarismo negativo: adoção de um princípio de
minimização do sofrimento
O fato de o utilitarismo ter surgido como uma ética adaptada ao contexto do século
XIX, assumindo a filosofia empirista, a metodologia positivista e as concepções naturalistas
impostas à filosofia pela ciência moderna, caracteriza sua impostura teórica: apoiar-se em
uma teoria empirista da natureza humana, para ditar um princípio ético normativo e
aparentemente oposto aos ditames naturais (Cf. BERMUDO, 1992, p.35-36).
Deste modo, o raciocínio que norteia a proposta de adoção de um princípio de
redução do sofrimento é análogo à posição popperiana no campo da epistemologia.
Seria muito mais simples procurar agir nos problemas que eventualmente se encontrassem
em uma sociedade do que procurar incrementar a felicidade dos indivíduos.
90
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
De maneira que uma ação seria moralmente aceita à medida que promovesse o
bem estar do maior número de seres humanos, daí a derivação do Justo do Bem. De
fato, poder-se-ia afirmar que a promoção do bem-estar não supõe a minimização do
sofrimento, contudo Mill admite que o implemento da felicidade (utilidade) implica
necessariamente na diminuição da dor.
O que incita Popper a formular sua variação do utilitarismo é a exigência moral de
igualdade, liberdade e ajuda aos necessitados (POPPER, 1972, passim). Sendo assim, sua
fórmula utilitária segue, de certa forma, o rumo já seguido na epistemologia: o da negatividade.
Acho que há certa espécie de analogia entre esta concepção da ética e a concepção
da metodologia científica que defendi em minha obra Logik der Forschung. Será
mais claro, no campo da ética, formularmos nossas exigências em forma negativa,
isto é, reclamando a eliminação dos sofrimentos em vez da promoção da
felicidade. Similarmente, é útil formular a tarefa do método científico como a
eliminação das teorias falsas (dentre as várias tentativas apresentadas para prova),
em vez do alcance de verdades estabelecidas (POPPER, 1959, p.601).
substituir a fórmula utilitária “aspiremos à maior quantidade de felicidade para
o maior número de pessoas”, ou mais sinteticamente “felicidade ao máximo”,
pela fórmula: “a menor quantidade possível de dor para todos”, ou, em resumo,
“dor ao mínimo”. Esta fórmula tão simples pode-se converter, creio, num dos
princípios fundamentais (por certo que não o único) da política pública. (O
princípio da “felicidade ao máximo” parece tender, pelo contrário a produzir
ditaduras benevolentes.) É mister compreender, além disso, que do ponto de
vista moral não podemos tratar simetricamente a dor e a felicidade; isto é, que a
promoção da felicidade é, em todo caso, muito menos urgente que a ajuda
àqueles que padecem e a tentativa de prevenir sua dor (POPPER, 1959, p.546).
Podem-se destacar dois pesquisadores atuais que tratam da tese popperiana: Martin
Diego Farrell (1994, p.210), para quem a tese de Popper não foi aprofundada
adequadamente, e Jose Manuel Bermudo Ávila (1992, passim), que defende a proposta
popperiana como alternativa viável aos problemas do utilitarismo. O que é necessário,
porém, é verificar a coerência da tese basilar do UN: a premência moral da dor sobre o
prazer, que está implícita na idéia basilar do sofrimento mínimo.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.91-97, jul./dez. 2008
91
artigos -resumo de monografia
Se na epistemologia o critério de demarcação é a falseabilidade, ou a possibilidade
de refutação de uma teoria que passa pela procura do erro, da refutação oriunda de ao
menos um caso particular que refute uma afirmação universal; no caso das políticas
públicas, a negatividade está no alvo, no sofrimento que deve ser minimizado.
Popper reconhece que toda premência moral tem sua base na premência do
sofrimento, por isso intenta
2.3.1 Premência da dor sobre o prazer
Já em Jeremy Bentham observa-se que o princípio da comiseração representa uma
preocupação considerável com o sofrimento alheio. O que Popper eventualmente propõe
não é o mesmo princípio, mas uma assimetria que torna o sofrimento premente sobre o
prazer. Isto é o mesmo que afirmar que o principal fundamento da moralidade é o sofrimento.
Não há simetria, do ponto de vista ético, entre sofrimento e felicidade, ou entre
dor e prazer. Tanto o princípio da felicidade máxima dos utilitários como o princípio
de Kant – “promover a felicidade dos demais” – (parecem-me pelo menos em
suas formulações) fundamentalmente errados neste ponto, que, entretanto, não
é de argumento racional [...]. É meu parecer de que o sofrimento humano faz
um direto apelo por auxílio, ao passo que não há tal apelo para que se aumente
a felicidade de um homem que de qualquer modo vá indo muito bem (POPPER,
1959, p.601).
O que ocorre, pois, com a tese popperiana não é somente a colocação da assimetria
moral, mas lógica, porque defender a minimização do sofrimento não é apenas inverter
a antiga máxima utilitarista. O que ocorre de fato é uma assimetria lógica, dado que não
se sabe como tornar as pessoas felizes, mas são bem conhecidos os meios para minimizar
o sofrimento de boa parte da humanidade (MAGEE, 1976, p.85).
Implícita à tese popperiana está a idéia de que a defesa dos utilitaristas clássicos
de um saldo único seria insuficiente para dar conta de todos os problemas que surgiriam
em uma sociedade. Aumentar a felicidade não equivale a diminuir a dor.
2.4 Os três princípios
Bermudo (1992, p.133-140), ao tratar da nota 6, detém-se na análise de três
paradoxos que se afiguram nos três princípios fundamentais do UN, o princípio da
tolerância limitada, o da legalidade suficiente e o do sofrimento mínimo.
O princípio da tolerância limitada baseia-se na paradoxal posição de não ser
tolerante com os intolerantes. Subjaz a tal princípio a defesa necessária da tolerância.
Segundo Popper:
A tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se
estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes; se não
estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques
intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância
(1959, p.579).
Pode-se supor já de antemão que, para Popper, a tolerância não pode ser
compreendida como valor em si, posição bastante lúcida para alguém que prime mais
pelas conseqüências das ações do que pelos meios adotados para efetivar as mesmas.
Por isso, o primeiro princípio do UN deve ser entendido como regra utilitária. Então, a
92
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
proposta da intolerância para com os intolerantes tem em vista a redução do sofrimento.
Quando se trata do paradoxo da intolerância, surgem outros dois paradoxos fundamentais
para que haja clareza sobre a questão da tolerância: o paradoxo da democracia, que
permite limitar o poder do governante, e o da liberdade, que tende à autodestruição
quando ilimitada (Cf. POPPER, 1959, p.579). Esta proposta seria um mecanismo de
autodefesa da sociedade – isto se coaduna perfeitamente com a tese de que a tolerância
não é um bem em si e que também o intolerante não o é, não se persegue o mal moral,
só se combatem seus efeitos (BERMUDO, 1992, p.135).
O princípio da legalidade suficiente assevera que é melhor depositar a defesa dos
direitos e interesses não nas mãos de governantes benevolentes, mas nas instituições e
nas leis: “a luta contra a tirania, ou, em outras palavras, a tentativa de salvaguardar os
outros princípios pelos meios institucionais de uma legislação em vez de pela benevolência
dos que estejam no poder” (POPPER, 1959, p.546).
Semelhante idéia é aceitável somente tendo-se consciência que, para Popper,
Configura-se assim mais uma aplicação à política da metaciência de Popper na
qual o caráter eminentemente crítico é patente. As instituições e as leis estão, neste caso,
como as teorias científicas, abertas à constante reformulação.
O princípio do sofrimento mínimo é o mais importante, porque é a sua aceitação
que determinará o UN. É a conseqüência da adoção da “fórmula: ‘a menor quantidade
possível de dor para todos’, ou, em resumo, ‘dor ao mínimo’” (POPPER, 1959, p.546).
Segundo Popper, haveria três vantagens na adoção de tal princípio: a eliminação do risco
de ditaduras benevolentes, um maior fundamento natural e coerência com a moral comum.
3 Críticas ao utilitarismo negativo
Roderick Ninian Smart (1958, p.542-543), na revista Mind, ao criticar os argumentos
de substituição ao utilitarismo clássico propostos por Popper, formulou também o nome
que é aqui utilizado, UN. Sua crítica continuou sendo muito utilizada por diversos teóricos.
Smart formula a situação hipotética de um possível governante que detenha uma arma
com o poder de destruir toda a humanidade sem lhe causar dor. Caso o dito governante a
destruísse, o ato seria justo a partir das bases do UN, já que a morte de todos implicaria na
eliminação de toda e qualquer possibilidade de sofrimento, na verdade usar a arma seria
até necessário, já que a máxima “minimizai o sofrimento” o exigiria.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.93-97, jul./dez. 2008
93
artigos -resumo de monografia
a democracia não se baseia no princípio de que a maioria deve governar, mas,
antes, no de que diversos métodos igualitários para o controle democrático, tais
como o sufrágio universal e o governo representativo, devem ser considerados
como simplesmente salvaguardas institucionais de eficácia comprovada pela
experiência, contra a tirania, repudiada de modo geral como forma de governo. E
estas instituições devem ser susceptíveis de aperfeiçoamento (POPPER, 1959, p.143).
A partir do UN, atos que reduzam o sofrimento são necessariamente bons, ou
justos – Smart estende isto à possível prevenção de sofrimento futuro. Desde que o
homicídio fosse indolor, a vítima seria beneficiada, pois não poderia mais sofrer. Há,
entretanto, algumas implicações. A primeira, que há de subdividir-se em duas, diz respeito
ao sofrimento das pessoas próximas à vítima. Sendo irreparável a perda de alguém, a
tristeza resultante da morte de um ente querido deve ser contabilizada como sofrimento
e seria um ponto contrário ao homicídio indolor. A segunda conseqüência da primeira
implicação é o possível sofrimento resultante de privar-se uma família da pessoa que lhe
garante o sustento. A segunda implicação diz respeito à sociedade como um todo: esta
poderia tornar-se caótica e as vidas humanas, miseráveis (Cf. SMART, 1958, p.542).
De antemão, a tese de que o UN implicaria a destruição da raça humana é
extravagante (Cf. BERMUDO, 1992, p.128). Não obstante, há um problema: Smart se
prende à máxima do sofrimento mínimo, mas desconsidera os outros dois princípios do
UN. Acabar com o sofrimento não é necessariamente acabar com qualquer possibilidade
de sofrimento. Em todo caso, a proposta de Smart parece cabível apenas em casos em
que o indivíduo não tenha perspectiva de ter seu sofrimento aliviado. Nos casos marginais
da ética, isto parece ser de grande importância; casos como a eutanásia, o aborto e os
direitos dos animais sofreriam algumas alterações, quiçá tornando legítimas ações que
atualmente não o são e rechaçando outras atualmente aceitas.
Uma conseqüência da não consideração dos princípios da legalidade suficiente e
da tolerância limitada é direcionar toda a argumentação para casos individuais, ainda
que seja a soma de todos os indivíduos que esteja em questão como propõe Smart. A
ênfase de Popper nas instituições, vale lembrar, parece indicar qual seja o seu alvo.
Ainda assim seria pertinente a crítica de Smart. A destruição global, como ele a
apresenta, é um ato governamental, de modo que não se refere apenas a decisões
individuais. Tal ato seria correto se, e somente se, não se considerasse o que o princípio
da legalidade suficiente assevera – a saber: a questão fundamental da política não é
“quem deve governar?”, mas “qual o poder deve ser depositado nas mãos dos
governantes?” – somado à falta de clareza quanto à mensuração do sofrimento.
Farrell, por sua vez (1994, p.210), reconhece que se trata do estabelecimento de
um princípio importante de uma ética humanitária. Mas ataca a proposta em três pontos:
1. nunca existiu um utilitarismo exclusivamente positivo; 2. Popper é impreciso ao defender
a assimetria entre dor e prazer. 3. Farrell critica também as possíveis conseqüências da
proposta popperiana.
A defesa do UN, segundo Farrell, passa pela afirmação de que realmente tenha
havido uma versão exclusivamente positiva. Se a versão negativa seria uma tentativa de
reforma, qual utilitarismo Popper estaria tentando reformar? Certamente nem Bentham
nem Mill são aptos a receber tal crítica (Cf. FARRELL, 1994, p.211). Ambos teriam o
sofrimento em conta, quando elaboram suas teorias.
94
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
Imaginemos ahora un estado que ponga en práctica el utilitarismo negativo de
Popper: el objetivo es la disminución del dolor, y no el aumentar la felicidad de
los súbditos. ¿Por qué deberia seguir-se de este solo propósito la adopción de la
democracia como forma de gobierno? Alguien podria sostener que un dictador
benévolo es el indivíduo más capacitado para aliviar el dolor de su pueblo. Es
cuando experimentan grandes calamidades que los pueblos se volven hacia un
dictador, como lo recuerda la historia alemana de la década del treinta (FARRELL,
1994, p.217).
Para Farrell, portanto, o UN não resolve nenhum dos problemas que afetam o
utilitarismo. Os problemas atribuídos por Popper à versão clássica não se verificariam e
os benefícios esperados na adoção da formulação negativa da máxima utilitarista não
seriam certos.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.95-97, jul./dez. 2008
95
artigos -resumo de monografia
Mill, segundo Farrell (1994, p.212), é mais claro que Bentham ao determinar a correção
do agir pela sua capacidade de promover o prazer e de reduzir o sofrimento. A dor seria
prazer negativo. Então, promover a felicidade seria, necessariamente, reduzir o sofrimento.
Farrell admite que Popper poderia ter razão ao defender um utilitarismo
estritamente negativo. É isto que ocorre, esta é a conseqüência da assimetria do ponto
de vista moral entre a dor e o prazer. Neste ponto, Farrell, critica a fragilidade da tese
popperiana, mais precisamente o ponto em que afirma “a promoção da felicidade é, em
todo caso, muito menos urgente que a ajuda àqueles que padecem e a tentativa de
prevenir sua dor” (POPPER, 1959, p.546). O trecho citado é a seqüência da afirmação da
assimetria entra dor e prazer, Popper estaria aí – desconsiderando-se a idéia de que dor
e prazer sejam assimétricos – sustentando um ponto de vista incompatível com as formas
usuais de utilitarismo. No entanto, sua tese da prioridade na redução do sofrimento
seria perfeitamente cabível em qualquer teoria utilitarista (Cf. FARRELL, 1994, p.213).
Admitida a possibilidade de assimetria entre dor e prazer, Farrell estabelece que
Popper não aprofunda de maneira adequada esta tese: não haveria precisão nos
argumentos. O UN continuaria com os mesmos problemas de comparação interpessoal
de sofrimento (no caso das versões clássicas esta comparação seria de utilidade) das
versões que pretende suplantar (Cf. FARRELL, 1994, p.215).
Outro ponto a receber críticas de Farrell é uma conseqüência da proposta
popperiana. Já que Popper supusera que a forma positiva “aumentemos a felicidade”
poderia produzir ditaduras benévolas, a forma negativa seria um antídoto que levaria a
uma forma democrática e liberal de governo. Farrell, para refutar tal afirmação, cita
Bentham e Mill novamente, pois ambos apoiaram a democracia de forma decisiva e
nenhum utilitarista jamais apoiou qualquer regime totalitário (Cf. FARRELL, 1994, p.216).
A tese de Popper é, pois, infundada ao supor que a versão “positiva” tende à ditadura.
Mas há mais um ponto em que ela é falha: a formulação negativa não conduz
necessariamente à democracia.
Considerações finais
Entre as diversas críticas que o utilitarismo clássico recebeu, o fato de permanecer
distante da moral comum é uma constante ao lado do problema de ser fundamentado em
uma epistemologia de cunho positivista que carrega consigo sérios problemas para aquilo
que oferece comumente a base para o discurso ético, a saber a antropologia. Parece que é
a estes problemas que Popper intenta solucionar. É inegável, ainda, que Popper escreveu
muito pouco sobre a proposta de adoção de um princípio de minimização do sofrimento.
Assim, qualquer estudo acerca do UN é dificultado pela escassez bibliográfica.
A proposta central deste trabalho: da coerência entre o UN e a epistemologia de
Popper, pode-se afirmar, é ponto pacífico, uma vez que ele mesmo propõe tal coerência.
Além disso, a idéia de uma ética teleológica que priorize a minimização do sofrimento é
parte integrante do pensamento político apresentado, sobretudo, em A sociedade
democrática e seus inimigos e em La miseria del historicismo. De modo que, reformulada
a base epistemológica, é mister reestruturar também a proposta ética. A tese basilar do
UN, o sofrimento mínimo, é a necessária alternativa quando se percebe que produzir
riqueza não equivale a diminuir a dor. Já a idéia de que o UN eliminaria o risco,
presumivelmente engendrado na versão clássica, de propiciar ditaduras benevolentes é
discutível. Popper parece estar criticando os rumos seguidos por diversas nações, levadas
a isso pela máxima “aumentai a felicidade”. Contudo, as ditaduras, sejam quais forem,
não se coadunam com o utilitarismo clássico, principalmente se o referencial tomado for
John S. Mill (defende-se aqui uma interpretação mais recente de Mill que procura
compreender seu Utilitarianism à luz do que é proposto em On Liberty).
O UN, portanto, diferente do que afirma Farrell, resolve pelo menos dois dos
problemas da versão clássica: a base epistemológica e a distância da moral comum. Uma
vez que a versão estritamente negativa implica em uma reorganização dos pressupostos
e conceitos fundamentais do utilitarismo, tornando-o mais próximo da moral comum e
revitalizando um traço que, em Bentham, era marcante: o humanismo.
96
SANTOS, Leonardo Aureliano dos Reis T. dos. Utilitarismo negativo
Referências
BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral
moral. Tradução de: Luiz João
Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1974. Os Pensadores.
BERMUDO, J. M. Eficacia y Justicia
Justicia. Possibilidad de un utilitarismo moral. Barcelona:
Horsori, 1992.
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de. O utilitarismo de John Stuart Mill: Um outro
olhar. 1997. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/cefm/textos/MCECILIA.DOC>.
Acesso em: 11/04/2007.
FARRELL, Martín Diego. Métodos de la ética
ética. Buenos Aires: AR. Abeledo-Perrot, 1994.
HEGENBERG, Leônidas. Etapas da investigação científica
científica: observação, medida, indução.
São Paulo: EPU/EDUSP, 1976. V.1.
HEGENBERG, Leônidas. Saber de e saber que
que: alicerces da racionalidade. Petrópolis:
Vozes, 2001.
MAGEE, Bryan. Popper
opper. Great Britain: Fontana/Collins, 1976.
MILL, John Stuart. A liberdade; utilitarismo
utilitarismo. Tradução de: Eunice Ostrensky. São Paulo:
Martins Fontes, 2000.
MONTEIRO, João Paulo. Hume: três problemas centrais. Doispontos
Doispontos, Curitiba, UFPR, v.1,
n.2, jan/jun, p.111-128, 2005. Disponível em: <http://www.filosofia.ufpr.br/public/2pt01/
numero2/joao.pdf>. Acesso em: 01/11/2007.
OLSON, Robert. Teleological ethics. In: EDWARDS, Paul. The encyclopedia of philosophy
philosophy.
V.7-8. New York: Macmillan publisshing & The Free Press, 1967. p.88-89.
POPPER, Karl R. A lógica da pesquisa científica
científica. Tradução de: L. Hegenberg e Octanny S. da
Mota. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1972.
POPPER, Karl R. A Sociedade democrática e seus inimigos
inimigos. Tradução de: Milton Amado.
Belo Horizonte: Itatiaia, 1959.
POPPER, Karl R. Conhecimento objetivo
objetivo. Tradução de: Milton Amado. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975.
POPPER, Karl R. Conjecturas e refutações
refutações. 4.ed. Tradução de: Sérgio Bath. Brasília:
EdUnB, 1972.
POPPER, Karl R. La miseria del historicismo
historicismo. Tradução espanhola de: Pedro Schwartz.
Madri: Alianza Editorial, 1973.
SIMÕES, Mauro Cardoso. Utilidade e liberdade em John Stuart Mill. Enfoques
Enfoques, Revista de la
Plata, Año XVII, n.1, otoño 2005, p.77-82.
Universidad Adventista Del Plata
SMART, Roderick Ninian. Negative Utilitarianism. Mind
Mind, v.67, n.268. Oxford: Oxford
University Press, Outubro de 1958. p.542-543.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.97-97, jul./dez. 2008
97
artigos -resumo de monografia
PELUSO, Luis Alberto. Utilitarismo e ação social. In: PELUSO, L. Alberto (Org.). Ética &
utilitarismo. Campinas: Alínea, 1998, p. 13-26.
utilitarismo
Os Dois Infinitos*
The two infinites
* Fragmentos extraídos de PASCAL,
B. P ensées
ensées. Texte de l’édition
Brunschvicg. Paris: Librairie Garnier
Frères, 1948, p.87-93, 131.
Tradução de Enio Paulo Giachini.
[Frag. 72] Que o homem contemple pois a natureza
inteira em sua majestade elevada e plena, que ele afaste
seu olhar dos objetos baixos que estão ao seu redor. Que
olhe para essa luz cintilante, postada como uma lâmpada
eterna para alumiar o universo, que a terra lhe pareça como
um ponto do vasto curso descrito por esse astro, e que se
admire de que esse vasto curso não é ele próprio mais que
um ponto muito débil frente ao curso abrangido pelos
astros que giram no firmamento.
Mas se nossa vista se detém ali, que a imaginação a
ultrapasse; é mais fácil ela cansar-se de conceber do que a
natureza de lhe fornecer. Todo esse mundo visível não passa
de um traço imperceptível no amplo seio da natureza.
Nenhuma idéia pode se aproximar de tal. Podemos muito
bem inflar nossas concepções além dos espaços
imagináveis, não vamos conceber mais que átomos da
realidade das coisas. É uma esfera cujo centro está em todo
lugar, e a circunferência em parte alguma. Enfim, é a maior
característica sensível do total-poder de Deus, de tal modo
que nossa imaginação se perde nesse pensar.
Tendo voltado a si, que o homem considere o que ele
é frente àquilo que é; que observe a si como desgarrado
nesse cantão afastado da natureza; e dessa pequena cela
onde se acha instalado, quero dizer, o universo, que aprenda
a avaliar e estimar a terra, os reinos, as cidades e a si mesmo,
em seu justo preço. O que é um homem no infinito?
Mas a fim de apresentar-lhe um outro prodígio
igualmente desconcertante, que ele procure pelas coisas as
mais delicadas naquilo que ele conhece. Que uma lêndea lhe
oferece na pequenez de seu corpo partes incomparavelmente
menores, pernas com articulações, veias nas pernas, sangue
nas veias, humores no sangue, gotas nesses humores, vapores
nessas gotas; e que, dividindo ainda essas últimas coisas, ele
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.99-103, jul./dez. 2008
99
traduções
Blaise Pascal
esgote suas forças para concebê-las, e que o último objeto ao qual consegue alcançar seja
objeto de nosso discurso agora; possivelmente imaginará estar diante da pequenez extrema
da natureza. Quero fazer-lhe ver ali dentro, porém, um novo abismo. Quero pintar-lhe não
apenas o universo visível, mas a imensidão que podemos conceber da natureza, na clave
dessa fenda do átomo. Que ele veja ali uma infinidade de universos, cada um dos quais
tendo seu firmamento, seus planetas, sua terra, na mesma proporção que o mundo visível;
nessa terra, animais, e por fim lêndeas nas quais irá encontrar aquilo que esses primeiros
deram; e encontrando ainda nos outros a mesma coisa sem fim e sem repouso, que ele se
perca nessas maravilhas, tão desconcertantes por sua pequenez como as outras por sua
extensão; pois quem não se admirará de nosso corpo, que há pouco não era perceptível no
universo, imperceptível ele mesmo no seio do todo, seja ora um colosso, um mundo, ou,
antes, um todo frente ao nada onde se pode chegar.
Quem assim se considerar se assustará de si mesmo, e considerando que está
suspenso na massa que a natureza lhe deu, entre os dois abismos do infinito e do nada,
tremerá diante da visão dessas maravilhas; e mudando sua curiosidade em admiração,
estará mais disposto a contemplá-las em silêncio do que procurá-las com presunção.
Pois, afinal, o que é o homem na natureza? Um nada frente ao infinito, um todo
frente ao nada, um meio entre nada e tudo. Infinitamente distante de compreender os
extremos, o fim das coisas e seu começo estão invencivelmente escondidos dentro de
um segredo impenetrável, igualmente incapaz de ver o nada donde foi retirado e o
infinito que o engole.
Que fará ele, então, a não ser perceber [alguma] aparência do meio das coisas,
num desespero eterno de não conhecer seu princípio nem seu fim? Todas as coisas
saíram do nada e são levadas até o infinito. Quem seguirá essa marcha estonteante. O
autor dessas maravilhas as compreende. Todo e qualquer outro não o pode fazer.
Sem terem contemplado esses infinitos, os homens puseram-se temerariamente a
investigar a natureza, como se tivessem qualquer proporção para com ela. É estranho
eles terem querido compreender os princípios das coisas e a partir dali alcançar conhecer
o todo, por uma presunção tão infinita quanto seu objeto. Com efeito, é impossível
formar tal desígnio sem uma presunção ou uma capacidade infinita como a natureza.
Quando se é instruído, compreende-se que, tendo a natureza gravado sua imagem
e a de seu autor em todas as coisas, todas essas contêm, quase todas, algo de sua dupla
infinidade. Vemos assim que todas as ciências são infinitas na extensão de sua investigação,
pois quem duvida por exemplo que a geometria tem uma infinidade de infinidades de
proposições a expor? São infinitas tanto na multidão quanto na debilidade de seus princípios;
com efeito, quem não percebe que aquelas que propomos como as derradeiras não se
sustentam a si mesmas, apoiando-se em outras, que tendo ainda outras como apoio,
jamais admitem o último? Mas nós estabelecemos últimos que parecem ser à razão, como
fazemos nas coisas materiais onde chamamos de indivisível a um ponto além do qual
nossos sentidos nada mais percebem, embora infinitamente divisível e por natureza.
100
PASCAL, Blaise. Os dois infinitos
1
TÁCITO, citado por Montaigne, XXX, 8.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.101-103, jul./dez. 2008
101
traduções
Desses dois infinitos das ciências, aquele infinito da grandeza é bem mais sensível
e é por isso que um bocado de pessoas pretendeu poder conhecer todas as coisas. “Vou
falar de todas as coisas”, dizia Demócrito.
Mas o infinito em pequenez é bem menos visível. Preferentemente os filósofos
pretenderam ali chegar, e é ali onde todos tropeçaram. Foi o que deu lugar a esses títulos
tão comuns: os princípios das coisas, os princípios da filosofia e semelhantes, embora
pareçam modestos, são na realidade tão faustosos como esse outro que nos mostra sem
nos deixar ver: De omni scibili.
Cremos naturalmente sermos mais capazes de alcançar o centro das coisas do que
abraçar sua circunferência; a extensão visível do mundo nos ultrapassa visivelmente; mas
como somos nós que ultrapassamos as coisas pequenas, cremos sermos mais capazes de
possuí-las, e todavia, não é preciso de menos capacidade para ir até o nada do que para ir
ao todo: ela deve ser infinita, tanto para um quanto para o outro, e parece-me que quem
compreendeu os princípios últimos das coisas poderia também alcançar conhecer o infinito.
Um depende do outro, e um conduz ao outro. Essas extremidades se tocam e se reúnem
em virtude de terem se distanciado, e se reencontram em Deus e em Deus somente.
Conheçamos pois nosso alcance; somos alguma coisa e não somos tudo; isso que
temos de ser nos priva do conhecimento dos primeiros princípios que nascem do nada;
e o pouco que temos de ser nos oculta a vista do infinito.
Na ordem das coisas inteligíveis, nossa inteligência ocupa o mesmo nível que
nosso corpo na extensão da natureza.
Delimitados em todo gênero, este estado que ocupa o meio entre dois extremos
se encontra em todas as nossas capacidades. Nossos sentidos nada percebem de extremo,
muito barulho nos ensurdece, muita luz nos cega, distância muito grande ou muito
pequena nos impede a vista, um discurso muito longo ou muito breve torna-se obscuro,
muita verdade nos assombra (conheço pessoas que não conseguem compreender que
tirando 4 de 0 resta 0), os primeiros princípios têm evidência demasiada para nós, prazer
demasiado incomoda; na música, muitas consonâncias acabam desagradando; muitos
benefícios irritam, queremos ter com que pagar a dívida. [Beneficia eo usque laeta sunt
dum videntur exsolvi posse; ubi multum ante venere, pro gratia odium redditur1]. Não
sentimos nem o extremo calor nem o frio extremo; as qualidades excessivas são nossas
inimigas, e não são sensíveis; não as sentimos, sofremo-las. Demasiada juventude e
demasiada velhice impedem o espírito, muita ou muito pouca instrução; enfim, para
nós, as coisas extremas são como se não fossem, e em sua perspectiva nós não somos;
elas nos escapam, ou nós a elas.
Eis aí nosso verdadeiro estado; é o que nos torna incapazes de saber certamente e
de ignorar absolutamente. Vagueamos sobre um vasto meio, sempre incertos e flutuando,
empurrados de um lado ao outro. Qualquer forma à qual pensemos em nos prender,
afirmando-nos, isso começa a oscilar e nos deixa; e se a seguimos, escapa à nossa captura,
escorrega e foge numa fuga eterna. Nada se detém para nós. É o estado que nos é
natural, e no entanto o mais contrário à nossa inclinação; ardemos de desejo por encontrar
um assento firme e uma base última e constante para ali edificar uma torre que se eleve
ao infinito, mas todo nosso fundamento se rompe, e o solo se fende até o abismo.
Não procuremos, portanto, ponto de segurança e de firmeza. Nossa razão é
desiludida constantemente pela inconstância das aparências, nada pode fixar o finito
entre os dois infinitos que o abarcam e dele fogem.
Uma vez tendo bem compreendido isso, creio que nos manteremos em repouso,
cada um no estado onde a natureza o colocou. Se esse é o meio que nos foi legado,
estando sempre distantes dos extremos, que importa então que o homem tenha um
pouco mais de inteligência das coisas? Se ele a tem, ele as tomará de modo um pouco
mais elevado. Ele não está infinitamente distante do fim, e a duração de nossa vida não
está infinitamente [distante] da eternidade, mesmo que dure dez anos a mais?
Frente a esse infinito, todos os finitos são iguais; e não vejo razões para assentar
sua imaginação antes num do que no outro. A simples comparação que fazemos de nós
e do finito nos deixa acabrunhados.
Se se esforçasse para estudar o primeiro veria como é incapaz de alcançar o outro.
E como poderia uma parte conhecer o todo? Mas talvez ele aspirasse a conhecer, pelo
menos, as partes com as quais tem certa proporção. Mas as partes do mundo têm todas
uma tal remissão e um tal encadeamento mútuo que me parece impossível conhecer
uma sem a outra e sem o todo.
O homem por exemplo está remetido a tudo que ele conhece. Precisa de lugar
para o conter, de tempo para durar, de movimento para viver, de elementos que o
componham, de calor e de alimentos para (se) nutrir, de ar para respirar; ele vê a luz,
sente o corpo; enfim, tudo recai sob sua aliança. Para conhecer o homem, portanto, é
preciso saber donde vem que ele precisa de ar para subsistir, e para conhecer o ar, saber
como ele tem essa remissão com a vida do homem etc. A chama não subsiste sem o ar;
de modo que para conhecer um é preciso conhecer o outro.
Ora, uma vez que todas as coisas são causadas e causadoras, auxiliadas e
auxiliadoras, mediatas e imediatas, e todas se entretêm por um liame natural e insensível
que liga as mais distanciadas e as mais diferentes, julgo ser impossível conhecer as partes
sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer particularmente as
partes. [A eternidade das coisas, em si mesmas ou em Deus, deve assombrar ainda nossa
pequena duração. A imobilidade fixa e constante da natureza, em comparação com a
transformação contínua que se processa em nós, deve causar o mesmo efeito.]
E o que completa nossa incapacidade de conhecer as coisas é que elas são simples
em si mesmas e que nós somos compostos de duas naturezas opostas e de gênero diverso,
de alma e de corpo. Com efeito, é impossível que a parte que em nós pensa seja outra coisa
que espiritual; e se pretendem que sejamos simplesmente corpóreos, isso nos excluiria
102
PASCAL, Blaise. Os dois infinitos
traduções
ainda mais do conhecimento das coisas, e nada seria mais inconcebível do que afirmar que
a matéria conhece a si mesma; não nos é possível saber como ela se conheceria.
E, assim, se [somos] simplesmente materiais, nada podemos conhecer, e se somos
compostos de espírito e matéria, não podemos conhecer com perfeição as coisas simples,
espirituais ou corpóreas.
É por isso que quase todos os filósofos confundem as idéias das coisas, falando
de coisas corpóreas espiritualmente, e de coisas espirituais corporalmente. Com efeito,
afirmam ousadamente que os corpos tendem para baixo, que aspiram a alcançar seu
centro, que fogem da destruição, que temem o vácuo, que possuem inclinações, simpatias,
antipatias, coisas essas que pertencem todas só aos espíritos. E ao falarem dos espíritos,
consideram-nos como estando num lugar, atribuem-lhes movimento de um lugar para
outro, coisas essas que pertencem todas só aos corpos.
Em vez de receber as idéias dessas coisas puras, nós as tingimos com nossas qualidades,
impregnando com nosso ser composto todas as coisas simples que contemplamos.
Ao nos ver compondo todas as coisas de espírito e de corpo, quem não acreditaria
que essa mistura nos é bem compreensível? Todavia, essa coisa é a que menos
compreendemos. Por ele mesmo, o homem é o mais prodigioso objeto da natureza;
visto que não pode conceber o que seja corpo, ainda menos o que seja espírito, e menos
que qualquer coisa, como um corpo pode estar unido com um espírito. Ali está sua mais
elevada dificuldade, e no entanto é seu próprio ser: Modus quo corporibus adhaerent
spiritus comprehendi ab hominibus non potest, et hoc tamen homo est...
[Frag. 205] Quando considero a pequena duração da minha vida, absorvido na
eternidade precedente e posterior, o pequeno espaço que ocupo e mesmo que vejo, abismado
na infinita imensidão dos espaços que ignoro e que me ignoram, me assombro e fico perplexo
de ver-me aqui e não lá, pois não há razão alguma para que esteja aqui em vez de lá, viver
presentemente e não em outro momento. Quem me colocou aqui? Por ordem e orientação
de quem me foram destinados esse lugar e esse tempo? Memoria hospitis unius diei
praetereuntis (a lembrança de hóspede de um dia que passa. Sabedoria, V,15).
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, p.103-103, jul./dez. 2008
103
Normas para publicação
Os artigos devem ser formulados obedecendo às normas técnicas de publicação da ABNT,
e encaminhados à nossa editoria em modelo eletrônico e com cópia impressa.
A editoria da Revista se reserva o direito de, após criteriosa análise consultiva, publicá-los
ou não. Os artigos não publicados não serão devolvidos, sendo que os autores serão
informados da decisão.
Os autores articulistas receberão três exemplares da revista em que tiver sido publicado seu
artigo, abdicando, com isso, em favor da revista, dos direitos autorais dos artigos.
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não precisam coincidir
com o pensamento da Faculdade.
O idioma de publicação é o português, não estando excluída e publicação ocasional de
textos ou artigos em outras línguas. Sugere-se que contenham entre 10 e 20 laudas
(1 lauda = 2.100 toques) e que venham acompanhados de um resumo de no mínimo 8 e
no máximo doze linhas.
Em folha de rosto deverão constar o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e breve
currículo, relatando experiência profissional e/ou acadêmica, a instituição em que trabalha
atualmente, endereço, número do telefone e do fax e e-mail.
É livre a transcrição das matérias aqui publicadas, obedecendo-se à citação das fontes.
O processo de aprovação e apreciação (pareceres) dos artigos deve primar pela lisura e
objetividade, ficando desvinculado de nomes, personalidades outras influências de ordem
particularizante. Os pareceres devem ficar arquivados.
Justo por não se exigir que as opiniões dos articulistas coincidam com as da organização
responsável pela revista, a responsabilidade pelo conteúdo das publicações é inteiramente
devida aos articulistas.
Os artigos a serem publicados serão encomendados ou solicitados pelo conselho editorial,
sob a orientação do(s) editor(es) da revista. Uma vez recebidos, são encaminhados à comissão
editorial e ao conselho editorial para parecer. Sendo aprovados por estes, pelo diretor e pelo
editor da revista, os artigos serão encaminhados para o processo de produção. Havendo
necessidade de reformulações, os artigos serão devolvidos aos autores de direito para as
devidas emendas, estabelecendo-se para cada uma dessas etapas prazos compatíveis com o
cumprimento das datas de confecção e publicação da revista.
Deste modo, a editoria da revista se reserva o direito de recusa, sugestão de reformulação,
e/ou reserva de 2 anos a contar de seu recebimento para publicação dos artigos.
Pedimos aos colaboradores da Revista encaminhar seus artigos e contribuições para
endereço abaixo:
normas
Revista filosófica São Boaventura
BR 277 KM 112
Bom Jesus Remanso
83607-000 Campo Largo-PR
Ou: [email protected]
A revista aceita permuta - We ask for exchange, on demànde l’èchange.
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, jul./dez. 2008
105
Pedidos e Assinaturas
Nome: ___________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefones: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Outras informações: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
normas
Assinatura anual: R$ 25,00 (2 por ano)
Volume avulso: R$ 15,00
E-mail: [email protected]
Rev. Filosófica São Boaventura, Curitiba, v.1, n.1, jul./dez. 2008
106