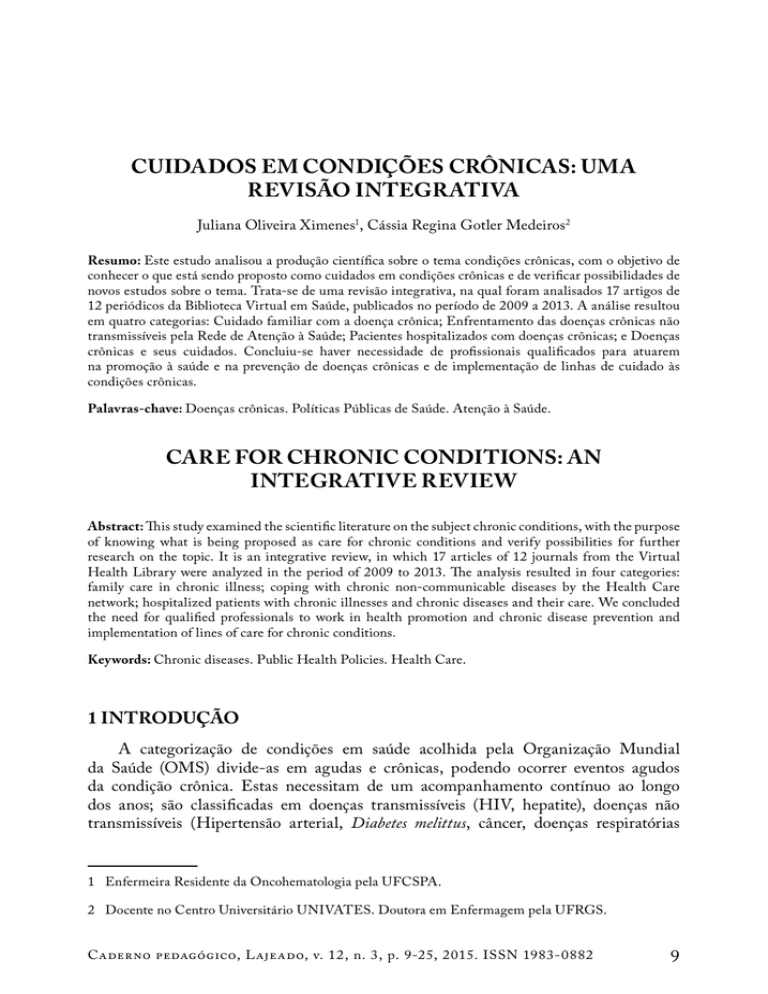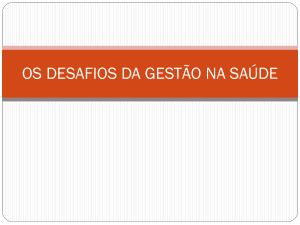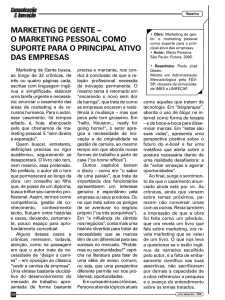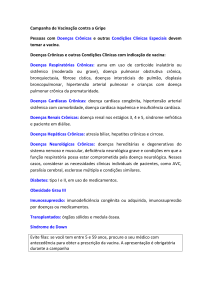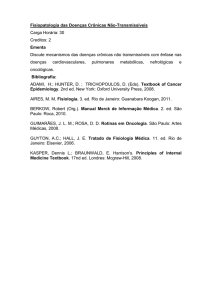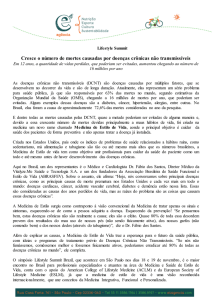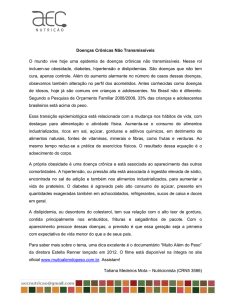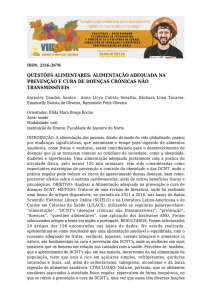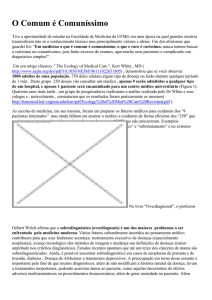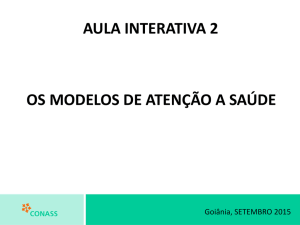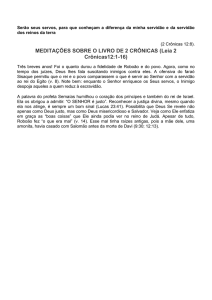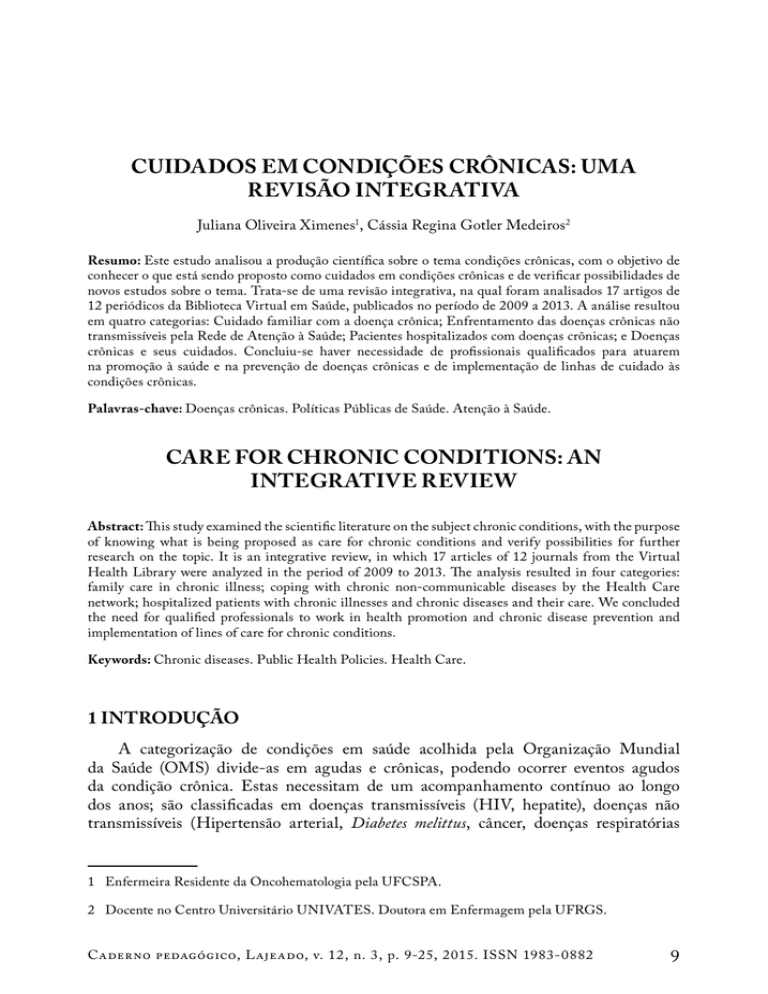
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Juliana Oliveira Ximenes1, Cássia Regina Gotler Medeiros2
Resumo: Este estudo analisou a produção científica sobre o tema condições crônicas, com o objetivo de
conhecer o que está sendo proposto como cuidados em condições crônicas e de verificar possibilidades de
novos estudos sobre o tema. Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram analisados 17 artigos de
12 periódicos da Biblioteca Virtual em Saúde, publicados no período de 2009 a 2013. A análise resultou
em quatro categorias: Cuidado familiar com a doença crônica; Enfrentamento das doenças crônicas não
transmissíveis pela Rede de Atenção à Saúde; Pacientes hospitalizados com doenças crônicas; e Doenças
crônicas e seus cuidados. Concluiu-se haver necessidade de profissionais qualificados para atuarem
na promoção à saúde e na prevenção de doenças crônicas e de implementação de linhas de cuidado às
condições crônicas.
Palavras-chave: Doenças crônicas. Políticas Públicas de Saúde. Atenção à Saúde.
CARE FOR CHRONIC CONDITIONS: AN
INTEGRATIVE REVIEW
Abstract: This study examined the scientific literature on the subject chronic conditions, with the purpose
of knowing what is being proposed as care for chronic conditions and verify possibilities for further
research on the topic. It is an integrative review, in which 17 articles of 12 journals from the Virtual
Health Library were analyzed in the period of 2009 to 2013. The analysis resulted in four categories:
family care in chronic illness; coping with chronic non-communicable diseases by the Health Care
network; hospitalized patients with chronic illnesses and chronic diseases and their care. We concluded
the need for qualified professionals to work in health promotion and chronic disease prevention and
implementation of lines of care for chronic conditions.
Keywords: Chronic diseases. Public Health Policies. Health Care.
1 INTRODUÇÃO
A categorização de condições em saúde acolhida pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) divide-as em agudas e crônicas, podendo ocorrer eventos agudos
da condição crônica. Estas necessitam de um acompanhamento contínuo ao longo
dos anos; são classificadas em doenças transmissíveis (HIV, hepatite), doenças não
transmissíveis (Hipertensão arterial, Diabetes melittus, câncer, doenças respiratórias
1 Enfermeira Residente da Oncohematologia pela UFCSPA.
2 Docente no Centro Universitário UNIVATES. Doutora em Enfermagem pela UFRGS.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
9
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
crônicas), incapacidades estruturais (amputação, cegueira) e distúrbios mentais em
longo prazo (OMS, 2003).
Muitas condições crônicas estão associadas às predisposições genéticas, ao
envelhecimento populacional e a hábitos prejudiciais à saúde, como o consumo de
álcool, o tabagismo, o sedentarismo, dieta inadequada e o comportamento sexual.
Essas condições acarretam custos relevantes para os orçamentos públicos e privados,
repercutindo economicamente na folha de pagamento dos assalariados, nos lucros, na
produtividade, na rotatividade de emprego, antecipam a aposentadoria e aumentam os
beneficiários por incapacidade (VERAS, 2011).
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) corresponderam a 63% dos
óbitos mundiais em 2008 dos quais 80% ocorreram em países de baixa e média renda.
No Brasil, as DCNT são responsáveis por 72% das causas de morte, 31,3% ocorreram
por doenças cardiovasculares, 16,3% por câncer, 5,2% por Diabetes melittus (DM) e
5,8% por doenças respiratórias crônicas (BRASIL, 2011).
Pesquisas recentes indicam que houve redução na taxa de mortalidade de
pessoas diagnosticadas com doenças cardiovasculares e respiratórias, sugerindo que
o enfrentamento dessas doenças está sendo eficaz. Ao mesmo tempo, o número de
portadores das demais DCNT que necessitam de atendimento tende a aumentar. Na
espera de atendimento, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta longas
filas para consultas, exames e cirurgias, demonstrando o que essas doenças causam ao
sistema público de saúde e justificando a necessidade de organizar, qualificar e ampliar
o atendimento às DCNT (DUNCAN et al., 2012).
A partir dessa perspectiva, este estudo analisou a produção científica sobre cuidados
às condições crônicas, por meio de uma revisão integrativa. A importância está em
conhecer o que está sendo proposto como cuidados às condições crônicas, no sentido de
qualificar a Rede de Atenção às DCNT, identificando possibilidades de novos estudos
em relação ao tema.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A mudança do perfil epidemiológico brasileiro é resultante da queda nos índices
de fertilidade, aumento do envelhecimento populacional e maior expectativa de vida.
Mendes (2012, p. 21) caracteriza a situação em “transição demográfica acelerada e uma
transição epidemiológica singular expressa na tripla carga de doenças: uma agenda não
superada de doenças infecciosas e carências, uma carga importante de causas externas e
uma presença fortemente hegemônica das condições crônicas”. Sendo assim, o sistema
de atenção à saúde deve corresponder às necessidades de saúde da população e ser
coerente com a transição demográfica e epidemiológica.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
10
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
A redução de nascimentos faz com que a pirâmide representativa populacional
possua uma base mais estreita (representando a população jovem) e o vértice mais largo
(correspondendo aos idosos). O declínio da taxa de fecundidade brasileira iniciou em
1965, resultando em impacto nos indicadores sociodemográficos. Em 2006, a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicou uma taxa de fecundidade total
(TFT) de 2,1 filhos por mulher. A estimativa da TFT para 2030 é de 1,59 filhos por
mulher. Esses dados possibilitam uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), para 2045 a 2055, de zero crescimento populacional (IBGE, 2006).
Com base nos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado em 2011, foram
entrevistadas 54.144 pessoas. Destas, 14,8% se declaram tabagistas; 14%, sedentárias;
17% consomem álcool; e 48,5% consideram-se com sobrepeso. As DCNT apresentamse prevalentes com o avanço da idade no gênero masculino e baixo grau de escolaridade
(MALTA et al., 2011).
Para reduzir os efeitos negativos das DCNT, o Ministério da Saúde (MS) publicou
o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil em 20112022. Seus objetivos são a prevenção dos fatores de risco das DCNT, promoção da
implementação e o desenvolvimento de práticas públicas efetivas, assim como o
fortalecimento dos serviços de saúde voltados às doenças crônicas. As ações são
direcionadas a quatro grupos de doenças (câncer, cardiovasculares, respiratórias crônicas
e DM) e seus fatores modificáveis (obesidade, alimentação inadequada, inatividade
física, álcool e tabagismo). Definem-se três eixos para o enfrentamento das DCNT:
vigilância, informação e monitoramento; promoção da saúde; cuidado integral de
DCNT. Com a implementação desse Plano, foram definidas ações, metas, atividades,
projetos e programas, que preferencialmente produzam resultados rápidos em termos
de vidas salvas e baixos custos (BRASIL, 2011).
É importante citar que as mudanças na área da saúde ocorrem simultaneamente
a um conjunto de mudanças em outros planos da sociedade, sejam eles culturais,
ambientais, sociais, comportamentais, econômicos, entre outros, os quais afetam
diretamente as condições em saúde (BRASIL, 2009).
Para regulamentar o cuidado em condições crônicas, o governo publicou a Portaria
n° 252, de 2013, que atua no âmbito do SUS e promove a Rede de Atenção à Saúde das
Pessoas com Doenças Crônicas:
Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, consideram-se doenças crônicas as
doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta.
Parágrafo único. As doenças crônicas, em geral, apresentam múltiplas causas e
o tratamento envolve mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado
contínuo que usualmente não leva à cura.
Art. 3º A finalidade da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas é realizar a atenção de forma integral aos usuários com doenças crônicas,
em todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços de promoção
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
11
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos e manutenção da saúde.
Art. 4º
[...]
Art. 5º A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas tem por
objetivo geral fomentar a mudança do modelo de atenção à saúde, por meio da
qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação
das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do
desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
A implementação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas deve ser
incorporada às Redes de Atenção à Saúde (RAS) e desenvolvidas por linhas de cuidados.
Esse processo será pactuado pelo Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap),
constituído por gestores, como espaço legítimo para deliberações e planejamento de
seus serviços de saúde (BRASIL, 2014).
Os serviços de Atenção Primária são a porta de entrada dos usuários e proporcionam
respostas às necessidades de saúde. Evidências mostram que os sistemas de saúde que
possuem em sua base uma Atenção Primária à Saúde (APS) resolutiva e consistente,
coordenadora do cuidado ao usuário, possuem resultados epidemiológicos melhores.
Para Mendes (2012, p. 21), “Só será possível organizar o SUS em redes de atenção à
saúde se a APS estiver capacitada [...]” (MENDES, 2012).
Ao proporcionar cuidados em condições crônicas é necessário envolver diversos
profissionais nas equipes de saúde que desenvolvam ações positivas. Para qualificar
o cuidado na Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, o governo tem
proporcionado aos profissionais cursos de educação a distância sobre os temas Doenças
Crônicas na Rede de Atenção à Saúde e Autocuidado: Como Apoiar a Pessoa com
Diabetes, entre outros presenciais (BRASIL, 2014).
3 MÉTODO DE PESQUISA
Este estudo consiste em uma revisão integrativa fundamentada nas evidências
presentes em artigos sobre cuidados em condições crônicas. A revisão integrativa é
definida como método de pesquisa que permite a busca em todo referencial já publicado,
servindo de base para uma avaliação crítica e com síntese das evidências disponíveis
sobre o tema investigado. Sua finalidade é atualizar o conhecimento do tema definido
(MENDES et al., 2008). Nesta pesquisa optou-se por selecionar apenas artigos
científicos, pelo critério de acesso e visibilidade para o pesquisador, em periódicos
indexados em bases de reconhecido mérito científico. Foram seguidas as seguintes
etapas da revisão integrativa:
Primeira etapa: este processo tem início com a seleção do tema e formulação da
hipótese ou questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa. Para a busca dos
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
12
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
estudos, é importante delimitar os descritores ou palavras-chave, para posteriormente
o desenvolvimento da escrita estar relacionado a um raciocínio teórico, em que podem
estar incluídas definições previamente aprendidas pelo autor. Este estudo partiu
da hipótese de que os artigos publicados possam indicar lacunas nos estudos sobre
cuidados nas condições crônicas.
Segunda etapa: esta etapa é uma sequência da anterior e busca a delimitação de
critérios para exclusão e/ou inclusão de artigos. O revisor deve avaliar a quantidade de
artigos selecionados, pois uma quantidade muito alta pode inviabilizar a construção da
revisão ou introduzir vieses nas etapas seguintes.
A internet foi a ferramenta utilizada para a busca dos artigos. A revisão foi fiel
à amostra de artigos selecionados, pois a omissão de estudos pode comprometer a
validade da revisão, que foi feita no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde –
BVS. Utilizou-se filtro para selecionar somente artigos em português que contemplem
o tema. O filtro selecionou as bases Coleciona SUS, WHOS, LIS, LILACS,
MEDLINE, CidSaúde, BDENF, publicados no período de 2009 a 2013. O descritor
utilizado foi condições crônicas.
Terceira etapa: consistiu na leitura concisa e na categorização dos estudos
selecionados, para auxiliar no entendimento das informações. Neles buscaram-se os
principais objetivos, metodologias, análises e conclusões.
Quarta etapa: realizou-se análise detalhada de dados dos estudos selecionados
pelo método de análise de conteúdo de Bardin (BARDIN, 2012).
Quinta etapa: nesta etapa foi realizada a interpretação dos resultados, comparando
e sintetizando o conhecimento teórico com os resultados momentâneos da revisão
integrativa e conclusões do revisor após leitura e categorização dos artigos. É possível,
neste momento, o autor apontar sugestões para novas pesquisas.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Seguindo a proposta metodológica, foi realizada a busca dos artigos em 12
periódicos, sendo encontrados 17 artigos (QUADRO 1). Destes, 12 artigos apresentam
abordagem qualitativa, quatro quantitativa e uma publicação é qualiquantitativa. O
tipo de estudo predominante foi o descritivo-exploratório, com oito artigos, seguido
da revisão bibliográfica, com quatro artigos. O Estado do Rio Grande do Sul foi o que
mais teve foco no tema pesquisado, com sete artigos.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
13
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Quadro 1: Distribuição dos artigos estudados segundo ano de publicação, periódico,
abordagem, tipo de estudo e foco geográfico
2009
Revista Bras. Hipertens.
Revista Brasileira de
Qualitativa
Quantitativa
2009
Enfermagem REBEn
2010
Revista Gaúcha
Enfermagem
Qualitativa
2010
Acta Paul Enferm
Qualitativa
2010
Revista Brasileira de
Enfermagem
Quantitativa
2010
Ciência & Saúde Coletiva
Qualitativa
2011
Caderno de Saúde Pública
Qualitativa
2011
Ciência Cuid. Saúde
Qualitativa
2011
REBEn
Revista Bras. Geriatr.
Gerontol.
Qualitativa
2011
Revista Enferm. UERJ
Qualitativa
2011
Ciência & Saúde Coletiva
Quantitativa
2012
Revista de Saúde Pública
Quantitativa
Revisão
Bibliográfica
Convergente
Assistencial
ExploratórioDescritivo
ExploratórioDescritivo
ExploratórioDescritivo
Revisão
Bibliográfica
ExploratórioDescritivo
ExploratórioDescritivo
Exploratório
ExploratórioDescritivo
São Paulo/ SP
Florianópolis/ SC
PoA/ RS
Florianópolis/ SC
Rio de Janeiro/ RJ
Belo Horizonte/ MG
Pelotas/ RS
Londrina/ PR
Rio de Janeiro/ RJ
João Pessoa/ PB
Exploratório-
Todos os estados
Descritivo
brasileiros
Estudo de Coorte
Todos os estados
brasileiros
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
14
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
2012
2012
2012
2013
2013
REUFSM
Revista de Enfermagem da
UFSM
Ciência & Saúde Coletiva
Arq. Bras. Endocrinol.
Metab.
Revista Bras. Geriatr.
Gerontol.
Revista Bras. Epidemiol.
Qualitativa
Quantitativa –
Qualitativa
Qualitativa
Qualitativa
Qualitativa
ExploratórioDescritivo
Cidade interiorana do
RS
Descritivo
Fortaleza/ CE
Revisão
Bibliográfica
Revisão
Bibliográfica
Exploratório
PoA/ RS
Rio de Janeiro/ RJ
Todos os estados
brasileiros
Fonte: dos autores.
Após leitura, os artigos foram organizados em quatro categorias: Cuidado familiar
com a doença crônica; Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pela
Rede de Atenção à Saúde; Pacientes hospitalizados com doenças crônicas; e Doenças
crônicas e seus cuidados.
4.1 Cuidado familiar com a doença crônica
Este tema aborda o cuidado familiar frente à condição crônica e o cuidado
profissional às famílias com pessoas com condições crônicas, com quatro artigos
(PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010; CAETANO et al.,
2011; SILVEIRA et al., 2012). Desses, três artigos recomendam que os cuidados
relacionados aos familiares possam ser realizados pelo enfermeiro, assim como este
precisa perceber os sentimentos familiares para o enfrentamento das doenças crônicas
(PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010; CAETANO et al., 2011).
Dois artigos evidenciam a possibilidade de entendimento da dinâmica familiar pelos
métodos genograma e ecomapa, o que se mostrou relevante para alcançar os objetivos
da assistência às famílias (PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010).
O enfermeiro, ao detectar as situações de vulnerabilidade individual familiar,
possui a possibilidade de planejar ações para atenção à saúde que diminuam os desgastes
emocionais e físicos provenientes da dependência da doença crônica, promovendo
integralidade, qualidade de vida e acolhimento (CAETANO et al., 2011; PEDROSO;
MOTTA, 2010). O fortalecimento do vínculo possibilita ao enfermeiro melhor
conhecimento dos membros da família e dos sentimentos entre eles, na tentativa de
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
15
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
atenuar a situação de cronicidade (CAETANO et al., 2011). É importante compreender
que o processo de trabalho da enfermagem não se restringe à doença e ao doente, mas
a uma visão ampliada na qual está a condição de saúde da pessoa (PEREIRA et al.,
2009). Os reflexos dessa prática possibilitam ao familiar prestar melhor cuidado ao
doente crônico (PEDROSO; MOTTA, 2010).
Em relação aos sentimentos envolvidos entre os familiares na realização dos
cuidados aos doentes crônicos, Caetano et al. (2011) e Silveira et al. (2012) relataram
que a compreensão da doença, do cuidado, de se relacionar e expressar sentimentos,
é subjetiva, e deve-se levar em conta a singularidade de cada família. O cuidado
familiar é muitas vezes desgastado pelos sentimentos de solidão, apreensão e tristeza,
alimentados por estarem diariamente ao lado do doente crônico (CAETANO et al.,
2011). Em estudo realizado por Silveira et al. (2012), as cuidadoras relatam a relevância
da discrição por parte do cuidador. O cuidado deve ser desenvolvido de forma suave
para que o doente não se sinta como um empecilho. Um dos aspectos mais importantes
que influenciam nessa convivência é a manutenção do vínculo afetivo, pois a afetividade
familiar favorece os sentimentos positivos (o amor, o companheirismo, o carinho e
o respeito), o equilíbrio familiar, o desejo de cuidar e a aceitação das limitações do
enfermo.
O cuidado realizado pelo familiar deve ultrapassar o básico. De acordo com
Caetano et al. (2011, p. 848), o cuidado “deve alcançar dimensões psicossociais que
extrapolem as necessidades básicas de cuidado com a alimentação e com o corpo”. O
modelo Interativo de Estresse de Folkman (apud PEREIRA et al., 2009) descreve
o enfrentamento das condições crônicas focalizadas no problema ou na emoção. O
enfrentamento em situações com emoção faz com que a família busque apoio na própria
família, nuclear ou ampliada, e compartilhe sentimentos e pensamentos. As famílias
que priorizam o problema tendem a acentuar os agravos crônicos e as adversidades da
vida (PEREIRA et al., 2009). Quando o paciente é criança com condição crônica, os
sentimentos positivos mais presentes são os de força, coragem e superação interior, para
que a criança se sinta protegida (PEDROSO; MOTTA, 2010).
Também se identificou que o conhecimento acerca da patologia crônica tornará o
cuidado ao doente crônico mais efetivo, sendo possível prevenir agravos da doença e
promover a saúde dos componentes da família (PEREIRA et al., 2009; PEDROSO;
MOTTA, 2010).
4.2 Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pela Rede de
Atenção à Saúde
Este tema foi debatido em nove artigos e trouxe à tona assuntos relacionados ao
enfrentamento das DCNT na RAS (DUNCAN et al., 2012; MALTA et al., 2013;
SOUZA et al., 2010), a necessidade de capacitação de profissionais para atuarem
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
16
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
na promoção à saúde e prevenção às DCNT no sistema público (MENDES, 2010;
CAPILHEIRA; SANTOS, 2011; BARROS et al., 2011; MESQUITA et al., 2012) e
linhas de cuidado para condições crônicas (MENDES, 2010; VERAS, 2011; VERAS
et al., 2013).
O estudo realizado por Duncan et al. (2012) objetivou descrever a situação das
DCNT e seus fatores de risco no Brasil, relatando dados iniciais sobre o Estudo
Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), que acompanha 15.105 servidores
públicos. Espera-se, com este estudo, aprofundar o entendimento causal das doenças
(Diabetes melittus e hipertensão arterial) e promover subsídios para o enfrentamento
delas pelas políticas públicas de saúde.
O plano para enfrentamento das DCNT fundamenta-se em um quadro que
contempla causas e possibilidades de prevenção, em que os quatro fatores de riscos
centrais (tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada e ingestão alcoólica
prejudicial) e vários outros se inserem. Duncan et al. (2012, p. 129) referem que “esse
quadro [...] reconhece que os determinantes da saúde ultrapassam os mecanismos
biológicos, gerando padrões de vida que refletem as iniquidades sociais e causam danos
que se acumulam ao longo da vida”.
Além da implantação do SUS com políticas públicas direcionadas ao enfrentamento
das DCNT e sua crescente estruturação que viabilizou maior controle social, esses
autores sugerem alguns aspectos a serem revistos: ações em nível nacional por meio
de elos interministeriais; ações legislativas que estejam de acordo com o paradigma da
prevenção para alimentos e bebidas alcoólicas; ações de vigilância e fatores de risco para
doenças e incorporação da tecnologia em saúde. Em nível local são necessárias ações
de intervenção para grupos específicos, como cuidados aos pés de pessoas com DM
e rastreamento de retinopatia diabética, entre outros, e acompanhamento do doente
crônico por meio de prontuários eletrônicos (DUNCAN et al., 2012; MENDES, 2011).
Atualmente um dos principais desafios é conter a epidemia crescente da obesidade,
influenciada pela globalização dos padrões alimentares, o que dificulta planejar ações
para o enfrentamento das DCNT (DUNCAN et al., 2012).
Malta et al. (2013), em seu estudo, divulgam o balanço das atividades realizadas no
primeiro ano de implantação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022, resultantes de medidas
educativas, regulatórias, legislativas e preventivas. O plano prioriza a promoção da
qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade aos riscos à saúde, estabelecendo
uma agenda de ações prioritárias. Constata-se a importância de investir nas ações
intersetoriais e buscar comprometimento dos setores envolvidos na organização dos
serviços de saúde.
As ações para enfrentamento foram direcionadas a três diretrizes estratégicas:
I- Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento - apoio ao desenvolvimento
e fortalecimento da vigilância integrada de DCNT e dos seus fatores modificáveis,
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
17
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
realizado por meio de inquéritos nacionais e locais (VIGITEL, PeNSE – 2012,
PNS); II- Promoção da saúde - investiu-se no âmbito público e privado nas iniciativas
intersetoriais, visando à promoção e alternativas na construção de comportamentos
saudáveis, levando em conta condições sociais e econômicas; III- Cuidado integral
de DCNT - acompanhamento longitudinal dos usuários para melhoria da resposta
ao tratamento e possíveis complicações por meio da Rede de Atenção às Pessoas com
Doenças Crônicas. Em síntese, após um ano houve a redução da taxa de tabagismo,
queda na taxa de mortalidade prematura por DCNT, aumento na cobertura dos exames
de mamografias entre mulheres de 50 a 69 anos e nas taxas de exames Papanicolau
entre mulheres de 25 a 64 anos (MALTA et al., 2013).
No que se refere à importância de profissionais capacitados em promoção à saúde
e prevenção às DCNT para elevar o nível de qualidade do sistema público, foram
encontrados três artigos (CAPILHEIRA; SANTOS, 2011; BARROS et al., 2011;
MESQUITA et al., 2012).
Capilheira e Santos (2011) observaram, em um determinado tempo, o desempenho
médico na prevenção de DCNT nas RAS em Pelotas (RS), constatando que a
população que não recebe informações de prevenção às DCNT pode entender que os
cuidados médicos na RAS em Pelotas são principalmente curativos e cada vez mais
medicalizados.
Barros et al. (2011), em seu estudo, citam a importância do grau de percepção de
sinais e sintomas pelo indivíduo, do acesso aos serviços médicos e aos testes diagnósticos
e da qualidade das orientações obtidas dos profissionais de saúde. O estudo aponta
maior prevalência de doenças crônicas na população sem plano de saúde privado,
tornando a população do SUS dependente de intervenções efetivas de promoção de
equidade.
O estudo de Mesquita et al. (2012) verificou a importância da Rede de Apoio
Social na Saúde dos Idosos Pneumopatas Crônicos. Constatou a necessidade de
profissionais capacitados e interessados na rede especializada, visando ao benefício para
recuperação do idoso, à permanência do vínculo entre os pacientes e profissionais após
alta do programa hospitalar de reabilitação pulmonar.
O tema “cuidados com a doença crônica em uma comunidade pesqueira” foi
abordado por Souza et al. (2010). Esses autores avaliaram a qualidade de vida de pessoas
com doenças crônicas em uma comunidade pesqueira. Apesar de ser portador de
doenças crônicas, o fato de morar em uma comunidade pesqueira isolada é interpretado
pelos moradores como ter uma vida saudável, devido à oferta de alimentos naturais
colhidos na própria comunidade, alimentos frescos, atividade física ao ar livre, ar puro
e ausência de ruídos urbanos. No entanto, também de insegurança e ansiedade, pois
o serviço de saúde local é deficitário. Quando a doença crônica apresenta períodos de
agudizações, o serviço local não supre a necessidade de atendimento emergencial, e o
deslocamento até o hospital mais próximo é lento. Segundo esses autores, para evitar
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
18
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
períodos agudos, é necessário investir na reeducação alimentar, cuidados com o meio
ambiente, atividade física regular, adaptação no trabalho, relações sociais, entre outros.
Outro tema abordado nesta categoria foram linhas de cuidado para atenção das
condições crônicas, com três artigos (MENDES, 2010; VERAS, 2011; VERAS et
al., 2013). Segundo Veras (2011), os modelos de atenção assistenciais à saúde vigentes
no Brasil devem condizer com o perfil demográfico e epidemiológico resultante do
aumento da população idosa. O fato é que a maior parte dos modelos trata a doença,
objetiva reduzir custos e é focada na lógica hospitalocêntrica. Estima-se que o aumento
de idosos com necessidade de cuidados sofra um aumento nos próximos 30 anos. Os
fatores que impulsionam esse aumento são os seguintes: mais idosos fragilizados,
mudanças de valores sociais femininos e familiares, mas, sobretudo, o aumento do
estresse no trabalho, bem como o consumo de álcool e tabaco por mulheres.
Ao sugerir modelos de linhas de cuidados para a promoção à saúde e atenção aos
idosos nas RAS, que podem ser aplicados na rede pública e/ou privada de saúde, Veras
(2011) e Veras et al. (2013) se assemelham em seus modelos. Esses modelos iniciam
na identificação precoce dos riscos e reduções das condições crônicas e se encerram
nos momentos finais da vida, com os cuidados paliativos. Seguem uma hierarquia pela
capacidade funcional, mas poliárquico na prática, pois, após os três primeiros níveis,
pode-se ir para qualquer ponto da atenção (outro nível). O nível 1 é a porta de entrada
dos usuários para o sistema, em que se realiza o acolhimento, avaliação de risco para
incapacidades e fragilizações. O acolhimento deve ser feito com o intuito de educar,
para que a pessoa se comprometa com a sua saúde.
No nível 2, o idoso é atendido por um profissional chamado de gerente de
acompanhamento, o qual realiza a avaliação funcional. A avaliação funcional consiste
em uma entrevista para conhecer as doenças prévias do idoso, suporte social envolvido e
a situação em que o idoso se encontra. Neste nível é realizada a prevenção e a promoção
da saúde por profissionais multidisciplinares (VERAS, 2011; VERAS et al., 2013).
No nível 3A, o cuidado é voltado para a manutenção e a reabilitação da
funcionalidade e, no nível 3B, o acompanhamento é realizado em um ambulatório
geriátrico, voltado para o idoso com maior risco, e quem orienta as intervenções é a
equipe interprofissional especializada em Geriatria. Os níveis seguintes - 4, 5, 6 e 7 são designados para assistência domiciliar, clínicas de longa permanência e assistência
paliativa, respectivamente. Em síntese, os modelos de Veras (2011) e Veras et al.
(2013) podem ser aplicados em todos os níveis do cuidado: delimitar um fluxo de ações
educativas, promover a saúde, adiar e prevenir a doença, prestar assistência precoce e
reabilitar agravos.
Mendes (2010) propõe um modelo de atenção à saúde para as condições crônicas
nas RAS, que chama de Modelo de Atenção Crônica (MAC). Esse modelo é utilizado
como base para adaptações em diferentes partes do mundo. É composto por seis
elementos, subdivididos em dois grandes grupos de atuação: grupo I- sistema de atenção
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
19
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
à saúde - as mudanças acontecem na organização da atenção à saúde, no desenho do
sistema de prestação de serviços, nos sistemas de informação clínica, no autocuidado e
nas tomadas de decisões; grupo II- comunidade - onde as mudanças estão focadas na
articulação dos serviços de saúde com os recursos da própria comunidade. Conforme
Mendes (2010, p. 2303), “Esses seis elementos apresentam interrelações (sic) que
permitem desenvolver usuários informados e ativos e equipe de saúde preparada e
proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população”.
4.3 Pacientes hospitalizados com Doenças Crônicas
Composto por dois artigos, os temas abordados nesta categoria são cuidados com
pacientes hospitalizados e experiências de adolescentes hospitalizados, ambos com
condições crônicas (COELHO, 2010; ARAÚJO et al., 2010).
O estudo de Coelho (2010) objetivou apresentar os cuidados de enfermagem em
15.204 adultos hospitalizados com doenças crônicas ou agudas durante o ano de 2006
(janeiro/dezembro). Os cuidados realizados foram anotados no Diário de Enfermagem
Hospitalar. Os dados demonstram que o cuidado é um referencial de recuperação
orgânica e psicossocial imediata e tardia. Esses cuidados cotidianos de enfermagem,
que se tornam muitas vezes discretos e “silenciosos”, formam uma rede cujo padrão de
organização e realimentação é de uma cadeia diária e continua. Assim, a recuperação
do cliente não se esgota na cura dos males orgânicos previstos no modelo cartesiano,
mas também no equilíbrio, social e psicológico.
Conhecer saberes e experiências de adolescentes hospitalizados portadores de
condições crônicas foi o objetivo de Araújo et al. (2011) em seu estudo. Foram realizadas
entrevistas com cinco adolescentes de 14 a 17 anos, portadores de mais de uma patologia
crônica. Constatou-se que os adolescentes possuíam insegurança e dificuldade em
definir a sua condição, o que possibilitou aos profissionais de enfermagem contribuir
para o entendimento acerca da sua patologia, por meio do diálogo entre o profissional
e o paciente, oportunizando a troca de experiências e saberes. Para o adolescente,
não é fácil assentir com sua condição, pois a doença representa um risco à vida e
mudanças de hábitos se tornam necessárias. Os profissionais de saúde devem identificar
as dificuldades encontradas pelo adolescente na realização do seu tratamento e seu
autocuidado, inserir o adolescente e seus familiares em grupos de apoio para a faixa
etária e facilitar o diálogo por meio do apoio materno.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
20
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
4.4 Doenças crônicas e seus cuidados
Esta categoria é composta por dois artigos, que tratam de cuidados a doenças
crônicas. Um refere a adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
(GUSMÃO et al., 2009) e o outro contempla o manejo do paciente pré-diabético
(SOUZA et al., 2012).
Conforme Gusmão et al. (2009, p. 38), “O arsenal terapêutico para doenças
crônicas como hipertensão arterial recebe frequentemente novos medicamentos.
Entretanto [...] quem trata de pacientes com essas condições continua esbarrando em
um problema secular, a falta de adesão”. Em sua revisão bibliográfica, Gusmão et al.
(2009) citam Fung et al. (2007), que avaliaram pacientes acima de 65 anos. Destes,
os que fizeram tratamento terapêutico com boa adesão tiveram menor risco de pressão
arterial elevada e os pacientes que faziam uso de vários anti-hipertensivos com baixa ou
nenhuma aceitação estavam associados ao risco maior de hipertensão arterial elevada.
Para esses autores, as chances de aumentar a adesão ao tratamento partem todas da
boa relação médico-paciente. Para obter sucesso é necessário conscientizar o paciente
da doença; mostrar benefícios de um bom tratamento; detalhar seu tratamento; escolher
seu tratamento também baseado nos efeitos colaterais e interações medicamentosas;
explicar os efeitos colaterais medicamentosos; aferir a pressão arterial no domicílio;
definir o tratamento a partir de metas e resultados; introduzir o tratamento na rotina do
paciente; monitorizar inicialmente o tratamento com consultas frequentes ou contato
telefônico e ter um cuidador comprometido com o paciente e suas comorbidades.
Segundo Gusmão et al. (2009), o SUS disponibiliza equipes multidisciplinares,
possibilitando orientações para um bom tratamento. Há, porém, aspectos que
prejudicam a adesão, como sistema de medicamentos ineficaz, sobrecarga de trabalho
dos profissionais, Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada distante da residência dos
usuários, a equipe de saúde não possuir conhecimento sobre a doença, não conhecer
as crenças do doente sobre a sua condição crônica, assim como a sua motivação para
controlá-la e a falta de expectativa do paciente em relação ao seu tratamento.
Souza et al. (2012), em seu estudo, recomendam as principais práticas terapêuticas
para o manejo de paciente pré-diabeticos. É possível retardar o aparecimento da DM
tipo 2 (DM2) na APS intervindo em pacientes com pré-diabetes, principalmente
aqueles que apresentam glicemia em jejum alterada e/ou tolerância diminuída à glicose.
É importante que indivíduos de maior risco sejam orientados constantemente por
profissionais de saúde sobre os fatores predisponentes da DM.
O rastreamento de DM2 pode ser feito em indivíduos assintomáticos com um ou
mais fatores: índice de massa corporal igual a 25 kg/m² ou maior, histórico de doença
cardiovascular na família, sedentarismo, familiar de primeiro grau com DM, obesidade
mórbida, acantose nigricante, grupos étnicos de maior risco (latinos, índios, afroamericanos, asiáticos, moradores das ilhas do Pacífico), HbA1c igual a 35 mg/dl ou
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
21
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
maior e/ou triglicerídeos igual a 250 mg/dl ou maior, mulheres com gestação prévia
com feto com 4 kg ou mais ou com diagnóstico de diabetes gestacional, hipertensão
arterial sistêmica (igual a 149/90 mmHg ou maior) e/ou uso de medicação hipertensiva.
Se não houver nenhum fator citado anteriormente, realizar os testes de rastreamento
para DM, a partir dos 45 anos, e de três em três anos se os resultados forem normais
(SOUZA et al., 2012).
Os cuidados para manejo do paciente com pré-diabetes constituem testes de
rastreamento disponíveis (glicemia em jejum e/ou o teste oral de tolerância à glicose);
exame clínico e anamnese (avaliar o risco cardiovascular e quantificar por meio do
Escore de Framingham); realizar anualmente exames laboratoriais para medir a
microalbuminúria e glicose em jejum; orientação da perda de peso quando necessário
(5% a 10% do peso corporal) e de exercício físico (150 minutos por semana); de não
utilizar o tabaco; monitorizar a cada seis meses a adesão às mudanças no estilo de
vida (MEV); indivíduos que não possuem redução corporal estipulada devem receber
intervenção medicamentosa (SOUZA et al., 2012).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que a busca utilizando o descritor “condições crônicas” selecionou um
número limitado de artigos, devido à maior utilização do termo “doenças crônicas”
pelos autores.
Conforme esta revisão, os autores pesquisados ressaltam que, para modificar
o cenário brasileiro das DCNT, são necessários modelos de atenção à saúde e linhas
de cuidados que atuem em todos os níveis da doença, com início na identificação
precoce dos riscos e se encerrando nos momentos finais da vida e que possam dar
conta da gama de cuidados requeridos. O enfrentamento das DCNT pela RAS
requer, principalmente, profissionais qualificados para atuarem na promoção à saúde
e prevenção de doenças. Isso demanda mudanças na formação dos profissionais,
atualmente muito focados no aspecto biológico do cuidado, e com dificuldades para
trabalhar de forma interdisciplinar.
A inserção efetiva da família e o cuidado dela, também integram os estudos,
considerando a importância da rede de apoio social na condição crônica. Isso requer dos
profissionais um olhar que extrapola a doença, incluindo os determinantes sociais e as
iniquidades em saúde.
São necessários estudos que verifiquem como vencer as barreiras para a atuação em
rede, integrando não só o âmbito administrativo, mas também o clínico, verificando
possibilidades para garantir a comunicação efetiva entre os diversos níveis de densidade
tecnológica do SUS.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
22
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
Igualmente importante são ações intersetoriais que atuem diretamente nos fatores
de risco, envolvendo a segurança alimentar, educação, segurança pública, entre outros.
Ações de conscientização da sociedade e do setor produtivo, principalmente da indústria
alimentícia, na responsabilidade de todos em relação às condições crônicas são desafios
a serem enfrentados.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Yana B. de et al. Saberes e experiências de adolescentes hospitalizados com doença
crônica. Revista Enferm., UERJ. V. 12, n. 2, p. 274-279, abr./jun. 2010. Disponível em:
<http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a17.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.
BARROS, Marilisa B. de A. et al.Tendências das desigualdades sociais e demográficas na
prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD: 2003- 2008. Ciênc. saúde coletiva,
v. 16, n. 9, p. 3755-3768, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590 /S141381232011001000012>. Acesso em: 06 nov. 2014.
BRASIL. Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença
Crônica, Brasília, DF, 2014. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/caderno_35.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011 - 2022. Brasília, DF, 2011.
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_ plano.pdf>. Acesso
em: 01 abr. 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 252, de 19 de fevereiro de 2013. Redefine a Rede
de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0252 _19_02_2013.html> Acesso em:
30 abr. 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS)
no Brasil. Brasília, Distrito Federal, p. 416, 2009. Disponível em: <http://bvsms. saude.gov.br/
bvs/publicacoes/saude_brasil_2008.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de
Janeiro, RJ, v. 27, 2006. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
trabalhoerendimento/pnad2006/brasilpnad 2006.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
CAETANO, Juliana P. M. et al. Refletindo sobre as relações familiais e os sentimentos
aflorados no enfrentamento da doença. Cienc. Cuid. Saúde, v. 10, n. 4, p. 845-852, 2011.
Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18331/
pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
23
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
CAPILHEIRA, Marcelo; SANTOS, Iná S. Doenças crônicas não transmissíveis:
desempenho no cuidado médico em atenção primária à saúde no sul do Brasil. Cad. Saúde
Pública, v. 27, n. 6, p. 1143-1153. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590 /S0102311X2011000600011>. Acesso em: 06 nov. 2014.
COELHO, Maria J. Cuidados Cotidianos. Rev. Bras. Enferm., v. 63, n. 5, p. 712-718, 2010.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-716720100005000 04>. Acesso em: 06 nov.
2014.
DUNCAN, Bruce B. et al. Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil: prioridade para
enfrentamento e investigação. Revista Saúde Pública, vol. 46, n. 1, p. 126-34, nov. 2012.
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/53443 /57418>. Acesso em: 2 abr.
2014.
GUSMÃO, Josiane L. de et al. Adesão ao tratamento arterial sistólica isolada. Rev. Bras.
Hipertensão. v. 16, n. 1 p. 38-43, jan./mar. 2009. Disponível em: <http://departamento
s.cardiol.br/dha/revista/16-1/11-adesao.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
MALTA, Deborah C. et al. Balanço do primeiro ano da implantação do Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento da Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011
a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 22, n. 1, p. 172-178, jan./mar. 2013. Disponível
em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742013000
100018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 abr. 2014.
MALTA, Deborah C. et al. Prevalência de fatores de risco e proteção para doenças crônicas
não transmissíveis em adultos: estudo transversal, Brasil, 2011. Epidemiol. Serv. Saúde,
Brasília, v. 22, n. 3, p. 423/434, jul. 2013. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/
v22n3/v22n3a07.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.
MENDES, Eugênio V. As redes de atenção à saúde. Ciênc. saúde coletiva. v. 15, n. 5, p.
2297-2305, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000 500005>.
Acesso em: 06 nov. 2014.
MENDES, Karina D. S. et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação
de evidências na saúde e na enfermagem. UNISC, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://
www.ca.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/revisaointegrativa metodo_de_pesquisa_para_
incorporacao_de_evidencias_na_saude_e_na_enfermagem.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2014.
MESQUITA, Rafael B. de et al. Rede de apoio social e saúde de idosos pneumopatas
crônicos. Ciênc. saúde coletiva. v. 17, n. 5, p. 1125-1133, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1590/S1413-81232012000500006>. Acesso em: 06 out. 2014.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE. Cuidados Inovadores para Condições
Crônicas: componentes estruturais de ação. Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://
www.saude.es.gov.br/download/CUIDADOS_INOVADORES_DAS_CONDICOES_
CRONICAS.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014.
PEDROSO, Maria de L. R.; MOTTA, Maria G. C. da. Cotidianos de famílias de crianças
convivendo com doenças crônicas: microssistemas em intersecção com vulnerabilidades
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
24
Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros
individuais. Rev. Gaúcha Enferm., v. 31, n. 4, p. 633-639, 2010. Disponível em: <http://
dx.doi.org/10.1590/S1983-14472010000400004>. Acesso em: 06 nov. 2014.
PEREIRA, Amanda de S. et al. O genograma e o ecomapa no cuidado de enfermagem em
saúde da família. Rev. Bras. Enferm., v. 62, n. 3, p. 407-416, 2009. Disponível em: <http://
dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000300012>. Acesso em: 06 nov. 2014.
SILVEIRA, Celso L. Cuidadora de familiar com doença crônica incapacitante: percepções,
motivações e repercussões. Revista Enferm. UFSM. v. 2, n. 1, p. 67-78, jan/abr. 2012.
Disponível em: <http://cascavel.cpd.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reufsm/ article/
viewFile/3828/3128>. Acesso em: 06 nov. 2014.
SOUZA, Camila F. de et al. Pré-diabetes: diagnóstico, avaliação de complicações crônicas
e tratamento. Arq Bras Endocrinol Metab., v. 56, n. 5, p. 275-284, 2012. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302012000500001>. Acesso em: 06 nov. 2014.
SOUZA, Sabrina da S. de et al. Viver com doença crônica em uma comunidade pesqueira.
Acta paul. enferm., v. 23, n. 2, p. 194-199, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/
S0103-21002010000200007>. Acesso em: 06 nov. 2014.
VERAS, Renato P. et al. Desenvolvimento de uma linha de cuidados para o idoso:
hierarquização da atenção baseada na capacidade funcional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.,
v. 16, n. 2, p. 385-392, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/ S180998232013000200018>. Acesso em: 06 nov. 2014.
VERAS, Renato P. Estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas: um modelo em
que todos ganham. Revista Bras. Geriatr. Gerontol., v. 14, n. 4, p. 779-786, 2011.Disponível
em: <http://revista.unati.uerj.br/pdf/rbgg/v14n4/v14n4a17.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.
______. O cuidado das condições crônicas na atenção primaria à saúde: o imperativo
da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana
da Saúde, 2012. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov. br/bvs/publicacoes/cuidado_
condicoes_atencao_primaria_saude.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882
25