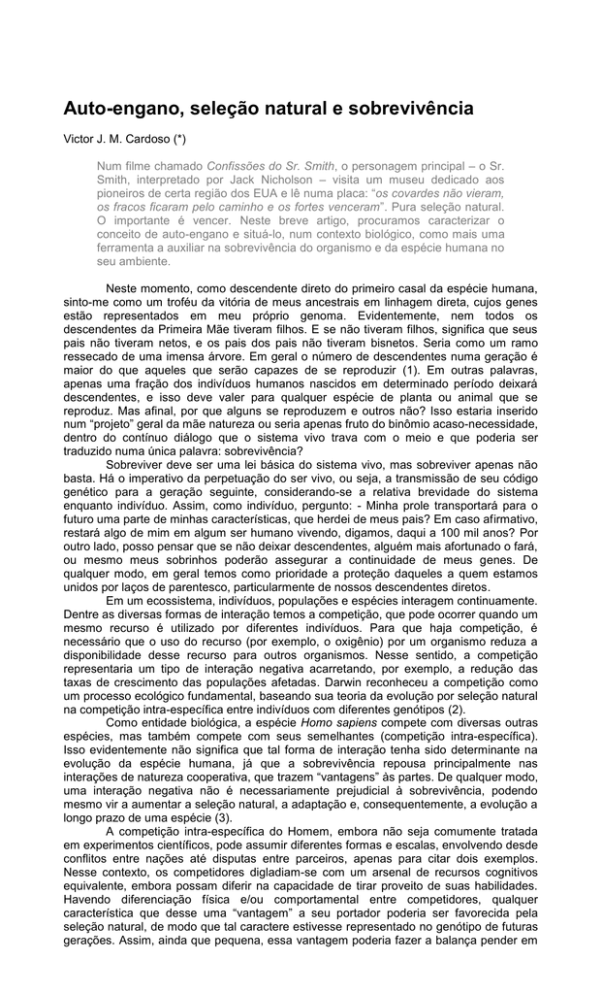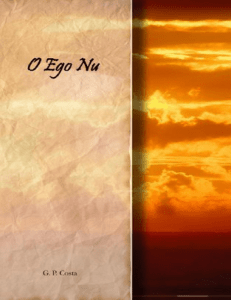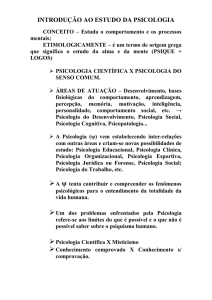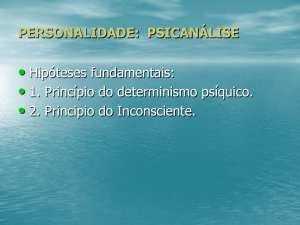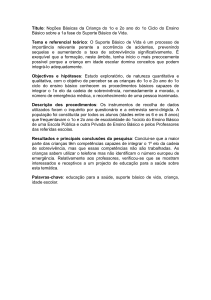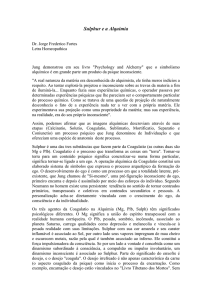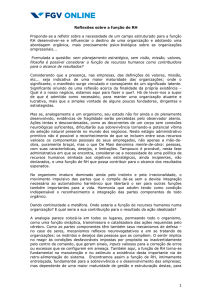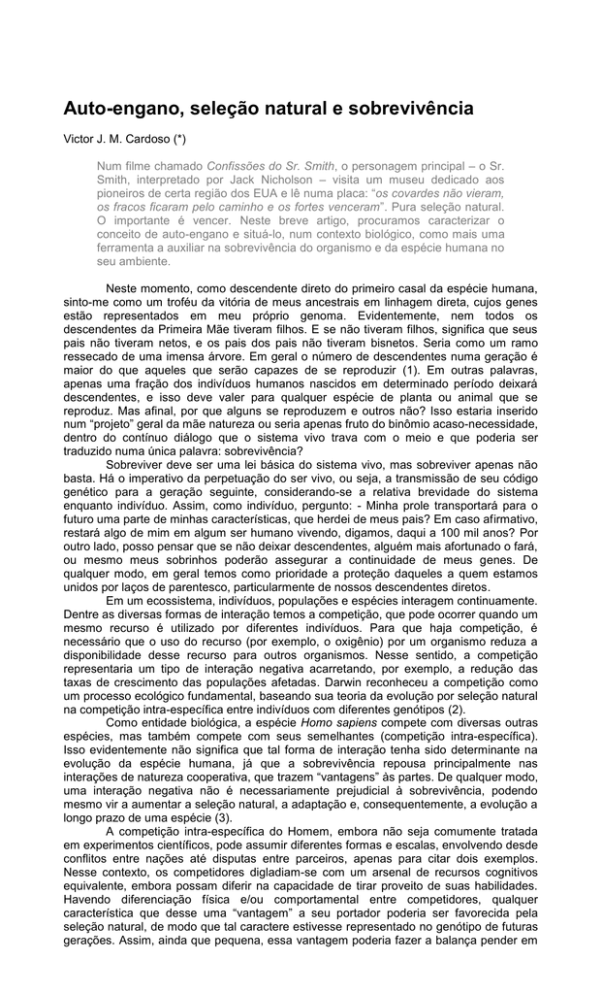
Auto-engano, seleção natural e sobrevivência
Victor J. M. Cardoso (*)
Num filme chamado Confissões do Sr. Smith, o personagem principal – o Sr.
Smith, interpretado por Jack Nicholson – visita um museu dedicado aos
pioneiros de certa região dos EUA e lê numa placa: “os covardes não vieram,
os fracos ficaram pelo caminho e os fortes venceram”. Pura seleção natural.
O importante é vencer. Neste breve artigo, procuramos caracterizar o
conceito de auto-engano e situá-lo, num contexto biológico, como mais uma
ferramenta a auxiliar na sobrevivência do organismo e da espécie humana no
seu ambiente.
Neste momento, como descendente direto do primeiro casal da espécie humana,
sinto-me como um troféu da vitória de meus ancestrais em linhagem direta, cujos genes
estão representados em meu próprio genoma. Evidentemente, nem todos os
descendentes da Primeira Mãe tiveram filhos. E se não tiveram filhos, significa que seus
pais não tiveram netos, e os pais dos pais não tiveram bisnetos. Seria como um ramo
ressecado de uma imensa árvore. Em geral o número de descendentes numa geração é
maior do que aqueles que serão capazes de se reproduzir (1). Em outras palavras,
apenas uma fração dos indivíduos humanos nascidos em determinado período deixará
descendentes, e isso deve valer para qualquer espécie de planta ou animal que se
reproduz. Mas afinal, por que alguns se reproduzem e outros não? Isso estaria inserido
num “projeto” geral da mãe natureza ou seria apenas fruto do binômio acaso-necessidade,
dentro do contínuo diálogo que o sistema vivo trava com o meio e que poderia ser
traduzido numa única palavra: sobrevivência?
Sobreviver deve ser uma lei básica do sistema vivo, mas sobreviver apenas não
basta. Há o imperativo da perpetuação do ser vivo, ou seja, a transmissão de seu código
genético para a geração seguinte, considerando-se a relativa brevidade do sistema
enquanto indivíduo. Assim, como indivíduo, pergunto: - Minha prole transportará para o
futuro uma parte de minhas características, que herdei de meus pais? Em caso afirmativo,
restará algo de mim em algum ser humano vivendo, digamos, daqui a 100 mil anos? Por
outro lado, posso pensar que se não deixar descendentes, alguém mais afortunado o fará,
ou mesmo meus sobrinhos poderão assegurar a continuidade de meus genes. De
qualquer modo, em geral temos como prioridade a proteção daqueles a quem estamos
unidos por laços de parentesco, particularmente de nossos descendentes diretos.
Em um ecossistema, indivíduos, populações e espécies interagem continuamente.
Dentre as diversas formas de interação temos a competição, que pode ocorrer quando um
mesmo recurso é utilizado por diferentes indivíduos. Para que haja competição, é
necessário que o uso do recurso (por exemplo, o oxigênio) por um organismo reduza a
disponibilidade desse recurso para outros organismos. Nesse sentido, a competição
representaria um tipo de interação negativa acarretando, por exemplo, a redução das
taxas de crescimento das populações afetadas. Darwin reconheceu a competição como
um processo ecológico fundamental, baseando sua teoria da evolução por seleção natural
na competição intra-específica entre indivíduos com diferentes genótipos (2).
Como entidade biológica, a espécie Homo sapiens compete com diversas outras
espécies, mas também compete com seus semelhantes (competição intra-específica).
Isso evidentemente não significa que tal forma de interação tenha sido determinante na
evolução da espécie humana, já que a sobrevivência repousa principalmente nas
interações de natureza cooperativa, que trazem “vantagens” às partes. De qualquer modo,
uma interação negativa não é necessariamente prejudicial à sobrevivência, podendo
mesmo vir a aumentar a seleção natural, a adaptação e, consequentemente, a evolução a
longo prazo de uma espécie (3).
A competição intra-específica do Homem, embora não seja comumente tratada
em experimentos científicos, pode assumir diferentes formas e escalas, envolvendo desde
conflitos entre nações até disputas entre parceiros, apenas para citar dois exemplos.
Nesse contexto, os competidores digladiam-se com um arsenal de recursos cognitivos
equivalente, embora possam diferir na capacidade de tirar proveito de suas habilidades.
Havendo diferenciação física e/ou comportamental entre competidores, qualquer
característica que desse uma “vantagem” a seu portador poderia ser favorecida pela
seleção natural, de modo que tal caractere estivesse representado no genótipo de futuras
gerações. Assim, ainda que pequena, essa vantagem poderia fazer a balança pender em
favor de seu portador e, por conseguinte, de sua prole, que teria mais chances e
oportunidades de transmitir seus genes para adiante. Evidentemente, a reprodução pode
estar relacionada a fatores que não envolvam necessariamente a habilidade competitiva
do indivíduo, mas pressupõe que aquele que produz um descendente está de alguma
maneira adaptado ao meio, ou seja, apresenta requisitos que lhe conferem a capacidade
de sobreviver nesse meio. Em suma, consideremos que a reprodução do indivíduo exige,
antes de tudo, aptidão deste nas suas relações com o meio. É possível também que a luta
permanente entre nossos antepassados por um lugar ao sol, especialmente pelo sucesso
dentro do próprio grupo social, tenha contribuído em muito para a evolução da inteligência
entre os humanos.
Portanto, pode-se assumir que indivíduos melhor preparados tenham mais
chances de vencer na luta pela existência, ou seja, pela sobrevivência e pela continuidade
da linhagem. Essa é uma prerrogativa dos fortes, dos vencedores, qualquer que seja o
sentido que possamos dar a tais adjetivos. Mas qual seria a importância do indivíduo, no
contexto biológico? Se, classicamente, a seleção natural é feita sobre organismos
individuais, são populações – não indivíduos – que constituem basicamente a matéria
prima da evolução, que só pode ser quantificada por intermédio de mudanças de
freqüências gênicas na espécie. Em termos técnicos, diz-se que uma espécie evolui
quando seu inventário (ou pool) genético muda, sendo essa mudança em geral associada
a um grau mais elevado de adaptação da espécie/população a um determinado ambiente
ou espaço geográfico. Nesse contexto, pode-se dizer que enquanto a espécie evolui, o
indivíduo sobrevive. Assim, o organismo é a unidade ou o “pacote” de genes que é
impelido a sobreviver, procriar e deixar sua marca, qualquer que seja ela. Provavelmente,
o grau de “sucesso” de fenótipos individuais diferenciados em relação à média da
população – traduzido em concretização da capacidade reprodutiva – implicará num
determinado deslocamento ou desvio na distribuição de freqüências gênicas dentro da
população e, por conseguinte, uma “evolução” da espécie. A evolução é o resultado
biológico computável ao longo das eras, ao passo que os embates de indivíduos perdemse nas areias do tempo e na finitude de suas existências. É tentador pensar que, de
qualquer modo, tanto organismos diferenciados como medianos estejam, sem o saber, a
serviço de estruturas hierárquicas superiores, como é a espécie. Nesse sentido, não
importa muito quem faz, mas sim o que se faz, e é isso o que vale para a comunidade,
para a população. Muitos sabem que o Homem (entenda-se, aqui, a humanidade) já pisou
na Lua, embora poucos se lembrem de quem particularmente caminhou na Lua. Enfim, o
papel do indivíduo talvez possa ser exemplificado numa passagem de Ítalo Calvino: “A
ponte não é sustentada por essa ou aquela pedra, e sim pelo arco; mas o arco não
existiria se não fossem as pedras”.
A evolução da inteligência – e do cérebro – provavelmente deve ter ocorrido junto
com o aumento da complexidade das sociedades humanas. Freud dividiu a estrutura
psíquica em id e ego. O id, representado pelos elementos hereditários e inconscientes, e o
ego, fruto do aprendizado transmitido por outras pessoas ou resultado da própria
experiência do indivíduo. O ego representaria o controle pela vontade, tendo como uma
de suas principais tarefas a manutenção e defesa da integridade física do indivíduo, o que
seria conseguido por intermédio de reações adequadas a estímulos externos (evitar
predadores, por exemplo, ou procurar abrigo em um dia de chuva) e também por modificar
o ambiente em seu próprio benefício. Numa outra “frente de batalha”, o ego controlaria as
exigências dos instintos (representados pelo id), decidindo em favor ou não de sua
satisfação, dependendo das condições ambientais. No contexto da evolução da espécie
humana, dois aspectos devem ser destacados: de um lado, a capacidade de pensar, a
autoconsciência, os sonhos e os desejos do indivíduo, do ego; do outro, a necessidade de
consolidar as estruturas sociais emergentes, condição essa que exige certo grau de
supressão ou submissão do indivíduo em prol do interesse e do bem comum.
Diferentemente de outras espécies, a evolução do Homem culminou na autoconsciência,
ou a visão reflexiva do eu. Considerando-se que autoconsciência implica – entre outras
coisas – na ciência do fim ou da finitude do indivíduo, tal conhecimento poderia produzir
elementos fortemente anti-sociais que devem ser devidamente controlados. Por exemplo,
como entidade pensante, o eu é obrigado a conviver com a perspectiva de que vai morrer;
não importa o que faça, seus filhos morrerão um dia e assim também seus amigos; enfim,
todos! Essa extinção do eu, da mente pensante, do ego, embora possa fazer sentido de
um ponto de vista biológico – sistemas vivos finitos e em constante renovação devem ser
mais eficientes para a perpetuação da vida do que um sistema onisciente único – não
deve ser algo que, em condições normais, organismos autoconscientes aceitem sem
contestação ou um mínimo de luta. Afinal, todas as energias do sistema vivo estão
voltadas para sua sobrevivência (uma das tarefas do ego), e não para a extinção. A idéia
da finitude do eu contém um componente anti-social na medida em que nega ao indivíduo,
por exemplo, o prêmio do bom comportamento a que ele – como bom cidadão – julga
fazer jus, considerando-se que o comportamento correto é a base da ordem social.
Todavia, como a história natural de nossa espécie perdura por muitos milhares de anos,
pode-se supor que a seleção natural tenha forjado mecanismos capazes de resolver esse
pequeno “problema”, digamos, mantendo os vulcões individuais em um estado de certa
calmaria, com sua energia controlada e direcionada para outros fins, como o interesse
coletivo.
Mencionou-se acima que a sobrevivência do indivíduo e a transmissão de seus
genes à geração seguinte podem estar associadas às suas habilidades para enfrentar os
desafios do meio. No caso do Homem, a força e a resistência física são fundamentais
para a sobrevivência num ambiente desfavorável, com escassez de recursos, mas em
geral não representam mais fatores decisivos de imposição do individuo dentro de uma
comunidade ou grupo. Como animal social, vivendo em agrupamentos cada vez mais
estáveis e organizados, outras armas acabaram por prevalecer. A habilidade de enganar
ou ludibriar os semelhantes, por exemplo. De acordo com David L. Smith (4), a pessoa
que mente melhor leva vantagem sobre seus pares na luta pelo sucesso reprodutivo. A
capacidade de transmitir mensagens ou sinais falsos não é exclusividade da espécie
humana, sendo bastante comum entre os seres vivos. Dependendo da complexidade do
organismo, tal capacidade pode tanto ser fruto de um fenótipo bem-sucedido favorecido
pela seleção natural – como no caso da flor que “imita” a fêmea de um inseto a fim de
atrair o macho que, ao tentar copular com o simulacro de fêmea, irá atuar como
polinizador –, como de processos comportamentais flexíveis e complexos, altamente
dependentes do contexto social. Esse é o caso, por exemplo, dos primatas. Nos seres
vivos, a prática do “engano” é apenas mais um recurso para os desafios da sobrevivência
e reprodução. Evidentemente, no caso do mundo natural não humano, os
comportamentos a que nos referimos como “engano” não contemplam a premeditação
consciente ou intencionalidade características do engano enquanto prática humana.
Portanto, deve ficar claro que, até prova em contrário, o engano sensu strictu é uma
prerrogativa exclusiva do ser humano, ou seja, é o homem que inventou o engano e
passou vê-lo por toda parte (5).
O auto-engano (isto é, a capacidade de iludir a si mesmo) seria uma ferramenta
que permitiria o exercício do engodo, do falseamento, de uma maneira mais enfática,
convincente, partindo-se do pressuposto de que enganar a si mesmo melhora a chance
de enganar a terceiros. Porém, mais do que habilitar o indivíduo a mentir melhor e auferir
disso algum tipo de benefício, o auto-engano também poderia constituir-se num
mecanismo de auto-aceitação e aceitação da realidade social do agente, da qual ele não
consegue (ou não pode) se omitir. Ademais, serviria como lenitivo para a idéia da própria
morte enquanto possibilidade concreta. Vale lembrar que, na mitologia bíblica, Adão é
alertado por Deus a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, “por
que no dia em que dela comeres terás de morrer” (Genesis, cap. 2, v. 17). Em verdade, ao
comer do fruto proibido Adão não morreu, mas provavelmente tomou pela primeira vez
consciência da própria morte, da amarga condição de finitude do eu, que nos priva do
convívio com os seres vivos (5). O auto-engano também poderia travestir-se em
conformação (ou conformidade) e esperança. Conformar-se significa basicamente aceitar
um fato ou conjunto de fatos ou situações particularmente desagradáveis; e a esperança
nos permite aguardar pacientemente algo que se deseja e que, acreditamos, irá se
concretizar em um futuro indeterminado. Assim, nas palavras de Eduardo Gianetti (5), se
o homem expulso do paraíso foi punido com a consciência da morte e de sua imperfeição,
em contrapartida recebeu o dom da esperança, a cegueira salvadora e iluminada que nos
protege dos nossos erros e da certeza de nosso fim.
Portanto, no contexto da sobrevivência do homem, mecanismos psíquicos
altamente complexos parecem encarregar-se da manutenção da sanidade mental do
indivíduo, bem como da sua capacidade de conviver e, na medida do possível, levar
vantagem sobre competidores em potencial. O auto-engano envolveria, assim, um
complexo diálogo entre as esferas consciente (ego) e inconsciente (id) da mente humana.
Fundamentalmente, o organismo humano não deve suportar autoconhecimento em
excesso, uma vez que isso implicaria numa menor capacidade de auto-engano, levando a
um “estreitamento” da percepção, pelo indivíduo, do sentido da própria existência (ou
mesmo da existência em si), o que comprometeria sua capacidade de sobrevivência e
perpetuação. Como elemento de homeostase (equilíbrio) do eu, o auto-engano, digamos
assim, “adoçaria a pílula” e tornaria o fardo menos pesado, impondo-se como importante
mecanismo de defesa do ego. O ego é o senhor, e em seu nome o meio pode ser
manipulado, criando-se uma “realidade virtual” ou um contexto adequado às suas
necessidades. Nas palavras de Daniel Dennett, “o único significado que pode haver é
aquele que você cria para si mesmo”, e “o significado é a criação do próprio indivíduo”.
Como entidade inteligente e autoconsciente, o ser humano precisa de significados, de
referências, de um amálgama que permita dar algum “sentido” às coisas que vivencia.
Deus, por exemplo, é um excelente sentido ou, melhor dizendo, a origem do sentido. “Se
Deus não existisse, tudo seria permitido”, disse Dostoievsky. E se Deus não existisse, o
homem não teria sido concebido por Ele, e os desejos do homem não seriam os desejos
de Deus, mas apenas e tão-somente os desejos do próprio homem (6). Mas poderia a
mente humana suportar o peso de tamanha responsabilidade? A angústia do homem não
seria tão grande a ponto de comprometer sua capacidade de sobreviver enquanto animal
social ou mesmo enquanto espécie? Sem Deus – talvez a suprema manifestação de
nossa capacidade de auto-engano – o homem não teria justificativas ou desculpas para
seus atos, como diria Sartre; estaria apenas ao sabor da solidão de sua liberdade (e
responsabilidade). Evidentemente, ao longo da evolução do homem, devem ter surgido
mecanismos que não permitiriam que tal sensação de desamparo prosperasse.
Os processos operacionais do cérebro humano são extremamente complexos,
sendo que uma decisão ou escolha pode, antes de se manifestar como desejo consciente,
já ter sido tomada em nível pré ou subconsciente. De acordo com Freud, na relação do
ego com a consciência, mesmo operações intelectuais refinadas e complexas podem ser
executadas em nível pré-consciente, antes de chegar à consciência. Seria o caso, por
exemplo, de alguém que acorda com a solução de um problema que não conseguiu
resolver no período de vigília. As próprias faculdades de autocrítica e consciência são, ao
menos em alguns casos, inconscientes, e produzem seus efeitos no plano do
inconsciente. Orstein (“A evolução da consciência”) relata que, na mente em estado de
alerta, existe um atraso (delay) entre o estímulo e a percepção consciente desse estimulo
por parte do sujeito, atraso esse que permitiria que a mente corrigisse ou mesmo
censurasse percepções que “julgasse” inoportunas, excedentes ou indesejáveis, agindo
como um editor de jornal que determina quais e como as notícias serão divulgadas ao
público. A função desse mecanismo seria proteger a consciência de um excesso de
informações “fúteis”, entendendo-se como tal toda e qualquer informação que não esteja
diretamente relacionada à proteção e à preservação do bem estar do indivíduo. Por outro
lado, em situações de emergência, que exigem reações extremamente rápidas do
organismo, tais reações podem ocorrer antes mesmo que o estímulo atinja níveis
conscientes. Assim, cada ação é disparada em nível subconsciente e, dependendo das
circunstâncias, é liberada ou vetada para a consciência, mas em geral o ego não “precisa”
saber disso. Ou seja, em nome do equilíbrio e da saúde mental, nosso sistema nervoso
filtra e seleciona os milhões de estímulos físicos que atingem o organismo, priorizando
apenas aqueles mais diretamente relacionados à sua sobrevivência e, provavelmente, à
de sua linhagem. Nesse sentido, o cérebro talvez imponha restrições a um mergulho
profundo na autoconsciência, assegurando dessa forma o bem estar do indivíduo dentro
de sua comunidade. Assim, a “sábia” seleção natural talvez tenha nos ensinado que a
viagem às nossas próprias profundezas pode reservar perigos insuspeitáveis e
potencialmente mortais.
Esse “filtro” de informações, situado no trajeto entre a decisão subconsciente e a
consciência da decisão, poderia fazer parte do sistema de auto-engano? Considerando-se
que o aparelho psíquico não suporta o desprazer, ele tem de desviá-lo a todo custo. E se
os estímulos ambientais causam desprazer, a percepção desses estímulos deve ser
sacrificada, ou seja, o indivíduo simplesmente não “percebe” determinado evento à sua
volta (7). Quanto aos sinais vindos de dentro do próprio indivíduo – já que não é possível
fugir de si mesmo – o ego (ou o id?) ativaria o sistema defensivo do auto-engano que
falsifica a percepção e transmite à consciência apenas uma representação “maquiada” do
próprio ego. Isso faz com que, em geral, cada indivíduo tenha a si próprio na mais alta
conta, mesmo que cometa erros ou tome atitudes equivocadas. Segundo Orstein, as
pessoas costumam recordar apenas os adjetivos positivos a seu respeito, simplesmente
ignorando os demais. Do mesmo modo, tendem sempre a valorizar o positivo e a ocultar o
negativo, ou então se lembrarem mais dos sucessos do que dos fracassos (8). O
importante é manter a auto-estima elevada, o que repousa no sentimento e na crença de
ser bom, de acreditar com sinceridade que somos aquilo que queremos (ou gostaríamos
de) ser. Um exemplo de mecanismo de manutenção da homeostase mental pode ser
ilustrado no caso do indivíduo que deixa passar a oportunidade de praticar um ato positivo
que demonstraria, por exemplo, nobreza ou magnanimidade. Sentindo desconforto, busca
retomar o equilíbrio mental por intermédio da autocensura ou autopunição, onde um
pretenso lado “bom” reconhece a posteriori o ato falho e triunfa sobre o “mau”, sentindo-se
o indivíduo redimido e confortado em razão do “castigo” auto-imposto, recuperando assim
o equilíbrio interno. É curioso como, em tais casos, parecem existir duas personagens:
aquela que praticou o ato numa determinada circunstância; e aquela que reflete sobre o
ato praticado, penitencia-se, recupera o próprio referencial e volta a sentir-se “bom”.
Portanto, o simples ato de admitir intimamente o próprio erro representa uma forma de
estabelecer um contraponto ao mau ato, permitindo ao indivíduo continuar sua jornada
sem maiores problemas de consciência. É claro que tais atributos valem apenas para os
indivíduos considerados mentalmente sadios, bem adaptados ao seu meio. Um
sentimento prolongado de culpa pode, por outro lado, comprometer o equilíbrio e a autoestima do indivíduo.
Numa analogia dos mecanismos mentais de proteção do ego com o mundo dos
computadores, o id poderia ser um processador operando em linguagem de máquina, em
cujos códigos se ocultariam a natureza biológica do ser humano e o universo de seus
desejos mais profundos (“desejos biológicos”). Um programa compilador seria
encarregado de traduzir esse material para um conjunto de símbolos compreensíveis, que
emergiriam sob a forma de pensamentos e desejos, ou seja, se tornariam conscientes.
Mas tal compilador seria uma máquina diabólica que, de maneira autônoma, seleciona o
material a ser traduzido de acordo com algum critério desconhecido, de tal modo que
apenas certos trechos do inconsciente possam ser decodificados, criando de qualquer
modo a ilusão do livre arbítrio, da capacidade de escolha, mesmo que a “decisão” já tenha
sido tomada pelo próprio compilador em nível subconsciente. Seria como o advogado que,
com esforço, colige provas em favor de seu cliente, num julgamento cujo veredicto já fora
antecipadamente proferido e que ele ignorava.
De acordo com Freud, um mecanismo de defesa do ego pode perdurar mesmo
após o desaparecimento do estímulo que o evocou, vindo a incorporar-se ao repertório
comportamental do indivíduo. Nesse caso, o mecanismo passa a produzir determinado
padrão de reação toda vez que ocorra uma situação semelhante àquela que provocou a
sua origem. Além disso, o ego pode chegar ao ponto de – na ausência de perigo “real” –
criar ou simular situações substitutas aproximadas do perigo original, o que justificaria os
procedimentos defensivos fixados no ego. E tudo isso ocorreria de um modo, digamos
assim, “automático”, isto é, sem questionamento ou procedimento auto-crítico por parte do
eu consciente. Essa “defesa” do eu pode assumir inúmeras formas. Oliver Sacks, em seu
livro “O homem que confundiu sua mulher com um chapéu”, cita o caso de um sujeito que,
tendo perdido irremediavelmente o sentido do olfato devido a uma lesão na cabeça,
passou num dado momento a sentir os aromas de objetos queridos, como o café e o
cachimbo. O córtex cerebral recuperara registros anteriores das sensações olfativas, de
modo a evocar tais sensações quando o sujeito bebia café ou acendia seu cachimbo.
Assim, o córtex, criava um tipo de alucinação que fazia com que o indivíduo praticamente
se auto-enganasse – e como conseqüência enganasse os outros – acreditando e fazendo
crer que realmente estava sentido cheiro (9).
Empédocles já reconhecia a evolução gradual das criaturas vivas e a
sobrevivência dos mais aptos. Mas, que homem é forte? Aquele que assume plena e
conscientemente seus atos, ou aquele que busca refúgio nos referenciais externos? Em
ambos os casos a consciência pode ser filtrada a ponto de, por exemplo, um algoz
derramar sinceras lágrimas de piedade diante de sua vítima. Há resposta para isso? Do
ponto de vista da seleção natural, o importante talvez seja chegar, não importando os
meios utilizados para isso. Quando esse princípio amoral não se coaduna com os
princípios éticos do ego, esse cria leis morais e divinas que disfarçam e justificam atos
que, basicamente, apenas reforçam a lei do mais forte; daquele que chega e coloniza;
daquele cujos genes estarão representados, em algum descendente, milhares de anos
depois. Enfim, qualquer que seja a conotação que possamos dar ao auto-engano,
provavelmente trata-se de um mecanismo psíquico inerente ao organismo humano que,
além de melhorar seu desempenho em suas relações com os semelhantes, fornece-lhe
uma perspectiva ante o absurdo que é a vida vista radicalmente de fora (5). De acordo
com Eduardo Gianetti (5), uma visão totalmente impessoal, descentrada, da vida, poderia
levar a uma sensação de perplexidade e niilismo, fazendo com que um organismo
sensciente, ao contemplar sua real magnitude e proporção diante do Universo, perdesse o
senso de orientação e sucumbisse ante sua insignificância. Um ser humano que perdesse
a crença em si mesmo e no sentido de seu destino – ou, de certa forma, a capacidade de
se auto-enganar – pereceria sob o peso esmagador da futilidade de qualquer esforço e da
gratuidade do existir.
Bibliografia
(1). Dennet, D. 1998. A perigosa idéia de Darwin, Editora Rocco,
(2). Ricklefs, E.R. e Miller, G.L. 1999. Ecology. W.H. Freeman, New York.
(3). Odum, E.P. , 2001. Fundamentos de ecologia. Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa.
(4) David L. Smith, 2005. Mentirosos inatos. Revista Mente & Cérebro No. 153.
(5) Gianetti, E. 1997. Auto-Engano. Cia. das Letras, São Paulo.
(6). Sartre, J.P., O existencialismo é um humanismo. Coleção Os Pensadores,
(7) Freud, S. 1969. Análise terminável e interminável. Obras Completas, Vol. XXIII. Editora
Imago, Rio de Janeiro.
(8) Orstein, R. 1991. A evolução da consciência. Ed. Best Seller, São Paulo.
(9) Sacks, O. 1985. O homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Cia. das Letras,
São Paulo.