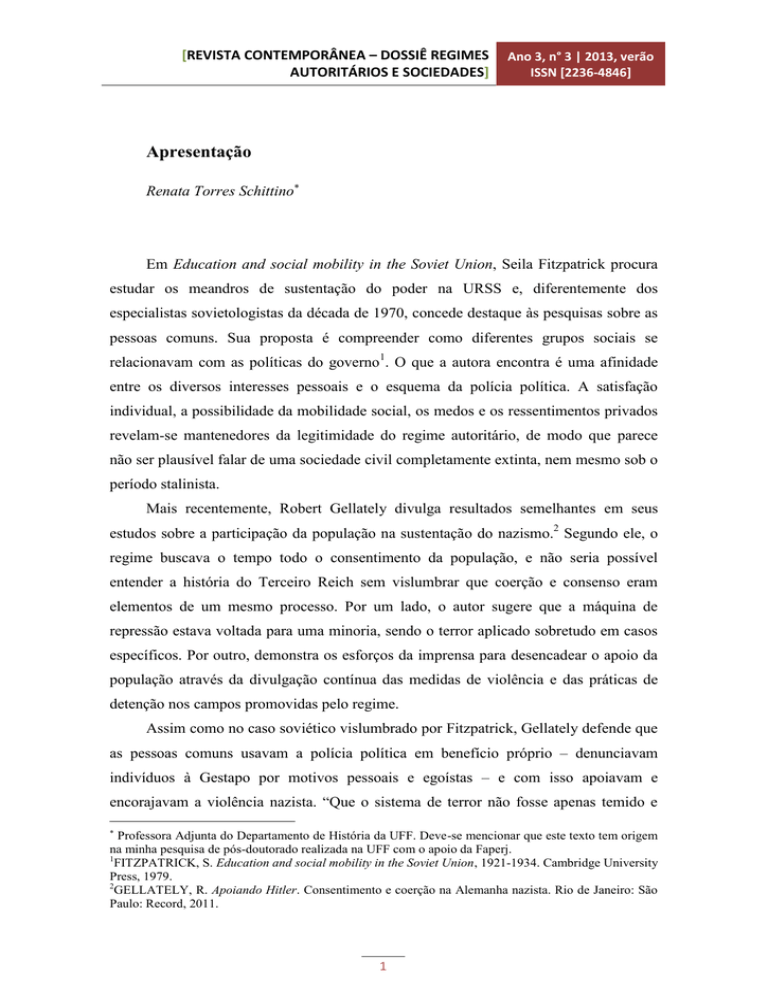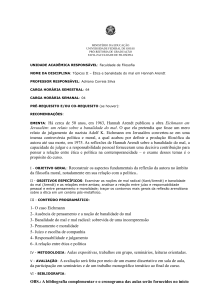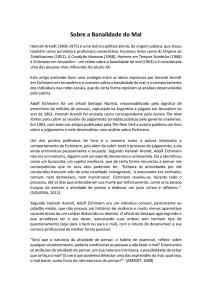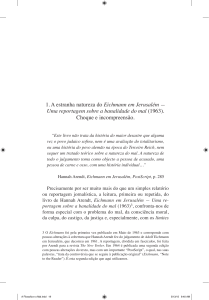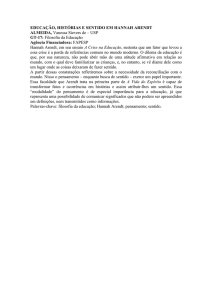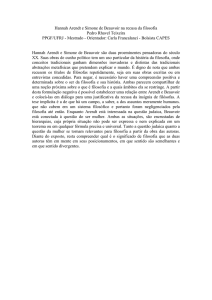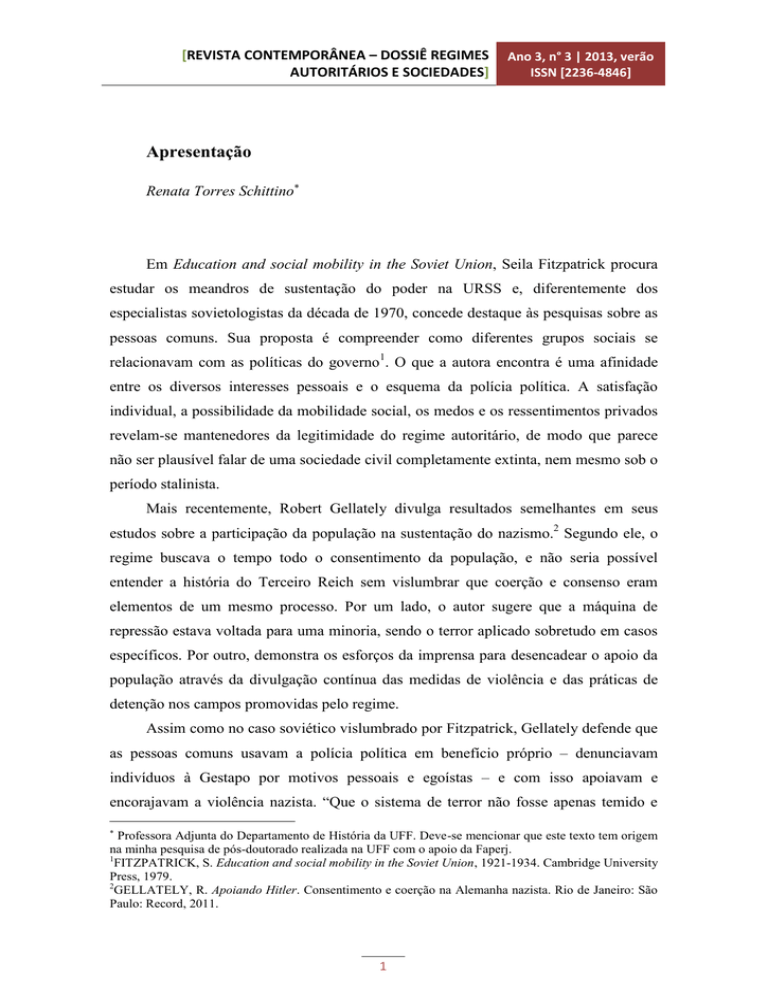
[REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ REGIMES
AUTORITÁRIOS E SOCIEDADES]
Ano 3, n° 3 | 2013, verão
ISSN [2236-4846]
Apresentação
Renata Torres Schittino
Em Education and social mobility in the Soviet Union, Seila Fitzpatrick procura
estudar os meandros de sustentação do poder na URSS e, diferentemente dos
especialistas sovietologistas da década de 1970, concede destaque às pesquisas sobre as
pessoas comuns. Sua proposta é compreender como diferentes grupos sociais se
relacionavam com as políticas do governo1. O que a autora encontra é uma afinidade
entre os diversos interesses pessoais e o esquema da polícia política. A satisfação
individual, a possibilidade da mobilidade social, os medos e os ressentimentos privados
revelam-se mantenedores da legitimidade do regime autoritário, de modo que parece
não ser plausível falar de uma sociedade civil completamente extinta, nem mesmo sob o
período stalinista.
Mais recentemente, Robert Gellately divulga resultados semelhantes em seus
estudos sobre a participação da população na sustentação do nazismo.2 Segundo ele, o
regime buscava o tempo todo o consentimento da população, e não seria possível
entender a história do Terceiro Reich sem vislumbrar que coerção e consenso eram
elementos de um mesmo processo. Por um lado, o autor sugere que a máquina de
repressão estava voltada para uma minoria, sendo o terror aplicado sobretudo em casos
específicos. Por outro, demonstra os esforços da imprensa para desencadear o apoio da
população através da divulgação contínua das medidas de violência e das práticas de
detenção nos campos promovidas pelo regime.
Assim como no caso soviético vislumbrado por Fitzpatrick, Gellately defende que
as pessoas comuns usavam a polícia política em benefício próprio – denunciavam
indivíduos à Gestapo por motivos pessoais e egoístas – e com isso apoiavam e
encorajavam a violência nazista. “Que o sistema de terror não fosse apenas temido e
Professora Adjunta do Departamento de História da UFF. Deve-se mencionar que este texto tem origem
na minha pesquisa de pós-doutorado realizada na UFF com o apoio da Faperj.
1
FITZPATRICK, S. Education and social mobility in the Soviet Union, 1921-1934. Cambridge University
Press, 1979.
2
GELLATELY, R. Apoiando Hitler. Consentimento e coerção na Alemanha nazista. Rio de Janeiro: São
Paulo: Record, 2011.
1
[APRESENTAÇÃO * RENATA SCHITTINO]
evitado, mas usado e manipulado, era uma característica essencial do mundo da vida
dos denunciantes e dos agentes na ditadura de Hitler. As denúncias aconteciam dentro
das famílias, entre os amigos e colegas e também dentro do Exército, de forma que
nenhum encrave social parecer ter ficado totalmente imune”.3
As obras como as de Seila Fitzpatrick e de Robert Gellately, que buscam analisar
os regimes autoritários e ditatoriais, observando a importância do consenso social em
vez de enfatizar o poderio do líder ou a legitimação pela força, têm ganhado terreno
desde a década de 1970. Pode-se dizer, de maneira geral, que os estudos deixam de
trabalhar com a oposição entre Estado e Sociedade para explicar a existência das
ditaduras, e passam à tentativa de compreender como se arregimentam as relações
sociais - relações de poder – que tornam possível a manutenção dos governos
autoritários.
A história da historiografia poderia nos dar uma série de elementos significativos
no seio dos desenvolvimentos teóricos e metodológicos para avançar no entendimento
das mudanças de abordagem no tratamento da temática dos regimes autoritários e
sociedades. Mencionemos, como exemplos, a ênfase na experiência do homem comum,
a noção de que o poder não é uma instância estanque e sim um emaranhado de relações
sociais tensas, o reconhecimento dos estudos de memória, o desenvolvimento de uma
nova história política, o declínio das grandes narrativas. Outra forma de introduzir a
reflexão sobre essa temática é já mergulhando nela. Façamos isso com uma breve
remissão aos conceitos de zona cinzenta e de banalidade do mal.
Ao escrever Afogados e sobreviventes, Primo Levi concebe a importância da zona
cinzenta no interior dos campos de concentração. Segundo ele, o prisioneiro deparavase com a experiência da zona cinzenta logo de início, quando recebia as primeiras
ameaças e pancadas não dos algozes da SS, mas de outros prisioneiros, supostos
“colegas” que tinham as mesmas vestimentas listradas. No universo concentracionário,
o prisioneiro era forçado a perceber que estava sozinho, que se embrenhava numa região
de todos contra todos. A indistinção entre vítimas e algozes não permitia que a
solidariedade se espalhasse entre os oprimidos. Na verdade, como sugere Levi, o
nazismo não santificava suas vítimas, mas lhes corrompia a dignidade ao exigir que
tomassem parte no trabalho sujo da repressão e da matança. Assumir posição de algoz
muitas vezes significava para o prisioneiro a única possibilidade de sobrevivência.
3
Idem, p.218.
2
[REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ REGIMES
AUTORITÁRIOS E SOCIEDADES]
Ano 3, n° 3 | 2013, verão
ISSN [2236-4846]
Qualquer pequena vantagem obtida, qualquer privilégio - um prato a mais de comida,
uma roupa seca – poderia lhe assegurar mais tempo de vida em meio ao espaço incerto e
extremamente violento dos campos. A zona cinzenta se constitui assim, para Levi,
como a proliferação do privilégio. A zona cinzenta é o próprio espaço do privilégio.
Revela-se como uma região nebulosa, onde as fronteiras rígidas entre vítima e opressor
são tênues.4
Levi mostra que, se a zona cinzenta era o arcabouço constitutivo dos campos, na
verdade, apenas se reconfigurava aí a estrutura de privilégio e colaboração que se
avultava em todo o sistema totalitário. Como demonstra o autor, a zona cinzenta se
manifesta muito claramente nas instâncias colaboracionistas, como o governo de Vichy,
a Republica de Saló ou o Judenrat de Varsóvia.
Giorgio Agamben em O que resta de Auschwitz concede destaque à “descoberta
que Levi fez em Auschwitz”, isto é, à tentativa de configurar a zona cinzenta. O filósofo
italiano enfatiza principalmente o depoimento Miklos Nyiszli, reproduzido por Levi, no
qual o sobrevivente relata ter assistido a uma partida de futebol entre sonderkommandos
e SS. O jogo permitia entrever o contato entre vítimas e algozes. Dava a impressão de
que não se estava num campo de concentração, mas que se tratava de uma partida
comum. Agamben vê nessa partida de futebol o “emblema perfeito” da zona cinzenta. O
que ele frisa não é o caráter excepcional desse momento de descontração, ao contrário,
indica como é o aparecimento dessa zona de indistinção entre vítimas e algozes - esse
aspecto de „normalidade‟ - que se constitui como “o verdadeiro horror do campo”.
Deve-se notar que, tanto para Levi quanto para Agamben, a zona cinzenta está
bastante carregada de um questionamento moral. Se não é possível distinguir entre
opressores e oprimidos, quem seriam os responsáveis pela sustentação do regime
nazista? Agamben chega a supor que o aspecto de „normalidade‟ da zona cinzenta deixa
atrás de si o lastro de uma “infame zona de irresponsabilidade”.5
Hannah Arendt sublinha, desde os seus primeiros trabalhos sobre o totalitarismo,
o caráter radicalmente novo do regime ditatorial alemão. A autora chama a atenção para
a ruptura que está aí colocada com todos os padrões morais de julgamento vigentes até
então.6
4
LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
AGAMBEN, G. O que resta de Auschwitz. São Paulo: Boitempo, 2008, pp.31-35.
6
ARENDT, H. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Cia das Letras, 2004.
5
3
[APRESENTAÇÃO * RENATA SCHITTINO]
Ao cunhar a noção de banalidade do mal, por conta do trabalho que escreve como
correspondente do New York Times no julgamento de Eichmann, em Jerusalém, Arendt
acredita que o mal no totalitarismo não pode ser pensado nos moldes tradicionais.
Eichmann, ela vislumbra, não é nenhum Iago ou Macbeth. Assim como não pode ser
comparado a um grande vilão tomado por intenções malignas, também não pode ser
acusado de ser um tipo de louco ou sádico. Eichmann não é sequer uma pessoa especial.
O que mais chama a atenção de Arendt é a normalidade do líder nazista. Sublinhar o
caráter da banalidade do mal significa enfatizar seu aspecto ordinário ou corriqueiro. O
deixar-se levar por interesses pessoais, a comodidade e mesmo a apatia podem ser tão
perigosos quanto qualquer intenção maligna. A normalidade de Eichmann está
relacionada à própria normalidade do social. Os crimes cometidos durante o nazismo
têm que ser repensados sob uma nova ótica exatamente porque escapam à limitação
tradicional. O crime não é mais a situação excepcional.7
Em Responsabilidade e julgamento, Arendt também se pergunta por que tantos
„bons‟ alemães, pessoas respeitáveis e cultas, acabaram apoiando Hitler ativamente ou
passivamente. Aí mais uma vez está levantada a questão segundo a qual a ditadura
nazista não provém de outro planeta, mas surge no próprio seio da sociedade,
constituindo-se como escolha mais ou menos engajada de homens normais.
O que devemos destacar é que a constatação da banalidade do mal, que revela a
ausência de intenções malignas, não exime a pessoa do crime cometido. Se Arendt fala
numa ausência de reflexão, e até mesmo numa incapacidade do pensamento de
Eichmann, isso não significa que esteja isentando-o de responsabilidade por seus
crimes. A noção de banalidade não vem certamente corroborar a hipótese, muito
utilizada pela defesa de Eichmann e dos nazistas em Nuremberg, do dente na
engrenagem. Através dessa proposição imaginava-se poder provar que os funcionários
nazistas não faziam mais que cumprir o seu dever como subordinados do Estado, de
modo que num estado totalitário toda a responsabilidade seria do líder.
Se Agamben podia falar dessa zona cinzenta como esfera da irresponsabilidade,
Arendt faz questão de vislumbrar a diferenciação entre culpa e reponsabilidade. Esse
seria o modo de fugir do paradoxo segundo o qual “onde todos são culpados ninguém
de fato o é”. Na concepção da autora, a responsabilidade está relacionada ao ato
cometido e não à intenção de cometê-lo. Assim, a culpabilidade aparece como uma
7
ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Cia das Letras,
1999.
4
[REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ REGIMES
AUTORITÁRIOS E SOCIEDADES]
Ano 3, n° 3 | 2013, verão
ISSN [2236-4846]
questão moral e está na alçada da consciência, mas não implica necessariamente
responsabilidade legal, que, por sua vez, se refere ao âmbito da ação. Dessa ótica,
Eichmann poderia estar correto quando se declara culpado diante de Deus, mas inocente
diante do Estado. Ao que parece, Arendt não duvidaria da relação entre Deus e o plano
da culpabilidade. Quem poderia realmente saber de nossas intenções? No que se refere à
inocência perante o Estado, no entanto, a autora não poderia aceitar a ideia de que o réu
estava correto por apenas cumprir ordens de estado. Notemos que concordar com a tese
da defesa de Eichmann seria validar a noção de que, no totalitarismo, o único
responsável era o próprio Hitler, e isso, certamente, significaria corroborar a teoria do
Estado x sociedade. Na concepção arendtiana, ao contrário, a banalidade do mal não
redime ninguém. Eichmann devia ser condenado, pois “política não é jardim-deinfância; em política, obediência e apoio são a mesma coisa.”8
Resta saber em que medida é possível rejeitar um sistema como o nazismo sem
que isso signifique morte ou completo isolamento social. A questão que se coloca
refere-se ainda à possibilidade de compreender os níveis de colaboração e de
responsabilidade. No anseio de buscar os meandros das relações entre regimes
autoritários e sociedades, os textos aqui reunidos se compõem como uma variedade de
estudos de casos através dos quais podemos perceber uma diversidade de atitudes e
comportamentos políticos sob ditaduras.
Gabriel Trigueiro analisa o Cruelty and silence: war, tyranny, uprising and the
arab world, do famoso autor de Republic of fear, Kanan Makiya. Observamos aí a
tentativa de acompanhar criticamente como Makyia, a partir da análise da guerra do
golfo na década de 1990, se insurge contra a concepção corrente de que a política e a
situação do Oriente Médio devem ser entendidas apenas como imposição do Ocidente
sobre o Oriente. Danilo José Dalio, também com o olhar no Oriente Médio, discute a
temática da Primavera árabe, que, segundo sua hipótese, seria o resultado de um
antagonismo latente na relação entre regimes autocráticos e as forças de mercado em
expansão. Voltando-se para Nuestra América, Darío Dawyd e Paula Andrea Lenguita
trabalham com a questão das bases sociais dos regimes autoritários, através da discussão
sobre a posição do sindicalismo de base na Argentina das décadas de 1960 a 80;
enquanto Julian Araújo Brito propõe a temática da manutenção do poder e
legitimidade social da Revolução cubana pós- queda do muro de Berlim. Sobre as
8
Idem, p. 302.
5
[APRESENTAÇÃO * RENATA SCHITTINO]
experiências autoritárias no Brasil, temos o artigo de Jonas Lana a respeito do caso de
Rogério Duprat como arranjador da Tropicália; o texto de Carlos Eduardo P. de
Pinto, acerca da relação entre Cinema novo e resistência à ditadura militar, onde
encontramos um questionamento produtivo sobre a vinculação mecânica entre o Golpe
e o “processo criativo dos cineastas”; e a pesquisa de Victor H. de Resende, que visa
compreender o processo de “modernização autoritária” no Brasil mediante o exame da
transição de um rock ligado ao transcultural na década de 1970 para um rock que
enfatiza a desorientação do país na década de 1980.
Na seção de artigos livres, contamos ainda com a contribuição de Carlos Vinicius
Costa de Mendonça e Gabriela Santos Alves. Os autores propõem uma análise de
Agosto, de Rubem Fonseca, onde encontram a representação política das relações de
poder no Rio de Janeiro de 1950. Por fim, temos o trabalho de Ricardo Sorgon Pires,
que nos apresenta as tensões e conflitos em torno da disputa de memória a respeito
daquela que ficou conhecida como último grande combate da segunda guerra mundial, a
Batalha de Okinawa.
Boa leitura.
6