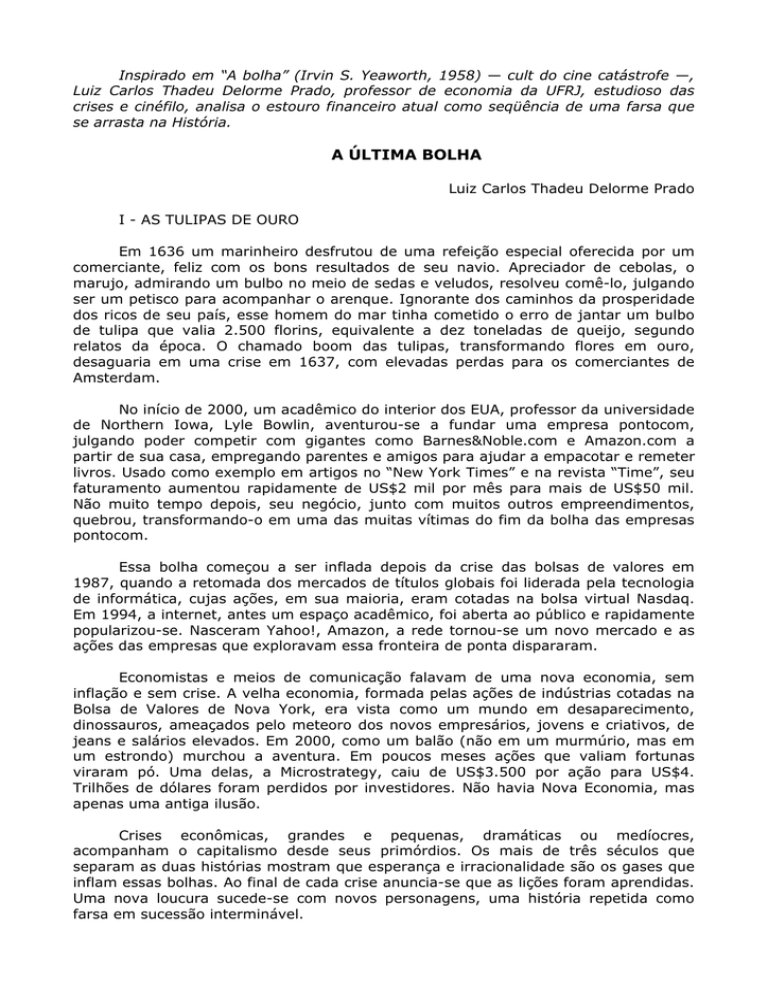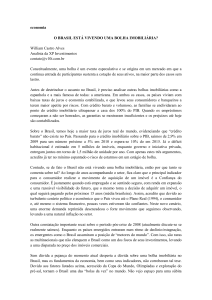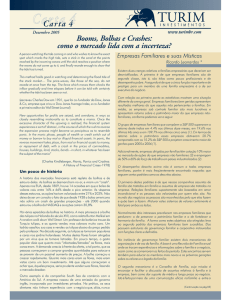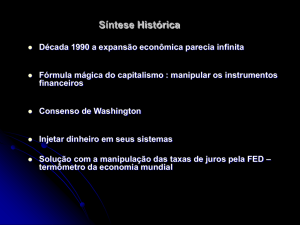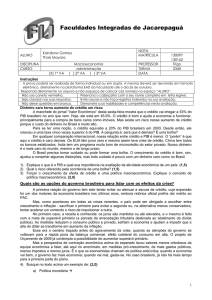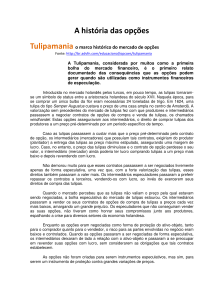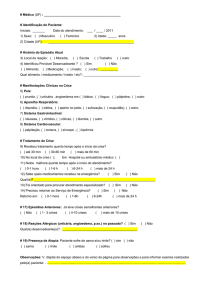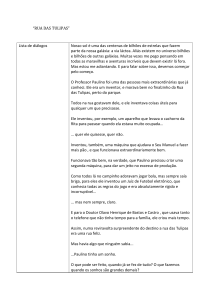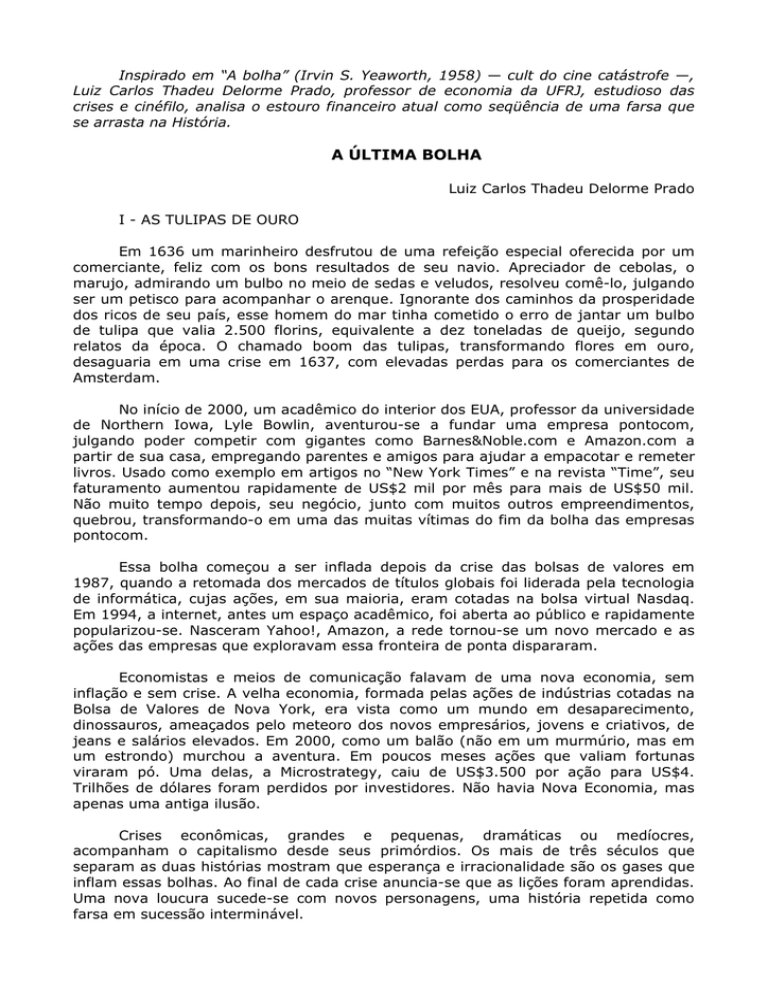
Inspirado em “A bolha” (Irvin S. Yeaworth, 1958) — cult do cine catástrofe —,
Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado, professor de economia da UFRJ, estudioso das
crises e cinéfilo, analisa o estouro financeiro atual como seqüência de uma farsa que
se arrasta na História.
A ÚLTIMA BOLHA
Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado
I - AS TULIPAS DE OURO
Em 1636 um marinheiro desfrutou de uma refeição especial oferecida por um
comerciante, feliz com os bons resultados de seu navio. Apreciador de cebolas, o
marujo, admirando um bulbo no meio de sedas e veludos, resolveu comê-lo, julgando
ser um petisco para acompanhar o arenque. Ignorante dos caminhos da prosperidade
dos ricos de seu país, esse homem do mar tinha cometido o erro de jantar um bulbo
de tulipa que valia 2.500 florins, equivalente a dez toneladas de queijo, segundo
relatos da época. O chamado boom das tulipas, transformando flores em ouro,
desaguaria em uma crise em 1637, com elevadas perdas para os comerciantes de
Amsterdam.
No início de 2000, um acadêmico do interior dos EUA, professor da universidade
de Northern Iowa, Lyle Bowlin, aventurou-se a fundar uma empresa pontocom,
julgando poder competir com gigantes como Barnes&Noble.com e Amazon.com a
partir de sua casa, empregando parentes e amigos para ajudar a empacotar e remeter
livros. Usado como exemplo em artigos no “New York Times” e na revista “Time”, seu
faturamento aumentou rapidamente de US$2 mil por mês para mais de US$50 mil.
Não muito tempo depois, seu negócio, junto com muitos outros empreendimentos,
quebrou, transformando-o em uma das muitas vítimas do fim da bolha das empresas
pontocom.
Essa bolha começou a ser inflada depois da crise das bolsas de valores em
1987, quando a retomada dos mercados de títulos globais foi liderada pela tecnologia
de informática, cujas ações, em sua maioria, eram cotadas na bolsa virtual Nasdaq.
Em 1994, a internet, antes um espaço acadêmico, foi aberta ao público e rapidamente
popularizou-se. Nasceram Yahoo!, Amazon, a rede tornou-se um novo mercado e as
ações das empresas que exploravam essa fronteira de ponta dispararam.
Economistas e meios de comunicação falavam de uma nova economia, sem
inflação e sem crise. A velha economia, formada pelas ações de indústrias cotadas na
Bolsa de Valores de Nova York, era vista como um mundo em desaparecimento,
dinossauros, ameaçados pelo meteoro dos novos empresários, jovens e criativos, de
jeans e salários elevados. Em 2000, como um balão (não em um murmúrio, mas em
um estrondo) murchou a aventura. Em poucos meses ações que valiam fortunas
viraram pó. Uma delas, a Microstrategy, caiu de US$3.500 por ação para US$4.
Trilhões de dólares foram perdidos por investidores. Não havia Nova Economia, mas
apenas uma antiga ilusão.
Crises econômicas, grandes e pequenas, dramáticas ou medíocres,
acompanham o capitalismo desde seus primórdios. Os mais de três séculos que
separam as duas histórias mostram que esperança e irracionalidade são os gases que
inflam essas bolhas. Ao final de cada crise anuncia-se que as lições foram aprendidas.
Uma nova loucura sucede-se com novos personagens, uma história repetida como
farsa em sucessão interminável.
II - O FIM DO LAISSEZ-FAIRE
Uma das maiores utopias do século XIX é a idéia de mercado auto-regulado.
Grandes intelectuais e defensores de reformas econômicas daquele período, os
economistas políticos britânicos formularam a tese de que a natureza produz efeitos
que conspiram a nosso favor. A economia liberal, se não perturbada pela mão inepta
do Estado, funcionaria através da ação dos indivíduos, cujos interesses são
convergentes, como um sistema de mercado auto-ajustado.
Essa visão foi questionada em decorrência das crises econômicas do século XX.
Em 1926, o economista britânico J.M. Keynes escreveu: “O mundo não é governado
pelos céus de forma que os interesses privados e sociais coincidam. Não é correto
deduzir dos Princípios da Economia que o interesse próprio esclarecido sempre atua
no interesse público. Não é verdade que o interesse próprio é esclarecido; na maioria
das vezes os indivíduos, agindo separadamente para promover seus próprios fins, são
muito ignorantes ou muito fracos para alcançar até mesmo esses”.
O impacto social da grande depressão da década de 1930 impeliu os governos a
criarem mecanismos de intervenção para prevenir crises. Uma geração de intelectuais
procurou formular as bases teóricas. No pós-guerra construiu-se um mecanismo de
governança do sistema monetário que tinha como base a conversibilidade do dólar em
ouro, taxas de câmbio fixas, e controle de movimento de capital.
Esse sistema foi desmontado a partir de 1971, quando Nixon abandonou os
compromissos assumidos pelos EUA em 1944, em Bretton Woods. Um novo sistema,
mais volátil, mais perigoso, e igualmente dinâmico, surgiu dos escombros da ordem
econômica abandonada. O modelo atual — baseado na globalização financeira,
liberdade de movimento de capital, câmbio flutuante — menos intervencionista do que
o do pós-guerra, vem se mostrando também mais instável, sujeito a crises e pânicos
financeiros, geralmente deflagrados pelo fim de bolhas domésticas em algumas das
maiores economias mundiais.
III - A CRISE ATUAL
A mais recente bolha financeira, quase tão fantástica como a mania por tulipas,
foi o boom dos empréstimos no mercado imobiliário americano chamados de
subprime, negócio realizado por instituições financeiras que se especializaram em
financiar imóveis para indivíduos que não se qualificam para obter hipotecas no
mercado tradicional. Como se no Brasil os bancos financiassem a compra da casa
própria, a juros de mercado, para os beneficiários do Bolsa Família.
Os empréstimos eram feitos com uma fórmula conhecida como 2/28 ARM, que
quer dizer hipoteca com juros ajustáveis (em inglês, adjustable rate mortgage), com
30 anos de duração, sendo que nos primeiros dois a taxa de juros era reduzida,
facilitando a venda para os que não previam quanto aumentariam as prestações ao
fim do período.
As empresas julgavam-se seguras com um artifício digno de um alquimista:
uma inovação financeira, uma proteção (ou hedge), na forma de títulos negociáveis
garantidos por uma carteira de ativos de alto rendimento, mas divididos em
categorias de riscos inversamente proporcionais aos lucros. Esses papéis eram
abençoados pelas empresas de rating, que chegavam a dar a classificação máxima
(“AAA”) para parte desse portfólio, enquanto postulavam, em entrevistas, o que o
Brasil devia fazer para obter o grau mínimo de avaliação. Somente em julho último
essas empresas reagiram à crise que já envolve US$1,2 trilhão de hipotecas subprime
realizadas apenas em 2005 e 2006.
Essa pirâmide foi detonada pela elevação do custo de financiamento nos EUA a
partir de 2004, depois que o BC daquele país elevou 17 vezes consecutivas a taxa de
juros, que subiu de 1% a 5,25%, e pela queda nos preços dos imóveis, que levou
tomadores de empréstimos subprime a uma situação insustentável. As tulipas
murcharam e a globalização, em um mundo desregulado, exportou a crise para a
Europa e o resto do planeta.
IV - QUEM PAGA A CONTA?
A crise, embora preocupante, está sendo contida pela ação dos bancos centrais
das economias afetadas que não relutaram em irrigar o mercado com grande
quantidade de dinheiro público. Pagam os contribuintes pela ousadia desses
aventureiros. Muitos beneficiaram-se: como sempre, nas bolhas há ganhadores e
perdedores. Os que não saíram a tempo foram obrigados a manter títulos
desvalorizados, ou vendê-los com grande prejuízo. Michael Lewis, um ex-operador da
Salomon Brothers, disse: “Em qualquer mercado, assim como em qualquer jogo de
pôquer, há um bobo. O astuto investidor Warren Buffett gostava de dizer que
qualquer operador que desconhece quem é o bobo, provavelmente é ele próprio o
bobo”.
Mas há sempre o risco de uma crise financeira mexer com a economia real,
desacelerar o crescimento econômico mundial, afetando inclusive o Brasil, apesar dos
nossos US$160 bilhões de reserva. Contudo, a atuação dos bancos centrais dos países
ricos não pode evitar uma retração no consumo privado. O vigor da economia mundial
pode vir a depender de uma coisa tão fluida como o humor e a disposição de gasto
dos consumidores dos países ricos.
Não creio que a crise originada nos EUA terá um happy end, resgatada pela
ação de um herói, um Schwarzenegger, presidindo o Federal Reserve, em intervenção
salvadora. Também não creio em fim trágico, no modelo do Neo-Realismo Italiano,
onde investidores empobrecidos parecerão Antonio Ricci, personagem de “Ladrões de
Bicicleta”, sem emprego ou perspectiva. Para mim a crise acabará como um filme da
Nouvelle Vague, em um momento qualquer, sem solução clara, sem grande drama.
Mas, como nos filmes franceses, a vida continua, esta é apenas a última bolha, e uma
outra certamente virá amanhã.
Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado é professor do Instituto de Economia da UFRJ e
conselheiro do Cade. Este texto foi publicado no jornal O Globo no dia 19 de agosto
de 2007.