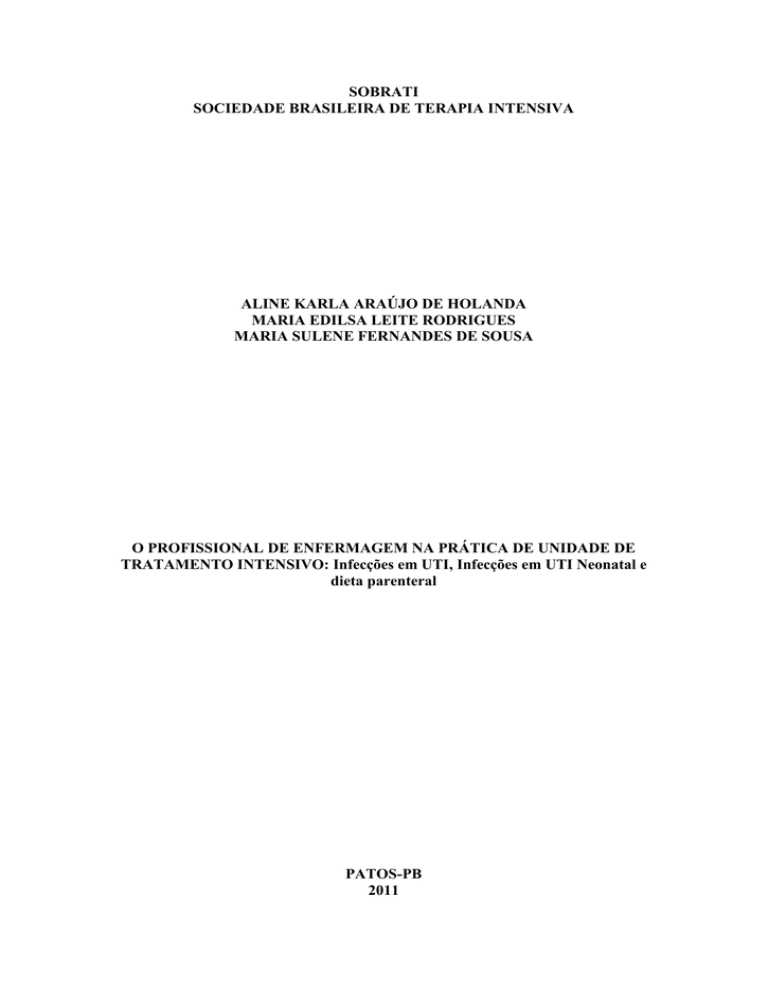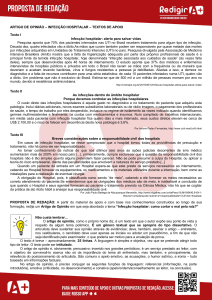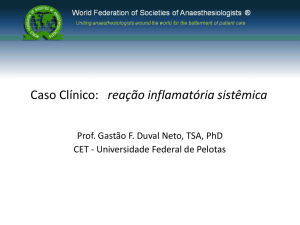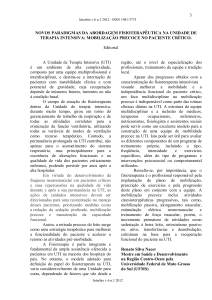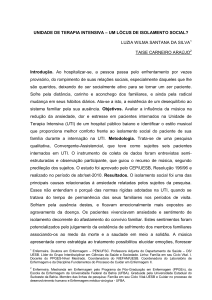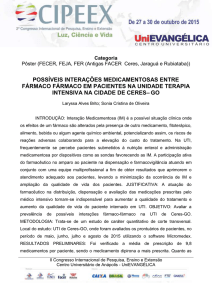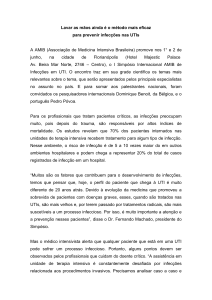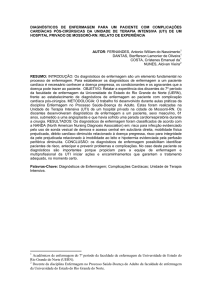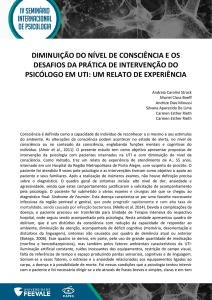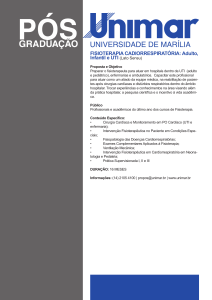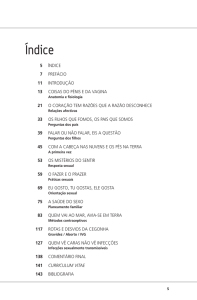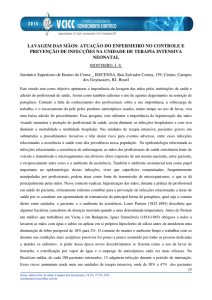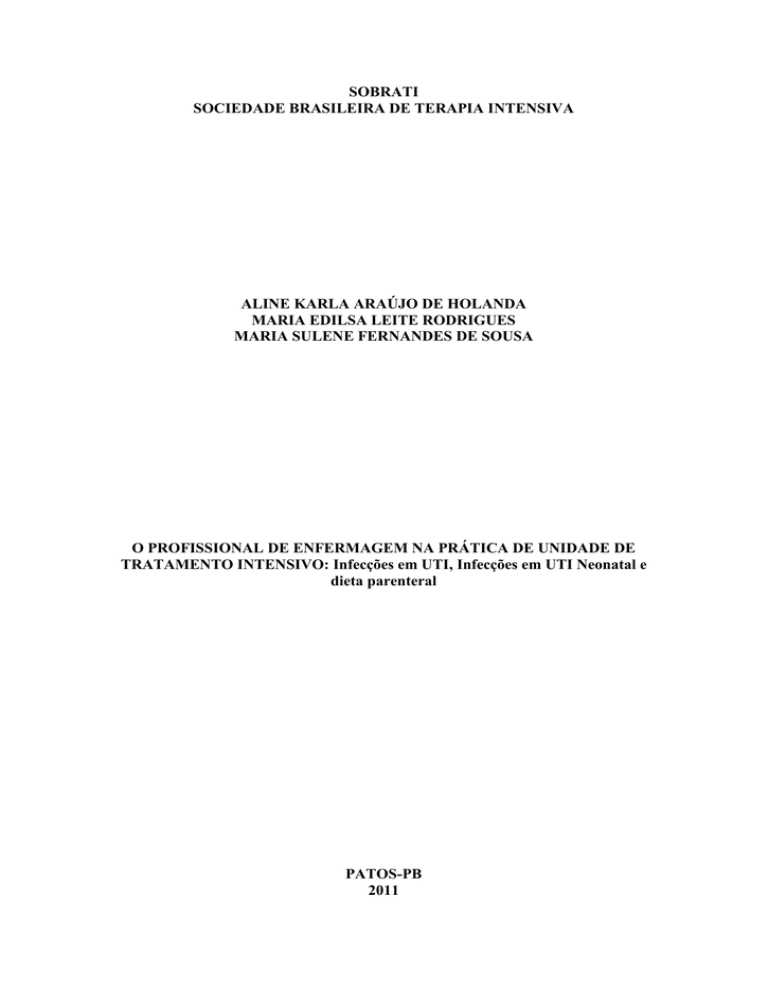
SOBRATI
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA
ALINE KARLA ARAÚJO DE HOLANDA
MARIA EDILSA LEITE RODRIGUES
MARIA SULENE FERNANDES DE SOUSA
O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA DE UNIDADE DE
TRATAMENTO INTENSIVO: Infecções em UTI, Infecções em UTI Neonatal e
dieta parenteral
PATOS-PB
2011
ALINE KARLA ARAÚJO DE HOLANDA
MARIA EDILSA LEITE RODRIGUES
MARIA SULENE FERNANDES DE SOUSA
O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA DE UNIDADE DE
TRATAMENTO INTENSIVO: Infecções em UTI, Infecções em UTI Neonatal e
dieta parenteral
Tese – Artigo Científico – apresentado à
Coordenação
do
Curso
de
Mestrado
Profissionalizante em Terapia Intensiva da
SOBRATI, como requisito para a obtenção do
grau de Mestre.
Orientador:
PATOS-PB
2011
ALINE KARLA ARAÚJO DE HOLANDA
MARIA EDILSA LEITE RODRIGUES
MARIA SULENE FERNANDES DE SOUSA
O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA DE UNIDADE DE
TRATAMENTO INTENSIVO: Infecções em UTI, Infecções em UTI Neonatal e
dieta parenteral
Trabalho aprovado em: ______/______/________
Nota: ________________________________________________________________
Professor Orientador:
PATOS-PB
2011
O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA DE UNIDADE DE
TRATAMENTO INTENSIVO: Infecções em UTI, Infecções em UTI Neonatal e
dieta parenteral
Aline Karla Araújo de Holanda1, Maria Edilsa Leite Rodrigues1, Maria Sulene
Fernandes de Sousa1
RESUMO
A incidência de infecções hospitalares varia de acordo com as características de cada unidade de
tratamento, do próprio paciente e dos métodos de prevenção e diagnósticos disponíveis. As
infecções em Unidades de Terapia Intensivas (UTI) Neonatais também são muito
variáveis em característica e casuística. A dieta parenteral se mostra como umas das
técnicas mais difundidas entre os departamentos de saúde em todos os países do mundo.
Sendo, entretanto em muitos casos, causa de contaminação por patógenos. O presente
trabalho buscou apresentar um quadro histórico e atual das infecções hospitalares em
UTI, UTI Neonatal e sua relação com a dieta parenteral. Utilizou-se de uma pesquisa
teórica, do tipo narrativa acerca da literatura concernente para se elaborar o presente
compêndio, que aborda aspectos históricos e atuais acerca dos problemas que envolvem
infecções hospitalares em UTI e dieta parenteral. Evidencia-se que as infecções em
unidades de tratamento intensivo ainda são um problema; mesmo com todas as técnicas
já universalizadas, entre os profissionais de saúde, a negligência e a imperícia ainda são
os principais causadores destes males, que se mostram bastante flagrantes; ao mesmo
tempo que, relativamente simples de se prevenir.
Descritores: Infecções, UTI Neonatal, Dieta Parenteral
ABSTRACT
The incidence of nosocomial infections varies with the characteristics of each treatment
unit, and the patient's own methods of prevention and diagnostics available. Infections
in Intensive Care Units (ICU) Neonatal also vary widely in character and
series. Parenteral nutrition is shown as one of the most popular among health
departments in all countries of the world.Since, however in many cases because of
contamination by pathogens. This study sought to present a portrait painted of
nosocomial infections in ICU, Neonatal ICU and its relation to parenteral nutrition. We
used a theoretical research, narrative about the type of literature about preparing for this
compendium, which deals with historical and current aspects of the problems involving
nosocomial infections in intensive care and parenteral nutrition. It is evident that the
infections in intensive care units are still a problem, even with all the techniques already
universalized among health professionals, negligence and malpractice are still the main
cause of these evils, who appear quite striking and at the same time, relatively simple to
prevent.
Descriptors: Infections, Neonatal ICU, Diet Parenteral.
1
Enfermeiras especialistas.
1 INTRODUÇÃO
Os serviços de UTI no Brasil são considerados de qualidade bastante
heterogênea. Devido ao tamanho do país e as disparidades sociais e econômicas,
existem UTI consideradas “modelo” e outras que são consideradas casos de calamidade;
que vez por outra aparecem em noticiários.
Através dos tempos, os cuidados às pessoas doentes foram prestados de distintas
formas, envolvendo diferentes sujeitos até se tornar institucionalizado (MELO, 1986),
com a criação dos hospitais.
O próprio processo histórico favoreceu, durante muito tempo, infestações
infecciosas que somente foram tratadas com técnicas adequadas com o passar do tempo
e o avanço tecnológico em antibióticos e técnicas de asseio.
Neste quadro, os estudos epidemiológicos e pontuais acerca do assunto, foram
preponderantes; e o acesso às informações foi um elemento primordial para a difusão
deste conhecimento.
Um outro fator preponderante para a saúde do paciente em tratamento intensivo,
passa por uma nutrição que supra as necessidades mínimas de mantença do mesmo.
Sendo este um dos aspectos também ligados à infecções em UTI, tanto pelo alimento
ingerido, quanto pelos instrumentos utilizados.
Sendo assim, o profissional de saúde deve conhecer, difundir e utilizar as
técnicas apropriadas para prevenção e combate às infecções em ambientes de tratamento
intensivo e a uma dieta parenteral adequada. Neste contexto, o enfermeiro, como um
dos pilares do atendimento em UTI, sendo um dos principais agentes de ação no
ambiente em que se desenvolve as infecções, deve
antes concomitantemente ao
atendimento técnico adequado, se utilizar dos conhecimentos adquiridos e do avanço
destas.
O presente trabalho teve por objetivo apresentar um quadro sintético histórico e
atual acerca do conhecimento sobre infecções em UTI e Dieta Parenteral.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica do tipo narrativa (ROTHER, 2007) com
análise da literatura acerca das infecções em UTI, UTI Neonatal e nutrição parenteral.
Os trabalhos de revisão são importantes, pois analisam a produção bibliográfica
em determinada área temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão
geral ou um relatório do “estado da arte” sobre um tópico específico, evidenciando
novas idéias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura
selecionada (NORONHA; FERREIRA, 2000).
Para confecção do presente trabalho, foi realizada uma ampla pesquisa, tendo
como escopo bibliográfico: artigos de periódicos científicos, livros, artigos em
congressos e teses e dissertações – todos nacionais e internacionais. Destes, 28 fora
efetivamente citados no presente trabalho, após profunda leitura e fichamento do
material utilizado no período de Julho a Setembro de 2010.
Todos os textos foram submetidos à rotulação e as idéias foram divididas em
seções para facilitar a organização destas.
O corpo do texto foi construído a partir das citações, da reflexão e das
inferências realizadas acerca dos trabalhos citados.
3 RESULTADOS
3.1 Infecções em UTI
A infecção é uma manifestação bastante freqüente em pacientes de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
Smeltzer e Bare (2002) definem a infecção como um
indicador para uma interação do hospedeiro com um organismo.
O Ministério da Saúde define a Infecção Hospitalar como aquela adquirida após
a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares (BRASIL, 1998).
Estas Infecções são complicações relacionadas e muitas vezes decorrentes da
própria assistência à saúde e representam uma das grandes preocupações que rondam os
hospitais em todo o mundo por constituírem a principal causa de morbidade e
mortalidade hospitalar. Além de aumentarem o período de internação hospitalar, elevam
os custos da internação e reduzem a rotatividade dos leitos hospitalares (ANDRADE;
ANGERAMI, 1999).
Os tipos de infecções podem ser comunitárias ou nosocomiais, estas últimas,
presentes, principalmente em estabelecimentos maiores com maior rotatividade de
pacientes e profissionais.
As infecções mais freqüentes são unirinárias (35% a 45%) e feridas cirúrgicas
(10% a 25%) (DAVID, 1998).
Segundo Andrade (2002), a incidência e o controle da infecção hospitalar
estiveram muito ligados à evolução da prática cirúrgica, que também sofreu grandes
transformações na evolução dos tempos operatórios através dos novos conhecimentos
nos campos da anestesia e hemostasia, pelo avanço das técnicas de assepsia e
esterilização, pelo uso e abuso dos antibióticos etc.
As infecções do tipo nosocomiais – adquiridas durante a estadia do paciente no
hospital, têm sido bastante estudadas, visto a necessidade crescente de melhoria nos
serviços hospitalares e pela natureza omissivo-acidental desta infecção.
Em geral, quadros infecciosos estão relacionados a um tempo maior de
exposição ao tratamento em UTI, o que maximiza a necessidade de cuidados extras,
devido à gama de materiais a que o doente encontra-se em contato e ao número de
pessoas que tratam e/ou, simplesmente o visitam (ANGUS et al., 2001). Entretanto
mesmo em situações como a descrita acima, pode-se tornar seguro o período em que o
paciente encontra-se convalescente a ponto de precisar dos cuidados elaborados de uma
UTI.
Assim, o interesse pelas infecções hospitalares torna-se cada vez maior pelo
crescente número de casos, resistência ao tratamento e alta mortalidade, ganhando
repercussões sociais e econômicas devido ao custo assistencial elevado e principalmente
ao prolongamento do período de internação (RODRIGUES, 1997).
3.1.1 Principais infecções em UTI
Nas UTI concentram-se pacientes clínicos ou cirúrgicos
mais graves,
necessitando de monitorização e suporte contínuos de suas funções vitais. Este tipo de
clientela apresenta doenças ou condições clínicas predisponentes a infecções. Muitos
deles já se encontram infectados ao serem admitidos na unidade e, a absoluta maioria, é
submetida a procedimentos invasivos ou imunossupressivos com finalidades
diagnostica e terapêutica. As infecções que acometem estes pacientes de UTI são dos
mais diversos tipos. As infecções mais freqüentes são urinárias (35 a 45%), feridas
cirúrgicas e pneumonias (10 a 25%) (DAVID, 1998). Pereira, et al (2000) afirmaram
que a pneumonia nosocomial corresponde a 24 % das infecções em UTI, sendo 58%
delas relacionadas à ventilação mecânica.
As infecções hospitalares são preocupações constantes da equipe de saúde e
definem- se como infecções adquiridas no hospital que se manifestam durante a
internação ou após alta e estas infecções hospitalares acabam sendo as complicações
mais freqüentes na Unidade de Terapia Intensiva, podendo atingir cerca de 20% ou
mais, de acordo com a patologia de base do paciente e outros fatores de risco GOMES,
1998). É observado que a UTI cirúrgica possui taxas maiores de infecções do que a Uti
clínica, onde a diferença varia da ordem de 36 a 54 e 23 a 47 Infecções Hospitalares por
1000 pacientes/dia e em UTI pediátrica os números são de 14 a 32 Infecções
Hospitalares por 1000 pacientes/dia.
Embora apenas 5-10% dos pacientes internados necessitam de terapia intensiva, a
maioria das infecções adquiridas no hospital ocorrem nessa unidade. O índice de
infecção hospitalar em UTI é de 5-10%, podendo ser o dobro. A UTI é o ambiente
hospitalar mais crítico, ocasionando presença de maior nível de resistência bacteriana. Já
as pneumonias nosocomiais representam a segunda causa mais comum de infecção
hospitalar com alta morbidade, principalmente causadas por Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter sp (AKALIN et al., 1999; REED, et al., 1995; NIEDERMAN, et al.,
1989; FAGON, et al., 1989, CRAVEM et al.,1987).
.
O organismo humano quando sujeito a infecções, reage de um modo similar
independente do tipo de agente causal. Nesta resposta estão envolvidos mediadores que
são comuns a um grupo de patologias tais como as infecções, a pancreatite aguda, as
grandes queimaduras, o trauma e o choque, que produzem uma síndrome denominada
de reação inflamatória sistêmica (SRIS). Por este motivo o diagnóstico muitas vezes se
torna complicado visto a similaridade das reações no sistema orgânico humano.
Diversos são os agentes patogênicos causadores de infecções em UTI, sendo que
diversos trabalhos (DAVID, 1998; BANDERÓ FILHO; RESCHK; HÖRNE, 2006)
citam como principais agentes microorganismos contaminadores, conforme segue na
tabela 1.:
Tabela 1: Principais agentes patógenos que causam infecções em UTI.
Cocos Gram positivos
Staphylococcus coag neg
Staphylococcus aureus sp
Streptococcus sp.
Enterococcus sp.
Microorganismos
Bacilos Gram negativos
Pseudomonas spp.
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Enterobacter sp.
Acinetobacter sp.
Hafnia alvei sp.
Providencia sp.
Serratia sp.
Fungos
Candida sp.
Nota-se que os principais agentes são as bactérias do tipo gram negativas, que
em sua maioria podem ser combatidas com uma alta gama de antibióticos de largo
espectro – simples de serem combatidas. Entretanto, a maioria também pode ser
combatida, com, simplesmente, cuidados básicos de segurança hospitalar.
3.1.2 Prevenção à Infecções em UTI
Na prevenção dos fatores e no combate ao risco das infecções em UTI, é
necessário se conhecer as causas destas enfermidades. Alguns fatores são considerados
de risco para o aumento da incidência de Infecções Hospilares em Unidades de
Tratamento Intensivo: trauma, permanência maior que 48 horas, ventilação mecânica,
cateter venoso central, cateter artéria pulmonar, sondagem vesical e profilaxia em úlcera
de estresse.
A maioria das medidas de prevenção são simples e passam por dois processos:
monitoramento contínuo e ações preventivas práticas.
O monitoramento contínuo pode ser dar através de Educação em Saúde para os
profissionais envolvidos nos processos da UTI; coleta de swab nasal, semana dos
pacientes e mensal dos profissionais; identificação precoce dos pacientes colonizados e
infectados através de exames de rotina e tratamento dos portadores nasais com
Mupirocin tópico 2 x dia por 5 dias (MOURA, et al., 2010).
Entretanto, O recurso mais eficaz e econômico de que se dispõem os
profissionais de saúde para a prevenção de infecções é a lavagem das mãos que deve ser
feita rigorosamente entre um paciente e outro com água e sabão neutro, adicionado
preferencialmente de um agente bactericida, como Igarsan DP300 (Triclosan) e quando
realizar procedimentos invasivos deve-se usar então uma solução degermante à base de
PVPI ou Clorexidina. Indica-se o uso de luvas quando em contato com membranas
mucosas e feridas abertas, na venopunção e em outras situações em que se antecipa o
contato com matéria orgânica, depois de utilizadas as luvas devem ser retiradas e
descartadas e as mãos lavadas. Deve-se também enfatizar a limpeza e a desinfecção dos
mobiliários e equipamentos conectados ao paciente diariamente.
3.2 Infecções em UTI Neonatal: um problema social
Um dos melhores indicadores de qualidade de na sociedade atual é a baixa
mortalidade infantil. Pode-se medir este indicador de duas maneiras: medindo a
mortalidade neonatal e a mortalidade pós-neonatal.
Diversas são as causas de mortes neonatais em países em desenvolvimento como
o Brasil. Podemos destacar, entretanto, o baixo peso ao nascer, motivado, na maioria
dos casos por prematuridade do parto ou nutrição irregular da mãe durante a gravidez.
Intrínseco à assistência em saúde, podemos destacar os fatores anoxia e infecção
neonatal.
A infecção neonatal leva ao óbito uma grande percentagem de recém nascidos,
já nos primeiros dias de internação. Uma taxa de 29% foi encontrada por Araújo et al.
(2005, p.468) e 47,6% por Araújo et al. (2000). Nos primeiros sete dias de internação
chega a eminente taxa de 84% de óbitos (PHILIP, 1995; MIURA et al. 1997).
Importante fator ainda a ser considerado no estudo de Araújo et al. (2005) é o fato de
16% dos óbitos ocorridos no primeiro dia, ocorreram com recém nascidos que não
tiveram sua gestação acompanhadas. Este estudo corroborou, ainda mais, para explicitar
a importância de um pré-natal.
Em relação ao tempo de manifestação de infecções em RN, dois tipos de doença
são observados em associação com infecção sistêmica no primeiro mês de vida:
a) início precoce: quando os sintomas ocorrem nos primeiros 4 dias de vida, estando
associados a complicações da gravidez ou do parto. O RN costuma apresentar quadro
clínico grave multissistêmico e por vezes fulminante, podendo existir comprometimento
pulmonar. Os microrganismos são aqueles provenientes do trato genital materno.
b) início tardio: quando os sintomas ocorrem a partir do quinto dia de vida, podendo
ainda estar associados a complicações obstétricas, porém em menor percentagem; o
quadro clínico do RN é geralmente mais localizado e quase sempre associado a infecção
do Sistema Nervoso Central (SNC) (KLEIN e MARCY, 1990).
Considera-se, para efeitos de infecções neonatais, o tipo a, (início precoce) como
composto, em grande parte, por infecções em UTI neonatais.
Ceccon et al (1999, p. 293) pesquisando sobre sepse neonatal fez um histórico
acerca dos principais agente etiológicos, nas décadas de 60, 70, 80 e 90, conforme
segue:
Os agentes etiológicos que mais frequentemente causam infecção neonatal
têm mudado no decorrer dos anos; antes do uso das sulfonamidas, eram os
cocos gram positivos e com a introdução dos antibióticos, houve
predominância dos germes gram negativos, especialmente da Escherichia
coli (década de 50). Na decáda de 60 foi o Staphylococcus aureus que
predominou e na década de 1970 iniciou-se um aumento significativo da
incidência do Streptococcus beta hemolítico do grupo B e Listeria
monocytogenes. Na década de 80 ressurge o Staphylococcus aureus porém,
beta lactamase resistente e o coagulase negativo e finalmente na década de
1990, aumenta a incidência, principalmente em UTI neonatal dos seguintes
germes: Staphylococcus coagulase negativo, as espécies de Candida,
principalmente do gênero albicans e os bacilos entéricos gram negativos
hospitalares.
Diversas são as causas de infecções que podemos classificar em externas
(ambiente), próprias do RN e procedimentos invasivos. As causas externas estão ligadas
principalmente à superlotação, diminuição do “staff”, pouca disponibilidade de pias e
ventilação ambiente prejudicada. As causas próprias do recém nascido são classificadas
em: imaturidade imunológica, diminuição da função de células T, quimiotaxia por
neutrófilos e monócitos: diminuída. Os procedimentos invasivos que levam riscos para
os RN são eletrodos, punção, catéters, tubos e sondas.
Em relação à prevenção. É necessário simplesmente os cuidados descritos no
plano hospitalar, e medidas simples como lavar as mãos, entre outros cuidados
rotineiros hospitalares.
Em relação ao tratamento, evidencia-se a necessidade, muitas vezes de utilização
de antibióticos, dos quais os principais são: ampicilina, gentamicina, oxacilina,
cefepime, vancomicina, metronidazol, fluconazol e anfotericina; todos com técnicas
próprias de dosagem ou infusão.
3.3 Nutrição parenteral na Unidade de Terapia Intensiva
Apesar do notável avanço ocorrido nos últimos 30 anos, os cuidados aos
pacientes críticos continuam sendo o maior desafio para todos os profissionais que
atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (CRUZ et al., 2002).
A nutrição parenteral teve o seu grande avanço a partir da década de 60, com os
estudos de Dudrik, que foi o primeiro a conseguir a manter uma solução estável de
aminoácidos e glicose. Sua evolução deu-se em dois principais aspectos: soluções e
acesso venoso. Do ponto de vista das soluções atualmente as mesmas são manipuláveis
e, com isso, é possível manter um paciente vivo por diversos anos exclusivamente com
a nutrição parenteral. Já em relação ao acesso venoso, pode-se administrar as soluções
tanto via acesso central, como periférico (CUKIER, 2002).
O melhor método para atender as necessidades nutricionais é evidentemente a
aplicação por via oral, no entanto, em um dos casos esta via se torna impraticável e
deficiente para atender as necessidades nutricionais do doente. Nestes casos, torna-se
necessário a aplicação da alimentação por via parenteral, seja total ou em
complementação da via digestiva. Não há, praticamente, contra-indicação absoluta da
nutrição parenteral, a não ser em certos casos em que seu emprego deve ser feito
cuidadosamente ou mesmo evitado (SANTOS, 2004).
A terapia de nutrição parenteral tem proporcionado a recuperação de pessoas em
larga escala, no entanto, para que seja realizada de forma adequada, são necessários
cuidados especiais dos vários profissionais habilitados (médico, farmacêutico,
nutricionista, enfermeiro) que, atuando em equipe, venham atender as necessidades
nutricionais do paciente, oferecendo possibilidades de reabilitação no seu estado de
saúde (LOPES; JORGE, 2005).
O suporte nutricional via parenteral está indicado sempre que o paciente está
impossibilitado de usar a via enteral por um tempo predefinido. Um outro fator a ser
considerado é se o seu uso vai beneficiar o paciente. Assim, por exemplo, dentro do
contingente de pacientes desnutridos, internados, nem sempre os pacientes terminais
vão se beneficiar dessa terapêutica (MARCHINI et al., 1998).
A distinção do doente que vai se beneficiar envolve aspectos relacionados com a
doença de base e a experiência clínica da equipe de suporte nutricional. Nem sempre
esta é uma decisão fácil de ser tomada. O primeiro passo a ser considerado é se o
processo mórbido em si vai ser influenciado pelo suporte nutricional parenteral, se a
doença ou o tratamento vai piorar o apetite, alterar a digestão/absorção e qual a sua
duração. Desde que a prevenção da desnutrição é um procedimento considerado mais
fácil do que o tratamento em si, sempre que possível deve-se prevenir o aparecimento
da desnutrição intra-hospitalar. Em geral, pacientes com perda de massa corporal
superior a 20 % são considerados de alto risco nutricional (MARCHINI et al., 1998).
Por outro lado, a presença de trauma metabólico (estresse), com produção
aumentada de hormônios considerados, nestas situações, hipercatabólicos, também deve
ser considerada. Uma vez considerado o estado geral do paciente, incluindo risco
nutricional, a doença de base e estado hipercatabólico, deve ser iniciado o suporte
nutricional. Nessas condições, a via parenteral deve ser utilizada sempre que for
impossível se utilizar avia oral, fisiológica (MARCHINI et al., 1998).
Santos (2004) descreve outras indicações para a nutrição parenteral, como em
cirurgias, onde se encontram as maiores complicações no pré e pós-operatório, nas
fistulas digestivas, nas lesões digestivas, nas lesões obstrutivas do tubo digestivo, na
resecção intestinal (corte do intestino), nas doenças neoplásicas. É também indicada nas
lesões inflamatórias do intestino, tais como a colite ulcerativa, onde se consegue uma
aceleração da cicatrização devido ao intestino estar em repouso. A nutrição parenteral
estabelece o estado nutricional do individuo, diminuindo deste modo o risco operatório
e permitindo, dessa maneira, a adaptação gradual do tubo digestivo modificado.
As contra-indicações para a terapia nutricional parenteral são: má perfusão
tissular, grande queimado, discrasia sanguínea, pós-operatório imediato (TORRÊS,
2007).
De acordo com Santos (2004), a solução parenteral compreende a administração
intravenosa de nitrogênio, calorias e outros nutrientes via subclávia em sala cirúrgica
com total assepsia até alcançar a cava (veia). Coloca-se então o intra-cat, o curativo será
tratado de 3 em 3 dias com tintura de iodo para não haver infecção. Para pacientes
acamados por longo período será necessário a adoção de medidas profiláticas, como por
exemplo: exercícios respiratórios, nebulização, mudanças da posição onde o paciente se
encontra. Deve haver vigilância com o paciente para não ter alguma complicação.
Conforme o Ministério da Saúde (1998), a nutrição parenteral é uma solução ou
emulsão, composta basicamente de carboidratos, aminoacidos, lipídeos, vitaminas,
estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à
administração intravenosa em pacientes desnutridas ou não, em regime hospitalar,
ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou
sistemas.
As preocupações centrais da UTI são o manejo do suporte respiratório, incluindo
ventilação mecânica; suporte cardiovascular; apoio renal, metabólico e dos distúrbios
com obstrução sangüínea e controle de complicações infecciosas (MORLION;
PUCHSTEIN, 1998).
As infecções relacionadas à cateterização representam a principal complicação
da nutrição parenteral total, girando em torno de 7%. Aparentemente, as infecções estão
relacionadas à hiperglicemia dos pacientes, que pode ser um fator inibidor do sistema
imunológico e criar um ambiente que favoreça o crescimento de bactérias. Sendo assim,
os cuidados com a solução, o dispositivo e o seu tipo de material são muito
importantes. As principais complicações são: a colonização do cateter, a infecção do
sítio de inserção do cateter, infecção do reservatório, infecção do túnel, infecção da
corrente sangüínea relacionada ao cateter e a infecção da corrente sangüínea relacionada
ao líquido infundido (CUKIER, 2002).
Na prática da UTI, dificilmente os dados mencionados são apurados com a
mesma exatidão, por se tratar de um paciente crítico sujeito a inúmeras alterações dos
valores pré-determinados para os distintos compartimentos corporais. O mais relevante,
é agrupar dados de forma a se caracterizar o paciente como desnutrido grave ou não e se
evitar a síndrome de hiperalimentação do desnutrido, que é uma prática habitual nos
casos de estado nutricional grave do paciente. A terapia nutricional, nessa condição,
deve ser instituída de forma precoce e cautela, minimizando desde o início a resposta
catabólica (CRUZ et al., 2002).
As recomendações que a equipe multiprofissional de terapia nutricional devem
considerar no cuidado com os cateteres são: a lavagem e a higienização das mãos;
adesão rigorosa aos protocolos de anti-sepsia na inserção e no cuidado diário; manter
uma equipe multiprofissional treinada; vigilância rigorosa na detecção de problemas,
principalmente infecções; protocolos escritos e bem definidos; escolha do local e
técnica de inserção do cateter; escolha do material do cateter; cuidados com curativos; e
troca dos cateteres obedecendo o protocolo da instituição e ao primeiro sinal de infecção
(CUKIER, 2002).
As atribuições do enfermeiro na terapia de nutrição parenteral, envolve as boas
práticas de administração de nutrição parenteral, antes, durante e depois da
administração. Os cuidados necessários antes da administração, engloba as verificações
de recebimento (integridade da embalagem, presença de partículas, precipitações,
alteração de cor, separação de fases, rotulo, prazo de validade de 48 horas), conservação
(analisando a verificação da temperatura – 2 a 8º C, com geladeira exclusiva para
medicamentos e geladeira limpa segundo a Comissão de Controle de Infecções
Hospitalares) (SHOSHIMA, 2007). .
O enfermeiro é o profissional responsável pela administração da nutrição
parental. Os cuidados necessários durante a administração são: observar os princípios de
assepsia, avaliar e assegurar a instalação e a administração da nutrição parenteral,
assegurar a limpeza, troca de curativos do cateter, manutenção das vias de
administração, assegurar também a infusão do volume prescrito, zelando pelo perfeito
funcionamento das bombas de infusão e que qualquer droga e/ou nutriente prescritos,
não sejam infundidos na mesma via de administração da nutrição parenteral, sem a
autorização formal (SHOSHIMA, 2007).
Os cuidados de enfermagem após a administração envolvem os controles
clínicos, com avaliação nutricional no inicio da terapia e depois a cada duas semanas,
registro dos sinais vitais e exame físico realizado diariamente e realização de exames
laboratoriais, como por exemplo, teste da função hepática, triglicerídeos, contagem total
de células sanguíneas, tempo de protrombina, glicose sanguínea, balanço de nitrogênio,
calorimetria indireta, dentre outros
A adequada terapia nutricional para pacientes criticamente enfermos depende da
compreensão da fisiopatologia das respostas metabólicas às grandes cirurgias, traumas,
doenças infecciosas e eventos similares, que se caracterizam por intenso estresse. A
terapia nutricional, seja enteral ou parenteral, deve ser adaptada às exigências do
metabolismo frente ao estresse, com o propósito de evitar a utilização inadequada dos
nutrientes e os efeitos colaterais respectivos. Assim sendo, o principal objetivo da
terapia nutricional para os pacientes na UTI é prevenir a desnutrição, visando aos
menores índices de morbidade e mortalidade. A desnutrição em pacientes criticamente
enfermos,
associada
ao
hipermetabolismo
e
catabolismo
inevitavelmente resulta em perda de peso (CRUZ et al., 2002).
aumentado,
quase
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os países em desenvolvimento ainda tem um longo caminho à frente no que se
diz respeito ao controle de infecções em UTI.
Tamanhas são as diferenças regionais, econômicas e culturais; que se torna um
verdadeiro desafio para os gestores em saúde tornar este atendimento padronizado e,
antes de tudo humanizado.
No presente trabalho ficou clara a dimensão que tomam os problemas
relacionados às infecções, visto a quantidade de patógenos e a casuística variada acerca
do assunto.
Se por um lado temos a nutrição parenteral adequada como um dos principais
apoios na recuperação do paciente, o risco de contágio, principalmente através de
cateteres é altíssimo.
Então buscar a uniformização e, principalmente, a conscientização é
imprescindível, entre os profissionais de saúde, visto a necessidade individual e coletiva
de humanização na saúde.
REFERÊNCIAS
AKALIN, H et al. Influences of alternate therapy protocol and continuous infectious
disease consultation on antibiotic susceptibility in ICU. Intensive Care Medicine, v.25,
n.9, p.1010-1012, Sep. 1999.
ANDRADE, M. T. S. Guias Práticos de Enfermagem: cuidados intensivos. 1.ed. Rio
de Janeiro: Mc Graw Hill, 2002.
ANGUS D. C; LINDE-ZWIRBLE, W. T; LIDECKER, J; CLERMONT, G;
CARCILLO, J; PINSKY, M. R. Epidemiology of severe sepsis in the United States:
analysis of incidence, outcome and associated costs of care. Critical Care Medicine,
v.29, n.7, p.1303-1310, Jul. 2001.
ARAÚJO, B. F; BOZZETTI, M. C; TANAKA, A. C. A. Mortalidade neonatal precoce
no município de Caxias do Sul: um estudo de coorte. Jornal de Pediatria, Rio de
Janeiro, v.76, p.200-206, 2000.
ARAÚJO, B. F; TANAKA, A. C. D; MADI, J. M; ZATTI, H. Estudo da mortalidade de
recém-nascidos internados na UTI neonatal do Hospital Geral de Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v.5, n.4, p. 463469, out./dez. 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 272/98:
regulamento técnico para terapia de nutrição parenteral. Brasília (DF), 1998. 15 p.
CRAVE, D. E; DRIKS, M. R. Pneumonia in the intubated patient. Seminars in
Respiratory Infections, v.2, p.20-33, 1987.
CUKIER, C. A evolução dos cateteres e acessos na nutrição parenteral. Intravenous,
ano III, n.7, jan./abr 2002.
DAVID, C. M. N. Infecção em UTI. Medicina, Ribeirão Preto, v.31, p.337-348, jul./set.
1998.
FAGON, J. Y et al. Nosocomial pneumonia in patients receiving continuous mechanical
ventilation. Prospective analysis of 52 episodes with use of a protected specimen brush
and quantitative cuture techniques. American Review of Respiratory Disease, v.139,
p.877-84, 1989.
GOMES, A. M. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 2.ed. São Paulo: EPU,
1988.
KLEIN, J. O; MARCY, S. M. Bacterial sepsis and meningitis. In: REMINGTON, J. S.;
KLEIN, J. O. ed. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. Philadelphia,
W.B . Saunders Co, 1990. p. 601-56.
LOPES, C. H. A. F; JORGE, M. S. B. A enfermeira vivenciando o cuidar do paciente
em nutrição parenteral. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v.26, n.2,
p.189-99, ago. 2005.
MARCHINI J. S; OKANO, N; CUPO, P; PASSOS, N. M. R. R. S; SAKAMOTO, L.
M; BASILE-FILHO, A. Nutrição parenteral - príncipios gerais, formulários de
prescrição e monitorização. Medicina, Ribeirão Preto, v.31, p.62-72, jan./mar. 1998.
MELO, C.M.M. de. Divisão social do trabalho e enfermagem: In: MELO, C.M.M. de.
A divisão social do trabalho na enfermagem. São Paulo: Cortez, 1986. cap. II, p. 33-60.
MIURA, E; FAILACE, L. H; FIORI, H. Mortalidade perinatal e neonatal no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo,
v.43, p.35-9, 1997.
MORLION, B. J., PUCHSTEIN, C. Critical care review of early enteral feeding. In:
ADOLPH, M., BEHRENDT, W., JAUCH, K. W., KEMEN, M., KREYMANN, G.,
SCHUSTER, H. P. Aspects Clin. Nutr, v.13, p.63-78, 1998.
MOURA, J. P. et al . Resistência à mupirocina entre isolados de Staphylococcus aureus
de profissionais de enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 23, n.
3, p.399-403, maio./jun. 2010 .
NIEDERMAN, M. S et al. Patter and routes of tracheobronchial colonization in
mechanically ventilated patients: the role of nutritional status in colonization of the
lower airway by Pseudomonas species. Chest, v.95, p.155-61, 1989.
PEREIRA, M. S; PRADO, M. A; SOUZA, J. T; NORTOLE, C. Infecção Hospitalar em
Unidade de Terapia Intensiva: desafios e perspectivas. Revista Eletrônica de
Enfermagem,
Goiânia,
v.2,
n.1,
out./dez.
2000.
Disponível
em:
<http://www.fen.ufg.br/revista>. Acesso em: 16 jul. 2010.
PHILIP, A. G. S. Neonatal mortality rate: is further improvement possible? Jornal de
Pediatria, Rio de Janeiro, v.126, p.427-33, 1995.
PINHEIRO, M. S. B; NICOLETTI, C; BOSZCZOWSK, I; PUCCINI, D. M. T;
RAMOS, S. R. T. S. Infecção hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: há
influência do local de nascimento? Revista Paulista de Pediatria, v.27, n.1, p.6-14,
2009.
REED, C. R et al. Central venous catheter infections: concepts and controversies.
Intensive Care Medicine, v.21, n.2, p.177-183, Feb. 1995.
RODRIGUES, E. A . C. Histórico das infecções hospitalares. São Paulo: SARVIER,
cap.1,
p.1-27, 1997.
SANTOS, T. E. H. H. Nutrição em Enfermagem. 2.ed. São Paulo: Tecmedd, 2004.
SHOSHIMA, A. Nutrição parenteral: princípios básicos e cuidados de enfermagem,
2007. Disponível em: <BlogEnfermagem.com>. Acesso em: 08 jul. 2010.
SMELTZER, S. C; BARE, B. G. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem
Médico Cirúrgica. v. 4. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
TORRÊS, P. P. B. F. Terapia nutricional parenteral: aspectos farmacêuticos, 2007.
Disponível
em:
http://www.huwc.ufc.br/arquivos/biblioteca_cientifica/1175295398_90_0.pdf.
Acesso em: 08 jul. 2010.