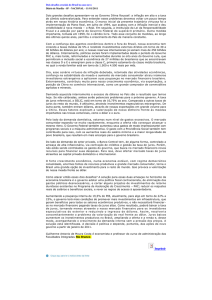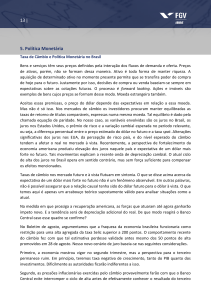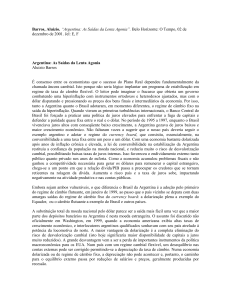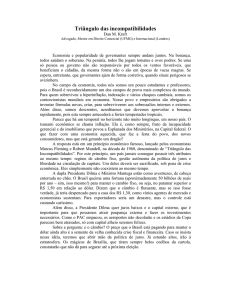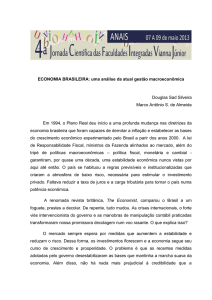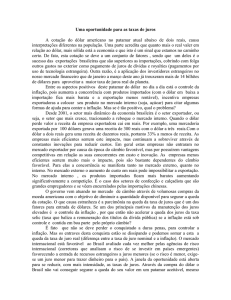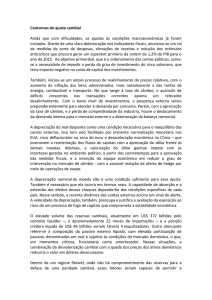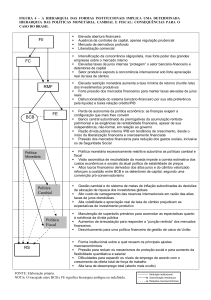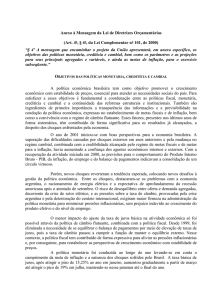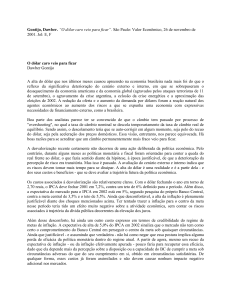Pensamento do Dia
Economistas analisam a Economia, o Brasil
e o mundo,
mundo, na mídia diária 15 a 18 10 2010
------------------------------------------------------------------Estadão Online – 15/10/2010
O atoleiro das hipotecas
Paul Krugman
Os representantes do governo americano costumavam dar lições aos outros países a
respeito dos problemas econômicos que estes enfrentavam, dizendo-lhes que precisavam
emular o modelo dos Estados Unidos. A crise financeira asiática do fim da década de 90,
em particular, levou os satisfeitos americanos a distribuir muitas lições de moral.
Assim, em 2000, o então secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, declarou
que as chaves para se evitar uma crise financeira eram “bancos adequadamente
capitalizados e supervisionados, códigos de falência sólidos, governança corporativa
efetiva e meios críveis de fazer cumprir os contratos”. Por implicação, estas eram
características que nós apresentávamos, mas que faltavam aos asiáticos.
Na verdade, nós não correspondíamos a esta descrição.
Os escândalos contábeis da Enron e da WorldCom derrubaram o mito da governança
corporativa efetiva. Atualmente, a ideia de que nossos bancos eram adequadamente
capitalizados e supervisionados soa como uma piada de péssimo gosto. E agora a
bagunça das hipotecas está transformando em falácia a sugestão de que dispomos de
meios críveis de fazer cumprir os contratos – na verdade, cabe perguntar se nossa
economia está sujeita a algum tipo de código de leis.
A história até o momento: Uma quebra imobiliária épica e a persistência de um alto
índice de desemprego levaram a uma epidemia de inadimplência, com milhões de
proprietários de imóveis atrasando o pagamento de suas hipotecas. Assim, os
financiadores – as empresas que recolhem os pagamentos em nome dos detentores das
hipotecas – executaram muitas dívidas, apropriando-se de muitos imóveis.
Mas será que tais empresas têm realmente o direito de se apropriar desses lares? As
histórias de horror têm se multiplicado, como o caso do morador da Flórida cuja casa foi
tomada apesar de ele não a ter hipotecado. Parece que certos envolvidos têm ignorado a
legislação. Os tribunais têm aprovado execuções hipotecárias sem exigir que os
financiadores apresentem a documentação apropriada; em vez disso, eles têm confiado
em atestados assegurando que a papelada está em ordem. E esses atestados em muitos
casos foram produzidos por “burocratas robôs”, funcionários de baixo escalão que não
fazem ideia da veracidade destas garantias.
Agora uma terrível verdade está chegando à superfície: em muitos casos, a
documentação não existe. No frenesi da bolha, boa parte dos empréstimos imobiliários
foi feita por empresas suspeitas que tentavam gerar o maior volume possível. Estes
empréstimos foram vendidos a “trustes” hipotecários, os quais, por sua vez, os
repartiram e misturaram em valores mobiliários lastreados por hipotecas. Os trustes
eram obrigados pela lei a obter e manter em sua posse as notas hipotecárias que
especificavam a obrigação do solicitante. Mas agora parece claro que tais formalidades
foram muitas vezes negligenciadas. E isto significa que muitas das execuções
hipotecárias que estão ocorrendo são, de fato, ilegais.
Isso é muito, muito ruim. Para começar, é quase certo que um número significativo de
solicitantes está sendo alvo de fraudes – recebendo cobranças indevidas e acusações de
inadimplência quando na verdade não estão faltando com os termos dos seus acordos de
empréstimo.
Além disso, se os trustes não forem capazes de provar que realmente são os donos das
hipotecas sobre as quais têm vendido participação, os patrocinadores destes trustes
enfrentarão processos por parte de investidores que compraram tal participação – uma
participação que, em muitos casos, vale hoje apenas uma fração do seu valor nominal.
E quem são estes patrocinadores? Grandes instituições financeiras – as mesmas
instituições supostamente resgatadas por programas do governo no ano passado. Isto
significa que a bagunça das hipotecas representa a ameaça de uma outra crise
financeira.
O que pode ser feito em relação a isto?
Seguindo o próprio perfil, a resposta do governo Obama tem sido a de se opor a medidas
que possam desagradar aos bancos, como uma moratória temporária nas execuções
hipotecárias enquanto alguns dos problemas são solucionados. Em vez disso, o governo
pede educadamente aos bancos que se comportem de maneira exemplar e limpem a
própria reputação. Afinal, isto funcionou tão bem no passado, não é mesmo?
Entretanto, a resposta da direita é ainda pior, é claro. Os republicanos do congresso
estão mantendo a discrição, mas comentaristas conservadores como os editorialistas do
Wall Street Journal têm chamado de mera trivialidade a ausência da devida
documentação. Com efeito, eles estão dizendo que se um banco diz ser o proprietário da
sua casa, o melhor é acreditar na palavra dele. Para mim, isto evoca a época em que os
nobres se sentiam no direito de tomar o que quer que desejassem, sabendo que os
camponeses nada poderiam fazer nos tribunais. Ao que parece, há pessoas que pensam
nesta época como os “bons tempos”.
O que deveria ocorrer? Os excessos dos anos da bolha criaram um atoleiro jurídico no
qual os direitos de propriedade estão mal definidos porque ninguém possui a
documentação adequada. E, onde não existe direito de propriedade definido, cabe ao
governo criar tal direito.
Isso não será fácil, mas há boas ideias em circulação. O Centro pelo Progresso
Americano, por exemplo, propôs conferir aos conselheiros hipotecários e a outras
entidades públicas o poder de modificar diretamente empréstimos problemáticos,
garantindo a validade de sua decisão a não ser que o financiador da hipoteca entre com
recurso. Isto ajudaria a esclarecer as coisas e também a nos tirar do atoleiro.
Uma coisa é certa: o que estamos fazendo no momento não está funcionando. E fingir
que está tudo bem não vai convencer a ninguém.
------------------------Valor Econômico - 18/10/2010
Câmbio e contas externas: análise e
perspectivas
José Luis Oreiro e Eliane Araújo
A retomada da tendência de valorização do real nas últimas semanas tem suscitado um
intenso debate a respeito das possíveis consequências desse movimento na evolução
futura das contas externas brasileiras.
De um lado, constatamos a existência de uma posição que poderíamos denominar de
"indiferença otimista". Segundo essa visão, num regime de câmbio flutuante, a
intensificação dos desequilíbrios externos em função do movimento de apreciação da
taxa real de câmbio levará, mais cedo ou mais tarde, a um movimento lento e gradual de
desvalorização do câmbio devido à crescente escassez de divisas no mercado doméstico.
Dessa forma, a ocorrência de uma "parada súbita" da entrada de fluxos externos para a
economia brasileira estaria descartada a priori pela própria lógica do regime de câmbio
flutuante. Nesse contexto, a permanência do regime de flutuação cambial seria condição
necessária e suficiente para que o Brasil fique livre do risco de uma crise cambial.
De outro lado, podemos constatar a existência de uma posição que poderíamos chamar
de "realismo pessimista". Segundo essa visão, a sobrevalorização da taxa de câmbio
desemboca, mais cedo ou mais tarde, numa crise de balanço de pagamentos, com
consequências negativas para o nível de atividade econômica. O regime cambial é
irrelevante para esse resultado, uma vez que a "exuberância irracional" dos mercados
financeiros pode sustentar a sobrevalorização cambial por longos períodos, mesmo num
contexto de déficits em conta corrente crescentes, por intermédio da entrada de capitais
de curto prazo, atraídos pelo clima de "euforia" criado, ao menos em parte, pela própria
valorização do câmbio. Dessa forma, a existência de regimes de câmbio flutuante não
elimina a possibilidade de crises de balanços de pagamentos, pois a desvalorização
cambial, quando ocorre, tende a ser extremamente rápida, desordenada, e causada por
uma mudança súbita no "estado de ânimo" dos investidores internacionais a respeito da
sustentabilidade futura das contas externas do país. O regime cambial não é relevante
segundo essa visão, o que realmente importa é ter um "câmbio alinhado".
Uma questão importante para os que defendem o "realismo pessimista" é identificar o
grau de desalinhamento cambial prevalecente na economia brasileira. A metodologia
usada pelos economistas, para lidar com esse problema é calcular um nível hipotético de
taxa real efetiva de câmbio que prevaleceria na economia no caso em que os
movimentos da taxa de câmbio fossem inteiramente explicados pelos "fundamentos", ou
seja, por variáveis outras que não a própria "psicologia do mercado". Os autores deste
artigo fizeram recentemente esse exercício para a economia brasileira com dados
trimestrais para o período do terceiro trimestre de 1995 ao primeiro trimestre de 2010.
Como fundamentos da taxa de câmbio selecionamos: índice de preços de commodities,
termos de troca, taxa Selic, saldo da balança comercial como proporção do PIB e
consumo do governo (dessazonalizado).
Dessa forma, foi rodada uma regressão em mínimos quadrados da taxa real efetiva de
câmbio contra as variáveis acima listadas, obtendo-se, a partir da mesma, uma série de
valores para o que seria a taxa real efetiva de câmbio, determinada apenas pelos
fundamentos. Essa série foi então comparada com os valores realizados da taxa real
efetiva de câmbio. Ao se realizar essa comparação, constata-se que desde o primeiro
trimestre de 2005 a economia brasileira convive com uma situação de sobrevalorização
cambial, a qual é temporariamente eliminada no último trimestre de 2008 em função da
forte desvalorização cambial ocorrida no Brasil após a falência do Lehman Brothers. Após
o primeiro trimestre de 2009, contudo, constata-se o ressurgimento do problema da
sobrevalorização cambial com a retomada do movimento de valorização do real. No início
de 2010, a taxa real efetiva de câmbio encontra-se quase 20% abaixo do seu valor de
referência determinado pelos "fundamentos".
Qual o impacto dessa expressiva sobrevalorização cambial sobre a situação das contas
externas ? Como é bem sabido, a partir de 2008, o Brasil voltou a exibir déficits em
conta corrente após alguns anos de superávit nessa rubrica. Em 2008 e 2009 o déficit em
conta corrente ficou em torno de 1,6% do PIB e a expectativa para 2010 é que o déficit
em conta corrente alcance 2,5% do PIB.
Nesse contexto a pergunta relevante a ser feita é saber em que medida esse
comportamento resulta da sobrevalorização cambial verificada após 2005, ou é
simplesmente reflexo do crescimento mais acelerado que a economia brasileira vem
experimentando nos últimos anos.
Para responder a essa pergunta, os autores desse artigo calcularam a elasticidade de
longo prazo do saldo em conta corrente (SCC) como proporção do PIB com respeito a
taxa real de câmbio e ao PIB real (dessazonalizado) para o período 1994-2009. Essas
estimativas foram obtidas a partir de um teste de cointegração entre as variáveis em
consideração. Os resultados mostraram que a elasticidade câmbio do SCC é 4,61 e a
elasticidade renda é -1,59. Esses números mostram que a sensibilidade do saldo em
conta corrente a variações da taxa de câmbio é muito maior do que a sensibilidade a
variações da taxa de crescimento. Dessa forma, a sobrevalorização cambial verificada
após 2005 tem uma contribuição maior para a deterioração das contas externas do que a
aceleração do crescimento.
A partir desses números podemos traçar um cenário bastante preocupante para o saldo
em conta corrente até 2014. Considerando o crescimento médio de 5% para o PIB e a
manutenção da sobrevalorização cambial, o saldo em conta corrente irá alcançar -4,1%
do PIB em 2014. Se o câmbio real continuar se valorizando e alcançar o mínimo
observado durante o primeiro mandato do presidente FHC, o rombo nas contas externas
será ainda pior: 6,7% do PIB.
Esses cenários mostram que uma mudança urgente na política cambial é necessária, não
só para estancar o processo de valorização cambial, como, principalmente, eliminar a
sobrevalorização cambial. Nesse caso, o saldo em conta corrente poderá ser reduzido
para cerca de -0,6% do PIB em 2014.
José Luis Oreiro é professor do departamento de Economia da UnB. E-mail:
[email protected].
Eliane Araújo é professora do departamento de Economia da UEM. E-mail:
[email protected].
----------------------------
O Estado de S.Paulo - 17/10/2010
Que tripé?
Eduard Amadeu e Andrei Spacov
Vivemos sob a égide do tripé da prudência fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante.
Mas é inegável que a política econômica do último ano contradiz a retórica oficial, haja
vista a lenta corrosão de cada um desses três pilares.
A deterioração do tripé é mais notável na política fiscal. Assistimos a uma manipulação
mal disfarçada do superávit primário. Disfarçada porque o saldo oficial inclui receitas
como a antecipação de dividendos de estatais e a venda futura de barris de petróleo. Mal
disfarçada porque o esforço educativo para dar transparência às contas públicas no
governo FHC tem o mérito de tornar óbvias essas artimanhas. O superávit que conta
para a evolução da economia é muito menor do que o oficial.
Outra manobra é a supercapitalização do BNDES, que, afora o subsídio do Tesouro,
produz uma divergência entre as medidas líquida e bruta da dívida pública. A primeira
vem caindo graças à igualdade contábil entre os valores dos títulos públicos para
capitalizar o BNDES e dos ativos (empréstimos) do banco. Mas o valor de mercado
desses ativos é incerto e há descasamento de prazos entre a dívida e os empréstimos do
BNDES. Sendo assim, a dívida bruta do governo, que vem crescendo como porcentagem
do PIB, se torna cada vez mais relevante que a dívida líquida.
A deterioração do pilar fiscal contamina a política monetária. O Banco Central (BC)
persegue uma meta de inflação ao calibrar o custo dos empréstimos quando fixa a taxa
básica de juros (Selic). Mas o Ministério da Fazenda também atua sobre o custo e a
oferta de empréstimos como único acionista do BNDES e da Caixa Econômica Federal e
controlador do Banco do Brasil. Ao oferecer condições de crédito que o setor bancário
privado não consegue (porque não tem subsídio nem garantia do Tesouro), os bancos
oficiais privilegiam seus clientes em detrimento dos clientes do sistema privado.
Para manter o custo de financiamento condizente com a meta de inflação, o BC precisa
fixar a Selic acima do que seria não fossem as condições privilegiadas oferecidas pelos
bancos oficiais. Quanto mais elevada a Selic, maiores os juros sobre a dívida pública e
sobre os empréstimos do setor privado. Temos então um sistema dual, em que alguns
privilegiados se financiam a juros abaixo do custo de endividamento do Tesouro e os
demais, bem acima. Dual também porque o serviço da dívida compete com outros tipos
de gastos, como saúde e educação, no Orçamento da União.
Por último, a política monetária infesta o pilar cambial. Que governo no mundo paga
mais de 10% de juros aos seus credores? O Brasil paga, e isso atrai tsunamis de dinheiro
do resto do mundo. O governo, então, começa a construir diques para proteger o País
dessas ondas gigantes - coloca IOF na entrada de capitais e intervém no mercado
comprando dólares. Diga-se de passagem, esses dólares rendem juros próximos de zero
e o governo, para evitar uma explosão de liquidez, vende títulos que pagam Selic. Não
parece um bom negócio para o contribuinte.
Ao afastar-se do tripé, o governo ressuscitou o modelo dos anos 70 e 80, de hipertrofia
fiscal, que leva à distribuição de renda de contribuintes para credores do governo, dos
que se financiam no mercado para os favoritos dos bancos oficiais, das gerações futuras
para as atuais. Fora isso, está deixando para o próximo governo duas heranças: a piora
no balanço dos bancos oficiais e da conta corrente do balanço de pagamentos, além do
risco de o embalo do crédito se transformar numa bolha.
Não parece óbvio que a principal providência para estancar a apreciação do real é criar
as condições para reduzir os juros? Reduzir juros sem acelerar a inflação. Tecnicamente
a solução é simples, embora a política, os interesses e a ideologia a tornem quase
impossível. O governo bem que podia conter a avalanche de gastos e subsídios, deixar a
política monetária para o Banco Central e permitir a redução dos juros.
ECONOMISTAS DA GÁVEA INVESTIMENTOS
-------------------------------O Globo - 18/10/2010
Falta a dimensão fiscal
Paulo Guedes
A morte de Tancredo era o prenúncio de uma transição ameaçada.
A síndrome da ilegitimidade assombrava a Nova República.
O novo presidente, político situacionista durante o regime militar, não resistiria às
pressões pelo aumento dos gastos públicos e à busca da popularidade nos palcos
esperançosos da redemocratização.
Ali nascia a ideia de um combate indolor à inflação. Sem recurso à política monetária,
uma insanidade, e à dimensão fiscal, uma temeridade que insistimos em praticar.
Os legítimos gastos sociais de uma democracia emergente exigiriam reformas no Antigo
Regime. Era uma oportunidade ímpar para a reforma de um aparelho de Estado moldado
à sombra do regime militar, sem consideração pelo capital humano brasileiro. Mas
políticos despreparados em matéria econômica e economistas preparados em assuntos
políticos patrocinaram a mais longa sequência histórica de malsucedidas tentativas de
estabilização.
Descobrimos eventualmente o papel fundamental do Banco Central no combate à
inflação e do câmbio flexível para corrigir desequilíbrios externos. Mas, por
desconhecimento ou conveniência política, continuamos ignorando a importância da
mudança no regime fiscal para a curta duração de um programa de estabilização bemsucedido. Que durasse dois anos, e não duas décadas.
Com a menor taxa de sacrifício em redução de crescimento e destruição de empregos.
A crença social-democrata de que a expansão dos gastos públicos é o melhor
instrumento para a criação de empregos não se sustenta. Faça o teste você mesmo.
Procure um economista de insuspeita simpatia por gastos públicos, um keynesiano,
naturalmente. Faça-lhe a pergunta trivial: sob o regime de câmbio flutuante em
ambiente de grande mobilidade de capitais internacionais, o que acontece se o governo
expande os gastos para criar empregos? Ele dirá que sobem os juros internos, atraindo
capitais externos, derrubando a taxa de câmbio, desestimulando exportações e a
produção nacional que sofre competição dos importados.
O dólar a R$ 1,60 é arma de destruição em massa de empregos.
Quanto maior a mobilidade de capitais, bastante elevada nos dias de hoje, mais
impotente a expansão dos gastos públicos para criar empregos. E maior a potência da
política monetária expansionista.
Um regime fiscal robusto permite derrubar juros, desvalorizar o real e estimular a
produção e o emprego.
--------------------------------O Estado de S.Paulo - 18/10/2010
Ambientalistas opõem-se ao
desenvolvimento?
José Goldemberg
Como acontece em outras áreas - tais como as de tecnologia, de padrões de consumo e
até da moralidade pública -, as grandes inovações que marcaram os avanços da
civilização demoram a chegar ao Brasil. Essa é uma característica geral de países
periféricos que ainda têm um peso relativamente pequeno no cenário internacional.
As preocupações com a preservação ambiental caem nessa categoria, como ficou
evidente na década de 70 do século passado. Na Conferência de Estocolmo de 1972, que
deu origem aos esforços de reduzir a poluição no mundo todo, o Brasil teve um
desempenho lamentável, defendendo posições como as que o economista e ex-ministro
Delfim Netto expressou recentemente em entrevista ao jornalista Ricardo Arnt: "Se
diziam que a indústria do aço ia sair da Europa por causa da poluição, eu respondia: vem
para o Brasil, porque temos espaço bastante para a poluição e é mais importante fazer
aço; da poluição cuidamos depois" (O que os Economistas Pensam sobre
Sustentabilidade - Editora 34). As percepções de Delfim Netto sobre meio ambiente,
contudo, melhoraram muito desde então.
Outro exemplo é dado, no mesmo livro de Ricardo Arnt acima citado, pelo também
economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega - que naquela época era alto funcionário do
Banco do Brasil -, ao lembrar que a Rodovia Transamazônica (BR-230) foi criada "em
meio ao clamor para se fazer alguma coisa que permitisse a expansão da fronteira
agrícola e fosse capaz de resolver o problema de seca no Nordeste". Por essa razão, a
legislação que criou a Transamazônica é a que criou o Programa de Redistribuição de
Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (Proterra), que tornou
viáveis migrações para a Amazônia. Conta Maílson da Nóbrega que o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) chegou a fazer uma usina de álcool na
Transamazônica, ignorando que a cana "era belíssima, mas sem sacarose para produzir
álcool ou açúcar".
A ideia de que reduzir a poluição torna o crescimento econômico inviável é irracional,
mas foi, e ainda é, o paradigma usado por muitos economistas e desenvolvimentistas no
mundo todo.
Foram essas visões incorretas que levaram ao surgimento do movimento ambientalista
mais ligado à "esquerda", que atribui o crescimento predatório a um capitalismo
selvagem e, portanto, no seu entender, a solução é combater o capitalismo como um
todo. Por outro lado, o ambientalismo mais ligado à "direita" vem do século 19 e tem a
característica de tentar preservar o meio ambiente e a paisagem, dando a eles um sabor
imobilista que às vezes serve a interesses de grupos de pressão. No atual movimento
ambientalista essas duas visões coexistem.
A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 beneficiou-se do movimento
ambientalista ligado à "esquerda". A escolha de Marina Silva como ministra do Meio
Ambiente, no mesmo ano, refletiu esse apoio. Mas o que ocorreu é que o zelo da ministra
em implementar a legislação ambiental logo se transformou num obstáculo às obras
desenvolvimentistas que o governo pretendia realizar, como a transposição do Rio São
Francisco e a construção de grandes hidrelétricas na Amazônia.
A ficção de que as teses da ministra Marina Silva eram levadas a sério dentro do governo
se dissipou rapidamente, resultando na sua saída do governo - tardiamente, a nosso ver.
Como resultado, porém, os ambientalistas acabaram sendo caracterizados como inimigos
do desenvolvimento, atrasando desnecessariamente, por motivos fúteis, obras de grande
vulto, como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O presidente Lula contribuiu
consideravelmente para essa tentativa de desqualificação do movimento ambientalista,
acusado de se preocupar mais com os "bagres do Rio Madeira" do que com a geração de
eletricidade.
O problema fundamental aqui é o de distinguir entre o que os economistas chamam de
"crescimento sustentável" - entendido como crescimento econômico sem sobressaltos e
sem flutuações na taxa de câmbio - e o assim denominado "desenvolvimento
sustentável", em que não somente o progresso econômico é levado em conta, como
também o uso eficiente dos recursos naturais, com as melhores tecnologias disponíveis e
com a preservação ambiental (na medida do possível). A primeira opção ("crescimento
sustentável") é até viável por curtos períodos de tempo, mas só a segunda
("desenvolvimento sustentável") é duradoura. A primeira olha o curto prazo e a segunda,
o médio e o longo prazos, sendo evidente que o atual governo só teve em mente o curto
prazo.
Por exemplo, o desmatamento da Amazônia para expandir pastagens para gado é uma
atividade de baixo rendimento econômico que terá sérias consequências, porque vai
mudar (e está mudando) o regime de chuvas de todo o País, além de contribuir
significativamente para as emissões de gases que provocam o aquecimento global.
Portanto, é essencial dirigir os rumos do crescimento econômico da região em outras
direções, o que não foi feito. Argumentar que a Europa também destruiu suas florestas
para progredir e que agora querem impedir-nos de fazer o mesmo reflete pura
ignorância: a eliminação das florestas europeias ocorreu ao longo de mil anos e o Brasil
está fazendo isso em 30 anos, na Amazônia.
As únicas medidas sérias tomadas no Brasil nos últimos anos para orientar o País na
direção do desenvolvimento sustentável foram a aprovação de leis propostas pelo
prefeito Gilberto Kassab, no Município de São Paulo, e pelo ex-governador José Serra, no
Estado de São Paulo, que estabelecem metas e prazos para reduzir as emissões de
carbono (e outros poluentes) até o ano 2020. Essas leis vão conduzir o País a uma
economia de baixo carbono e não constituem um freio ao crescimento econômico, mas,
ao contrário, levarão a uma modernização da indústria brasileira, o que aumentará sua
competitividade no comércio internacional.
PROFESSOR DA USP, FOI SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO
--------------------------
O Globo - 16/10/2010
A guerra cambial (II)
Paulo Nogueira Batista jr.
Volto à questão da “guerra cambial”. Desde que escrevi sobre o assunto nesta coluna há
duas semanas, tivemos a reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco
Mundial, aqui em Washington. A “guerra cambial” foi intensamente discutida. Como seria
de esperar, entretanto, não houve avanços em matéria de coordenação cambial ou
soluções “globais”.
A questão será retomada na reunião ministerial do G-20, na Coreia do Sul, semana que
vem, e na reunião de cúpula do G-20, em novembro.
Parece fácil prever: haverá calor, mas pouca luz.
Os Estados Unidos continuarão praticando uma política monetária frouxa, que enfraquece
o dólar. A China continuará resistindo a uma valorização substancial do yuan.
Os demais países devem intensificar esforços para frear a subida de suas moedas.
Formou-se um quadro de “não-apreciação competitiva”, como observou o economista
americano Ted Truman.
Consequência prática: o Brasil precisa dedicar-se com urgência à definição e
implementação, em nível nacional, de medidas para evitar que o país seja prejudicado
por esses movimentos cambiais. O aumento do IOF de 2% para 4% nas aplicações de
investidores estrangeiros em renda fixa foi uma medida correta, porém insuficiente.
Por que o pessimismo quanto à possibilidade de uma solução global? É que as tensões
cambiais têm raiz na situação dos EUA e de outras economias avançadas. Essa situação
não irá mudar tão cedo. O problema central é a debilidade da recuperação, o que resulta
em níveis muito elevados de desemprego.
Nos EUA, a política fiscal não produziu os efeitos desejados em termos de reativação da
demanda.
Há espaço fiscal para introduzir novos estímulos, mas o governo Obama não parece ter
condições políticas de seguir esse caminho. Em consequência, a responsabilidade de
estimular a economia está recaindo sobre os ombros da Reserva Federal. A política
monetária tem sido ultra-expansiva. E o banco central prepara uma nova rodada de
“relaxamento quantitativo”, o que significa basicamente injeção de liquidez pela compra
de títulos públicos.
Não se espera que a expansão monetária tenha grandes efeitos sobre a demanda
doméstica
nos
EUA.
Os
consumidores
estão
endividados,
desempregados,
subempregados, ou com medo do desemprego.
As empresas estão com nível elevado de capacidade ociosa e nível reduzido de confiança.
Nesse ambiente, a eficácia da política monetária depende sobretudo da depreciação
cambial e seus efeitos sobre exportações e importações.
A desvalorização do dólar permite que a economia americana ganhe competitividade
internacional e cresça ocupando mercados no exterior ou substituindo importações por
produção nacional.
Contudo, os demais países, a China à frente, não querem aceitar que as suas moedas se
valorizem (ou seja, que o dólar se desvalorize).
Pretendem preservar sua competitividade internacional e capacidade de exportar.
O Brasil já fez a sua parte. Permitiu uma expressiva apreciação do real e desequilibrou
seu balanço de pagamentos em conta corrente.
Agora é preciso tomar providências para evitar que prossiga a valorização da moeda
nacional. Isso inclui apertar a política fiscal para permitir uma queda dos juros internos,
continuar acumulando reservas internacionais e adotar medidas de regulação dos fluxos
de capital e de natureza prudencial na área financeira (inclusive no que diz respeito a
derivativos).
Nelson Rodrigues dizia: “Em todo casamento, há uma vítima; e há que se fazer todo o
possível para não ser essa vítima”. Da mesma forma, pode-se dizer: em toda guerra
cambial há vítimas; e há que se fazer todo o possível para não ser uma dessas vítimas.
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. é economista e diretor-executivo pelo Brasil e
mais oito países no Fundo Monetário Internacional, mas expressa os seus
pontos de vista em caráter pessoal.
----------------------------------Folha de S.Paulo - 17/10/2010
Recuo estratégico
Rubens Ricupero
MUDARAM TANTO as premissas da economia mundial que é inevitável reavaliar a forma
como esperamos nos inserir pelo comércio no espaço globalizado, inclusive em relação à
integração da América Latina.
Nos primórdios da integração, o mundo aparecia como simples dualidade. Bastaria
industrializar a região para exportar manufaturas simples aos abastados: EUA, Europa e
Japão. Não existiam, em 1960, riscos de concorrência do lado de outros
subdesenvolvidos. Sobretudo não existiam ameaças da China nem da Índia.
Hoje, a presença avassaladora da China subverteu todas as premissas. Suas
manufaturas deslocam as latino-americanas, mesmo favorecidas por acordos de livre
comércio, do mercado dos EUA. Insaciáveis, os chineses invadem também mercados
latinos nos nichos antes destinados a outros latinos (por exemplo, os produtos brasileiros
substituídos pelos chineses na Argentina).
Desaparecem, assim, um a um os possíveis mercados imaginados pela integração. O que
sobra para a indústria nacional -até quando?- é parcela cada vez menor do mercado
interno.
A China cria com seus mercados relação de dependência que alguns confundem com a
superação da antiga divisão internacional do trabalho. Compensa os deficits dos EUA
comprando dólares, o que lhe permite manter desvalorizada a moeda. Dos asiáticos
importa insumos, integrando-os em sua cadeia produtiva. Aos latinos e africanos adquire
commodities.
Exceto no caso dos asiáticos, a consequência da política comercial chinesa é solapar a
indústria dos demais. Ora, a industrialização foi sempre a premissa da integração
regional. Não havendo chance de se industrializar, como se integrarão entre si os latinos
ou africanos? Pelos serviços, a agricultura?
Foram também os empregos industriais que permitiram a transformação de antigos
camponeses em operários de classe média nos subúrbios das cidades europeias e dos
EUA. Neste último, foi a indústria que integrou os negros emigrados do Sul. A
comprovada eficiência da indústria como integradora social está sendo agora utilizada
pela China e a Índia a fim de absorver centenas de milhões de camponeses que se
transferem às cidades.
O único problema é que fazem isso não tanto pelo consumo interno, mas ocupando os
mercados alheios, inclusive os nossos.
Depois do deficit de US$ 28 bilhões do mês passado, os EUA dão sinais de que estão
chegando ao limite. Querem restringir os chineses e dobrar as próprias exportações,
entre outros ao Brasil. Com nosso atraso e nossa pobreza, podemos nos dar ao luxo de
emprestar o mercado para que os demais resolvam seus problemas?
Impõe-se um recuo para reavaliar nossa estratégia global. Primeiro, se quisermos
manter a indústria, temos de deter a enxurrada de importações beneficiadas por moeda
manipulada e práticas desleais de comércio.
Segundo, se vamos depender de commodities, cujos mercados estão na Ásia, os
mercados da América Latina passarão a ter importância residual e secundária.
Cedo ou tarde, a indústria brasileira, estrangulada em sua expansão interna e de
exportação, não terá condições tecnológicas e de custo nem para aproveitar as
preferências tarifárias ainda existentes.
---------------------------O Estado de S.Paulo - 18/10/2010
O que há de errado com o País?
Fabio Giambiagi
Daqui a dois anos farei 50 anos. Formei-me em 1983, no meio da pior recessão do País
no pós-guerra. Minha geração viveu o governo militar, a frustração de ver que a
redemocratização se revelara inicialmente incapaz de resolver os grandes problemas
econômicos do Brasil e os anos cinzas da hiperinflação reprimida entre 1986 e 1994.
Quando nós que nascemos no final dos anos 50 ou começo dos anos 60 tínhamos em
torno de 30 anos, no começo da década de 1990, a sensação que se tinha era de
completa falta de perspectivas: o País estagnado, uma inflação absurda - que chegou a
3% ao dia! -, o crime aumentando nas grandes cidades, o desemprego subindo e uma
distribuição de renda que envergonhava a todos.
Pensar em "autoestima nacional" nesse contexto era simplesmente inviável. A piada uma espécie de exercício de autoflagelação - de que "a saída para o Brasil é o Galeão"
(ou Guarulhos) era voz corrente na classe média carioca ou paulista na época.
Duas décadas depois disso, o panorama atual é completamente diferente. A hiperinflação
pertence aos livros de História - nossos filhos são incapazes sequer de entender esse
conceito. A inflação anual de hoje é equivalente à que se acumulava em dois dias em
outras épocas. O crescimento foi se firmando. Os indicadores de violência estão em
queda nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. O
desemprego é baixo e a distribuição de renda tem dado mostras de melhorar de modo
contínuo.
E, entretanto, o País não irradia otimismo. Um conjunto de dados como os que foram
acima citados deveria ser motivo de congratulação do Brasil como um todo, pois são uma
conquista coletiva, da mesma forma que o Chile como país se orgulha de estar deixando
a pobreza para trás ou que, mal comparando, todo europeu de 50 anos na década de
1970 teria todos os motivos para se orgulhar do que a Europa tinha feito com o
desenvolvimento do continente, 25 ou 30 anos depois do cenário de devastação que
existia em 1945.
Porém, não é de sensação de bem-estar com o Brasil o clima que se vive no País. Que a
maioria da população está satisfeita, não resta a menor dúvida. Isso é diferente, porém,
de as pessoas estarem satisfeitas com o País em que vivem.
Há um clima ruim no ar - e isso não faz bem a ninguém. Os argentinos têm se referido
ao ambiente que impera por lá há bastante tempo, acentuado pela radicalização verbal
do casal Kirchner, como sendo de "crispación permanente". Em menor escala, algo do
gênero pode estar em curso aqui.
Como pode um parlamentar oposicionista ameaçar "bater" no presidente da República,
como em conhecido episódio ocorrido em meados da década? Como é possível, por outro
lado, dos palanques oficiais se pregar a "extinção" de um partido de oposição? Ou como
podem algumas pessoas, por conta desse clima, se sentirem como se estivessem na
Rússia de Stalin? Em outras palavras, há um clima político que não condiz com o que o
País fez de bom nos últimos 20 anos - incluindo os governos tanto do PSDB como do PT.
O País precisa de um pouco de concórdia e de algo mais de sabedoria e sensatez, de
parte a parte. Quem dará o tom da relação entre as diferentes forças políticas é o futuro
presidente (ou presidenta). É ele(a) quem definirá a agenda, estabelecerá a pauta no
Congresso Nacional e terá poder de comando sobre os acontecimentos políticos.
Dificilmente haverá chances de algum tipo de melhoria de ambiente prosperar, se
prevalecer a beligerância que caracteriza as relações entre governo e oposição depois
que o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci - que executava a arte do diálogo com
maestria - saiu do governo.
O País precisa que sejam desarmados os espíritos, bem como que cada parte saiba
entender melhor a lógica de comportamento da outra. O governo tem de entender que o
papel da oposição é... ser oposição! E que isso faz parte das regras do jogo da
democracia. E a oposição, por sua vez, deve entender que é próprio da função dela fazer
denúncias - mas que ela não pode fazer apenas denúncias, sem ter também um elenco
claro de propostas, entre outras coisas porque, caso contrário, corre o risco de continuar
minguando, como tem ocorrido com sua representação parlamentar desde 2002.
O Brasil avançou, mas, se o brasileiro não se orgulha do país em que vive, é porque
existe a percepção de que as instituições não funcionam bem. Governo após governo,
nos três níveis da Federação e com membros de todos os partidos, os escândalos se
sucedem, sem que haja punição, e há grandes massas de recursos muito mal gastos.
Atacar essas questões é uma tarefa pendente que demanda um aprimoramento
institucional que requer, entre outras coisas, leis modernizantes e um zelo particular das
autoridades no combate sem trégua à corrupção e às irregularidades.
É para essas questões que se deve voltar o esforço político. O País ganharia se, passada
a contenda eleitoral, fosse possível aos diferentes grupos em disputa dar "adiós a las
armas". Será que conseguiremos?
ECONOMISTA, É AUTOR DE ""REFORMA DA PREVIDÊNCIA"" (ED. CAMPUS)
------------------------------Valor Econômico - 18/10/2010
Descolamento entre ricos e emergentes
Luiz Carlos Mendonça de Barros
Após um longo período em que os preços dos principais ativos financeiros dos países
emergentes flutuaram em sintonia com os dos países ricos, nas últimas semanas os
mercados de ações emergentes mais importantes descolaram dos índices do G-7. Uma
forte indicação desse novo período de descolamento entre mundo emergente e mundo
desenvolvido aparece quando se compara o índice "MSCI - Mercado emergente" e o
S&P500, um dos principais índices utilizados por Wall Street para acompanhar o mercado
americano de ações.
O "MSCI - mercado emergente" é um índice criado pelo Banco de Investimentos
americano Morgan Stanley e composto por ações de vários países emergentes. O Brasil
participa nesse indice com cerca de 16% do total. No gráfico - que apresenta a relação
entre os dois índices - o leitor do Valor pode identificar com clareza esses dois períodos.
Mesmo depois do colapso do banco Lehman Brothers em julho de 2008, o valor das
ações dos mercados emergentes continuou crescendo bem acima do S&P.
Entre janeiro e outubro de 2009 essa diferença chegou a mais de 35%, seguida depois
por vários meses de estabilidade. Se utilizarmos outros índices que refletem a dinâmica
de preços de outras importantes Bolsas de Valores, como o FTSE em Londres e o DAX em
Frankfurt, chegamos ao mesmo quadro. Os grandes investidores institucionais,
principalmente fundos de pensão e fundos soberanos, com uma participação
desproporcionalmente baixa dos seus recursos alocada no mundo em desenvolvimento,
iniciavam naquele momento um movimento mais forte de compra de papéis fora do G-7.
Por isso a valorização apresentada no gráfico.
Mas a partir do momento em que as incertezas sobre a política econômica chinesa e os
riscos de um novo mergulho recessivo das economias desenvolvidas - principalmente os
Estados Unidos - começaram a dominar novamente corações e mentes dos investidores,
os mercados emergentes começaram a oscilar novamente junto com os mais maduros.
Olhemos novamente para o gráfico: entre março e julho de 2010, os temores de
recessão global derrubaram todos os mercados, mas desta vez os emergentes caíram
mais, penalizados pelas dúvidas sobre China.
Mas essa fase de insegurança começou a mudar novamente a partir do terceiro trimestre
de 2010. Com a atividade econômica nos países emergentes voltando a dar claros sinais
de forte aceleração, nem os receios de um novo enfraquecimento da economia
americana conseguiram manter os mercados emergentes no limbo. E o aumento da
relação MSCI emergentes / S&P voltou a ocorrer, como mostra o gráfico, no período
julho de 2010 ate hoje.
A tão proclamada racionalidade dos mercados financeiros parece não fazer parte do dia
das Bolsas de Valores, como já se sabe desde que Keynes as comparou com um cassino.
Por isso ainda é prematuro considerar como perene essa tendência recente de uma
valorização maior dos preços das ações nos mercados emergentes. Com certeza uma
nova rodada de números mais fracos sobre a atividade econômica nos Estados Unidos
pode jogar os preços das ações emergentes de novo no limbo da insegurança dos
investidores do primeiro mundo.
Mas para que isso aconteça será preciso um desastre maior do que os analistas têm
chamado de "Novo Normal" nas economias avancadas, isto é, um crescimento nos
próximos trimestres da ordem de 1,5% a 2% ao ano. Nesse cenário, de uma parte
importante do mundo crescendo de forma medíocre e com uma grande capacidade
ociosa em seu sistema produtivo, os bancos centrais do G-7 terão que manter a política
monetária expansionista de hoje.
Ora, os juros internacionais extremamente baixos e a falta de perspectiva para os lucros
das ações do primeiro mundo são a combinação que me parece estrutural para perenizar
- pelo menos nos próximos meses - a valorização dos mercados acionários dos
emergentes.
Outro risco sério para a continuidade do otimismo com os mercados como o brasileiro é a
chamada guerra de moedas, como bem definiu nosso ministro da Fazenda. O que saiu do
encontro do FMI na semana retrasada foi uma clara indefinição sobre as perspectivas de
coordenação global. Ainda há tempo para alguma convergência até a próxima reunião do
G20 no início de novembro, mas se os países partirem para um tudo ou nada em 2011,
inclusive com medidas protecionistas, poderemos mergulhar em uma crise mais
profunda. E nessas condições nem mesmo a mais sólida das economias emergentes teria
condição de normalidade. Por isso o meu otimismo qualificado com os próximos meses.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, engenheiro e economista, é diretorestrategista da Quest Investimentos. Foi presidente do BNDES e ministro das
Comunicações
-------------------------------O Estado de S.Paulo - 17/10/2010
Mais inflação, por favor
Alberto Tamer
Sim, um pouquinho mais de inflação nos países desenvolvidos não faz mal. É o remédio
heroico recomendado por muitos economistas para que eles saiam desse clima de inércia
e recessão. O Brasil não precisa disso porque já tem bom crescimento e inflação alta,
mas, lá fora, a pasmaceira é geral. A inflação média mundial estagnou abaixo de 2%, o
indicador mítico e aleatório que inventaram para evitar desequilíbrios "terríveis".
Em alguns países, recua. Nos EUA, os preços aumentaram 0,1%(!!!) em setembro. No
ano, não passa de 1,7% e, na Zona do Euro, só mais 0,2%. As duas economias pararam
de crescer e até enfrentam novamente o risco de recessão. Parece que não há muitas
saídas no momento, afirma o Nobel de Economia Paul Krugman, tese que defende há
tempos e agora ganha seguidores. E não houve muita surpresa que o mais recente
adepto tenha sido agora o presidente do Fed, Ben Bernanke. O banco central americano
que, na verdade, está lançando um novo desafio para o mundo. Vamos crescer mesmo
com base numa nova política monetária, sem nos preocuparmos muito com as
consequências que isso possa ter em outros países.
Ora, ora, a inflação. Bernanke afirmou na sexta-feira a intenção do Fed de adotar
"medidas especiais de estímulo à economia" que, na verdade, representam mais liquidez
no mercado com mais emissão de dólares, como fez no passado. Ele não teme pressão
inflacionária e, sim, a deflação provocada pelo desemprego elevado e baixo índice de
inflação. "O comitê deve considerar os custos e os riscos associados com o uso de
ferramentas não convencionais quando analisar se políticas acomodatícias adicionais
podem ser benéficas", disse Bernanke.
Em tradução livre, vamos emitir dólares, títulos, facilitar crédito, usar todas as armas
disponíveis e fazer tudo o que nos resta para que a economia volte a criar empregos e
crescer.
Os EUA não podem mais contar com redução do juro básico - negativo em termos reais e muito menos com o mercado externo. Acumulam déficits comerciais que aumentam
mês a mês, trazendo desemprego e o consumo. E, apesar dos esforços e da
agressividade do governo, não há sinais de que essa tendência possa mudar nos
próximos meses. A conclusão é que a economia só pode voltar a crescer por dentro. Com
inflação ou sem inflação.
Quem paga? Sem dúvida alguma, essa nova política monetária terá um custo para o
mundo. Qual? Depende dos reajustes que os outros países fizerem para se adaptarem a
essa nova situação. O economista e colunista do Financial Times Martin Wolf lembra que
são novos desafios. É preciso haver mudanças, com os países avançados com déficits
elevados reduzindo o endividamento; as taxas de câmbio se elevando nas economias
com posições externas mais robustas, precisam ser valorizadas, sustentando-se pelo
aumento da demanda interna. Tudo isso em ajustamento ao impacto desigual da nova
política monetária expansionista americana.
Uma fábrica de dólares. Quem vai vencer? "Os EUA porque dispõem de munição
infinita: não há limite para o volume de dólares que o Fed pode criar." E Wolf vai mais
longe. "O que precisa ser discutido são os termos de rendição do restante do planeta: as
mudanças necessárias nas taxas nominais de câmbio e nas políticas internas( dos países)
no mundo."
Brasil na encruzilhada. E aqui, registra a coluna, chegamos à encruzilhada sem destino
previsível. Não precisamos aumentar a inflação para crescer porque ela está alta até
demais. Ao contrário, o BC pode até ser obrigado a aumentar o juro para contê-la. Mas
isso atrairá aqueles mesmos capitais externos que os EUA jogam agora ainda mais no
mercado. Vai haver muita escuridão até o fim do túnel.
-------------------------------
O Estado de S.Paulo - 18/10/2010
Nobel de Economia e lições para o Brasil
Hélio Zylberstaj
O Prêmio Nobel de Economia 2010 concedido a Peter Diamond, Dale Mortensen e
Christopher Pissarides é um reconhecimento merecido pela sua contribuição para o
entendimento da persistência do desemprego nas economias desenvolvidas. Pretendo, a
seguir, fazer uma breve síntese dessa mensagem para, em seguida, extrair uma
conclusão aplicável ao caso brasileiro.
Para começar, os trabalhos de Diamond, Mortensen e Pissarides reforçaram o
reconhecimento da relevância do ambiente macroeconômico para explicar a taxa de
desemprego, mas levaram também à percepção de que mudanças na macroeconomia
podem ter diferentes impactos no desemprego, dependendo dos detalhes
microeconômicos do mercado de trabalho.
O desemprego não decorre simplesmente da falta de vagas. Os trabalhos dos laureados
reconhecem que, mesmo quando existem vagas de emprego, pode haver gente sem
trabalho. Acontece que o mercado está sempre em movimento. Simultaneamente,
empregos são destruídos e criados. Trabalhadores são demitidos, outros pedem
demissão. Alguns saem do mercado, outros entram. Todos esses fluxos contribuem para
a taxa de desemprego, cada um à sua maneira.
Tomemos, por exemplo, o fluxo de trabalhadores que pedem demissão. Esse fluxo não
aumenta a taxa de desemprego porque, em geral, quando alguém se demite, já tem
outro emprego acertado. Muitas vezes começa a trabalhar já no dia seguinte. Por outro
lado, quando as empresas demitem, criam um fluxo que engrossa o grupo dos
desempregados, porque os demitidos precisarão de algum tempo para encontrar o novo
emprego.
A forma como se dá a procura de emprego pode afetar a taxa de desemprego também.
Desempregados que se esforçam e procuram intensamente novas oportunidades as
acabam encontrando mais rapidamente. Já os que procuram com menos esforço ficam
mais tempo desempregados. Da mesma forma, as empresas podem anunciar suas vagas
para um público maior e encontrar candidatos rapidamente, ou podem ser menos
eficientes na procura por candidatos e demorar a preencher suas vagas.
O tempo da procura de emprego depende do que os desempregados esperam ganhar no
novo posto de trabalho. Cada um tem um salário desejado na cabeça e interrompe a
procura quando encontra uma empresa que oferece aquele salário. O salário desejado é
uma variável crítica para a taxa de desemprego. Quanto maior, mais tempo leva a
procura, mais desempregados permanecem nessa condição e maior a taxa de
desemprego.
Pesquisadores comprovaram empiricamente que a generosidade do seguro-desemprego
pode aumentar o tempo de procura de emprego. O valor e a duração do segurodesemprego aumentam o salário desejado pelos desempregados e provocam dois
efeitos. Um, ruim, seria o aumento da taxa de desemprego. Outro, bom, seria a
qualidade do "casamento" do desempregado com a nova vaga. Como o segurodesemprego permite uma procura mais calma e cuidadosa, o encontro candidato-vaga é
de melhor qualidade e o desligamento será menos provável. Um custo maior para um
benefício também maior.
A partir do trabalho dos laureados com o Nobel se reconheceu a importância dos
contatos pessoais na procura de emprego. Pessoas bem relacionadas socialmente
encontram empregos mais rapidamente. Não é à toa que muitas empresas anunciam as
novas vagas para seus próprios empregados, pois o boca a boca é uma arma importante
e barata para encontrar as pessoas certas.
Essa teoria toda serviria para o Brasil? Afinal, nos anos recentes, a taxa de desemprego
caiu muito e as perspectivas para o mercado de trabalho são favoráveis. Será que
precisamos nos preocupar com esses detalhes microeconômicos, quando os aspectos
macroeconômicos são tão exuberantes? Na verdade, sim. Temos de nos preocupar
porque o crescimento por si só não está conseguindo trazer todos para o emprego.
Há pelo menos dois grupos de brasileiros que ainda sofrem muito com o desemprego: os
jovens e os pobres. De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego, a taxa de
desemprego entre 15 e 24 anos é de 16% (três vezes maior do que entre 25 e 39 anos).
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a taxa de desemprego
entre os 20% mais pobres é de 42% (sete vezes maior do que entre os 20% mais
ricos!). Os trabalhadores pobres e os jovens continuam vulneráveis ao desemprego,
apesar do bom desempenho macroeconômico recente.
À luz dos ensinamentos de Diamond, Mortensen e Pissarides, pode-se concluir que
apenas mais crescimento econômico não garantiria emprego para os pobres e os jovens,
porque algo diferente acontece com a sua inserção no mercado de trabalho. Seus
empregos têm curta duração, sofrem muita rotatividade. Ficam mais tempo procurando
emprego do que empregados. Pode até haver empregos para eles, mas são de curta
duração. E, como os jovens e os pobres nessa condição são muitos, a taxa de
desemprego permanecerá alta, enquanto não encontrarmos uma solução.
Nos últimos anos, o governo tem procurado adequar o perfil desses trabalhadores às
vagas existentes por meio de programas de treinamento. O insucesso dessa política
sugere que talvez devêssemos inverter o jogo e simplesmente criar empregos adequados
para o seu perfil.
PROFESSOR DA FEA/USP, É PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE
RELAÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO (IBRET)
------------------------------O Estado de S.Paulo - 17/10/2010
Devoção não é tudo
Celso Ming
A gente já sabe o que a Dilma e o Serra pensam a respeito do aborto. Sabe, também,
que são devotos fervorosos de Nossa Senhora Aparecida. Há uma boa dose de
informações sobre quanto divergem ambos a respeito da privatização de empresas
estatais e do apreço que têm pela segurança, pela saúde e pela educação do povo.
Mas até agora nenhum dos dois entendeu que seria importante debater questões vitais
para a economia brasileira: o que fazer diante da atual guerra cambial; que tratamento
dar para a conta da crise global que os países ricos estão empurrando para os
emergentes; como gerenciar as finanças públicas corroídas neste final de governo Lula; e
como ficará a política de juros e o sistema de metas de inflação na arrumação que vier a
ser dada à economia.
Sobre tudo isso, paira uma densa escuridão. É verdade que a candidata Dilma Rousseff
tem passado mensagens de que vai dar continuidade à política econômica do atual
governo que ela, com boa dose de razão, considera vitoriosa, sem admitir, nem de boca
cheia nem de boca vazia, que tudo começou oito anos e meio atrás com o Plano Real,
que ela e o PT combateram.
Mas falar que tudo vai continuar como antes não diz muita coisa, por duas razões.
Primeira, porque o presidente Lula vai terminando seu mandato com tudo meio largado,
lançando mão de mandracarias para passar a impressão de que vai cumprir a promessa
de um superávit primário (sobra de arrecadação para pagamento da dívida) de 3,3% do
PIB. Assim, o compromisso de início de governo não está sendo executado e, com isso,
não se sabe que política Dilma vai manter, se a da fase 1 ou se a da fase 2.
Segunda razão, o mundo não é mais o mesmo, a crise mudou de cara, já não é apenas a
do subprime, nem a do estrangulamento do crédito, nem a da quebra dos bancos, nem a
da encalacrada fiscal dos países ricos. É isso tudo junto com a guerra de moedas. E essa
guerra está despejando um montão de dinheiro sobre economias emergentes, cujo
resultado é a asfixia do setor produtivo (e não só da indústria). Isso parece exigir novas
medidas que, no entanto, não vêm sendo objeto das propostas apresentadas por Dilma.
José Serra também não disse o que pretende. Afirma que "tem ideias próprias" e, com
isso, parece deixar claro que não se compromete nem com a política econômica do
Fernando Henrique nem com a do Lula. Mas, se é isso, qual seria essa via própria?
Alguns dos seus pensamentos já foram externados por aí. Sabe-se que o economista
Serra é um fiscalista de velha cepa e que não tolera desequilíbrios orçamentários, o que
parece bom. Mas sabe-se também que não é entusiasta do princípio de autonomia do
Banco Central. Nos dois ou três últimos anos criticou a política de juros e avisou, sem
dizer como, que empurrará para cima a cotação do dólar.
Isso também pode ser bom, mas em nenhum momento se soube como seria feita a
arrumação da casa sem criar confusão e sem pôr em risco os enormes investimentos que
têm de ser feitos em infraestrutura e na formação de gente para o Brasil grande que vem
vindo aí.
Ainda há três debates na TV e duas semanas de campanha, tempo de sobra para
esclarecer o eleitor sobre que programas econômicos, dos quais depende seu emprego e
seu salário, estará escolhendo no dia 31 de outubro. Mas será que os candidatos estão
dispostos a debater política econômica?
Reservas externas
O gráfico mostra a pilha de reservas internacionais amealhadas por seis países que têm
em comum políticas de defesa de sua economia contra a excessiva entrada de dólares.
Legítima defesa
Esses países (o Brasil inclusive) começam a ser apontados como obstáculos para o
ajuste. Outro jeito de ver a mesma coisa é dizer que são países que tratam de se
defender como podem da transferência da conta da crise, que é dos Estados Unidos, para
o resto do mundo.
--------------------------
Valor Econômico - 18/10/2010
Prioridades na relação com o exterior
Sergio Leo
Os ministérios da Fazenda e de Relações Exteriores dividirão, neste fim de governo, o
protagonismo na atuação da política externa em matéria econômica. Em um campo, pelo
menos, nenhum dos dois ministérios deverá exercer muita atividade: as negociações
multilaterais de comércio, na OMC, ou negociações entre Mercosul e outros parceiros,
como União Europeia, estão em modo inercial: haverá reuniões de técnicos e autoridades
para discutir o assunto, mas ninguém em Brasília põe muita fé em resultados práticos.
O mesmo não acontecerá nas negociações sobre as ameaças de ressurgimento da crise
financeira. As reuniões para debater o tema não só contarão até com a presença do
presidente Lula, que vai à Coreia para a reunião do G-20, em novembro, como têm
recebido forte atenção, especialmente do Ministério da Fazenda. Trata-se de descobrir
como aproveitar esse esforço diplomático, de coordenação de políticas econômicas, para
evitar a "guerra cambial" denunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ou, dada
a inflexibilidade dos governos envolvidos, tentar reduzir os danos desse salve-se quem
puder em que se transformaram as políticas econômicas mundiais.
Não será possível atribuir ao fantasioso antiamericanismo do Itamaraty o novo foco
potencial de atritos entre Brasil e EUA: os americanos querem aproveitar a reunião do G20 para concentrar forças na pressão contra a China, acusada de depreciar
artificialmente sua moeda e inundar de produtos baratos os mercados mundiais. Os
brasileiros, embora também temam as hordas de importados chineses, veem com maior
preocupação, no momento, as medidas dos EUA para combater o próprio
desaquecimento econômico.
No esforço para estimular o consumo e evitar a deflação, os EUA combinam política de
juros baixíssimos e derrame de dólares na economia, sob a forma de recompra de títulos
públicos ou pela liberação de depósitos dos bancos retidos pela autoridade monetária. É
uma política que desvalorizará ainda mais o dólar; um favor aos exportadores
americanos e uma ameaça a produtores de países como o Brasil.
O Brasil vai ao G-20 com um discurso contrário às medidas unilaterais e descoordenadas,
e favorável a maior diálogo e articulação entre as políticas monetárias dos países, para
uma estratégia global contra a crise. O ambiente de desconfianças e falta de disposição
pode ser medido, porém, pelo constrangimento recente das autoridades anfitriãs, na
Coreia, acusadas pelo Japão de não ter autoridade para presidir o encontro do G-20.
Tudo porque o governo coreano partiu para políticas ativas de intervenção no mercado
de câmbio tentando evitar a valorização da moeda nacional.
Com a guerra cambial em período de movimentação de tropas, os esforços internacionais
parecem pouco produtivos, o que aumenta a importância das políticas internas para
tratar do problema. No Brasil, a maior discussão é sobre como reduzir a taxa de juros,
que atrai investidores, inflaciona o país de moeda estrangeira e valoriza ainda mais o
real, agravando a perda de competitividade nacional. Os candidatos à Presidência da
República são vagos e às vezes contraditórios ao falar do problema, que parece exigir
algum aperto nos gastos públicos e maior controle da entrada de capital no país.
Um dos pontos interessantes que deveriam ser cobrados dos candidatos nos próximos
debates públicos é a política para o BNDES, forte componente da estratégia de
crescimento do atual governo. Economistas ligados aos tucanos acusam o banco de
sabotar a política monetária, ao emprestar com juros subsidiados a poucos investidores,
obrigando o Banco Central a elevar mais do que deveria as taxas de juros cobradas do
restante, para manter a eficácia da política de contenção da demanda inflacionária. No
campo governista, não se fala em mudanças nessa política, enquanto personagens
ligados à candidata se alternam entre anunciar uma iminente política de contenção de
gastos e declarar que ela não é tão necessária assim.
Nesse cenário de suspeitas e choques entre governos, lá fora, e de indefinição e disputa
eleitoral, no país, faz bem o Itamaraty em aproveitar o pouco tempo que resta ao
governo atual insistindo em reforçar os laços entre os países do Mercosul, antes que as
tendências de fragmentação comprometam o frágil projeto de bloco regional.
Como antecipou o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, ao Valor, o Brasil, na
presidência temporária do Mercosul, quer fixar neste ano cronogramas e tomar decisões
para aumentar a coordenação e integração, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai,
em matéria de tarifas de importação, regras para serviços, compras governamentais e
investimentos. É muito, mas ainda insuficiente para conter as ameaças à competitividade
das exportações brasileiras, que terão de buscar nas políticas internas as medidas para
enfrentar a concorrência estrangeira.
Sergio Leo é repórter especial
--------------------------------O Estado de S.Paulo - 16/10/2010
Cliente indesejado
Celso Ming
Os planos de saúde têm horror a associados com mais de 60 anos. Às vezes com um
certo jeito, e outras com truculência, fazem de tudo para alijá-los do seu sistema.
A expectativa de vida da população está aumentando e os administradores de medicina
de grupo parecem despreparados para enfrentar a transformação da pirâmide etária.
Comprometeram-se a fornecer um pacote vitalício de serviços de saúde em troca de uma
mensalidade previamente acertada, mas não estão entregando o contratado.
Há de tudo na história do setor. Há as empresas que cresceram como massa fermentada,
sem planejamento estratégico e sem preocupação com alocar adequadamente seu
patrimônio e depois quebraram. Há aquelas que fixaram as mensalidades em níveis
relativamente baixos, apenas para arrebanhar associados e, depois, repassá-los para
frente. E há outras que cresceram sobre bases atuariais relativamente sólidas, mas que,
depois, foram apanhadas por essa surpresa demográfica, o rápido envelhecimento da
população.
O fato é que as mensalidades dos planos deixam de caber no bolso à medida que os
cabelos brancos do associado vão aparecendo. No modelo atual de cobrança, os planos
individuais chegam a custar até seis vezes mais para uma pessoa acima de 60 anos. O
reajuste - na ordem de 500% - foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
organismo criado há dez anos para colocar em ordem o setor.
Uma pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra que as
despesas com saúde para os sessentões chegam a ser seis vezes superiores às da
primeira faixa etária (0-18 anos). Em geral, atingem uma população financeiramente
enfraquecida, ou porque vive de aposentadoria ou porque não consegue (ou não tem)
renda complementar. E isso piora tudo.
A questão do momento consiste em descobrir a saída para o impasse. O diretor da ANS,
Maurício Ceschin, admite que a maioria das operadoras de planos de saúde enxerga o
idoso apenas como problema. Para mudar essa percepção, adianta que a agência estuda
um novo modelo para o atendimento dessa faixa. Consiste em desenvolver uma espécie
de fundo de capitalização cuja mensalidade desde o princípio preveja cobertura para o
custo do tratamento de saúde na idade avançada. Isso pode solucionar o problema para
os novos associados, mas não os daqueles que já estão no sistema.
Investir em prevenção é quase um mantra no setor. Trata-se de evitar as doenças
crônicas que aparecem com a idade ou, então, garantir qualidade de vida às pessoas que
têm de conviver com elas por anos e anos. "A pessoa mais velha não precisa de
helicóptero para uma emergência, precisa de atendimento contínuo", aponta o
especialista Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade da Uerj.
Mas isso não é tudo. Ceschin diz que este é o momento certo para que as operadoras
comecem a pensar novas opções para atendimento específico dessa faixa do mercado. É
também o que pensa Veras. Para ele, o erro das administradoras de planos de saúde é
tratar todos os segmentos etários do mesmo jeito. "O idoso precisa de mais cuidados,
mais exames, remédios, consultas, etc. É necessário tratamento diferenciado", diz. Falta
saber em que bases atuariais.
Disparada
O gráfico mostra o avanço dos preços das commodities desde o início de julho, tal como
registrado por um dos mais reputados índices do mercado, o CRB: alta de 14,4%.
É a fraqueza do dólar
Esse não é apenas o efeito do aumento da procura por matérias-primas e insumos
turbinada pelas economias asiáticas. É, principalmente, a reação do mercado à
desvalorização do dólar. Essa alta mostra que são precisos cada vez mais dólares para
comprar a mesma commodity.
---------------------------------O Globo - 18/10/2010
Impasse fiscal
George Vidor
O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne esta semana e há uma expectativa
geral de manutenção nas taxas básicas de juros em 10,75% ao ano. Poderia haver até
uma redução não fosse a política fiscal expansionista do governo, com os gastos de
custeio crescendo mais do que deveriam para o momento. Dilma Rousseff e José Serra
não dão sinais de que isso poderá mudar em 2011.
Em seu último relatório de inflação, o Banco Central se mostrou otimista quanto à
possibilidade de a política fiscal vir a dar uma contribuição mais significativa para que a
pressão da demanda sobre os preços domésticos diminua. No entanto, os discursos dos
dois candidatos à Presidência vão na direção contrária.
Dilma se referiu a uma queda da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto
(PIB), mas ao mesmo tempo descartou a necessidade de um ajuste fiscal (talvez porque
esse tipo de proposta possa soar como algo neoliberal, conflitando com o mote principal
da sua campanha no momento, que é a negação de tudo que foi feito no governo
Fernando Henrique Cardoso).
Esse mesmo argumento é defendido pelo atual governo, que joga na hipótese de um
ritmo acelerado de crescimento econômico aumentar o denominador (PIB) a ponto de o
numerador (dívida pública) não precisar ser alterado pela acumulação de um superávit
primário mais robusto — para usar uma palavra da moda — nas finanças
governamentais.
No entanto, para concretizar todas as promessas de campanha, o eventual governo
Dilma teria de gastar mais. E nem poderia, mesmo que de forma suplementar, recorrer a
privatizações para alavancar investimentos, pois Dilma tem manifestado horror a essa
questão, chegando a embutir críticas à venda da Vale, cujo desempenho como ex-estatal
foi reconhecidamente fabuloso.
O candidato da oposição, José Serra, por sua vez, promete botar mais lenha na fogueira
dos gastos federais, garantindo que aumentará o salário mínimo para R$ 600 e ainda
concederá um reajuste de 10% aos aposentados do INSS, sem dizer de onde remanejará
recursos do orçamento (pois no rol das suas promessas há uma outra penca de despesas
relacionadas com saúde, educação, segurança, etc.). Nesse caso, o déficit da previdência
aumentaria de imediato, o que faria o superávit primário das finanças governamentais
encolher ainda mais. Para variar, tanto as autoridades como os postulantes à Presidência
apostam em um salto na arrecadação (pré-sal, principalmente) que viabilize despesas
crescentes.
Nenhum dos dois candidatos falou até agora claramente sobre elevação de impostos
(Dilma fez apenas uma alusão ao financiamento da saúde no Brasil, que precisa ser
equacionado", mas sem mencionar especificamente a ressurreição da CPMF). Então, se o
candidato vitorioso tomar posse com o pé afundado no acelerador, o superávit primário
acabará encolhendo inevitavelmente, e aí “bau bau” para a expectativa de redução das
taxas de juros.
Pelo visto, em termos de política fiscal, não teremos para onde correr nessas eleições.
Cada um dos candidatos promete gastar mais que o outro...
O pré-sal entrou na disputa eleitoral de maneira distorcida, pois Dilma acusou Serra de
querer “privatizálo”, com base em declarações que teriam sido dadas por David
Zylbersztajn supostamente na qualidade de assessor em energia do candidato da
oposição.
Testemunhei essas declarações porque fui moderador do debate no qual elas teriam sido
feitas. David falou com a autoridade de ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e consultor privado.
Não fez menção alguma a propostas de governo Suas críticas, por sinal pertinentes, se
endereçavam ao modelo de partilha defendido pelo atual governo para exploração de
futuros blocos na camada do pré-sal. Ele frisou que a experiência prática mostra que o
estado sabe muito bem arrecadar, mas se passar a estocar e a vender petróleo, por meio
de uma nova estatal (a PréSal), o risco de corrupção será enorme.
Fora do governo, ou dos habituais defensores do monopólio estatal, é difícil encontrar
quem aponte vantagens no modelo de partilha. Os mesmos objetivos seriam alcançados
pelo que está em vigor, sem submeter a Petrobras a um desafio que supera a capacidade
de qualquer companhia de petróleo existente hoje no mundo.
Na verdade, em todos os debates que presenciei sobre o pré-sal, só ouvi UM forte
argumento capaz de justificar o modelo de partilha.
No novo modelo, o governo teria domínio sobre o ritmo de entrada de produção dos
futuros campos — pois a lei proposta garantirá à estatal PréSal poder de veto nos
conselhos de administração dos consórcios vencedores das licitações, quaisquer que
sejam eles — enquanto no atual sistema esse critério é definido pelo concessionário. A
Noruega, porém, encontrou uma fórmula de conciliar isso em seu modelo, que não é o de
partilha.
Quanto aos demais fatores, o modelo de concessão ganha da partilha por léguas de
distância.
Os secretários estaduais, que se reúnem periodicamente em um fórum, estão
contrariados e discordam de algumas projeções no Plano Decenal de Expansão
2010/2019 elaborado pela Empresa de Planejamento de Energia (EPE). Eles elaboraram
um documento de 21 páginas e o encaminharam ao ministro Márcio Zimmermann. O
secretário estadual de energia do Rio Grande do Sul, e presidente desse fórum, Daniel
Andrade, teme que a oferta não acompanhe o crescimento esperado para a demanda já
em 2013, um ano em que o estado abrigará, por exemplo, jogos da Copa das
Confederações.
------------------------------------Correio Braziliense - 16/10/2010
Troar de trombetas
Antonio Machado
Bernanke avisa: a carga da 7ª Cavalaria dos dólares será acionada, talvez dia 3,
mas com cautela
Ainda não foi dessa vez que as trombetas soaram anunciando tempos de confronto e
ajuste de contas entre os EUA e a economia global. Do esperado, na verdade, ansiado,
pronunciamento de Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed), o juiz dos
destinos do dólar, sexta-feira de manhã, em Boston, ouviu-se a convicção de que, como
está, a meio pau, com desemprego de 10% e a deflação no calcanhar, os EUA não ficam.
Mas a 7ª Cavalaria da emissão maciça de dólares, o afrouxamento monetário chamado
de QE, quantitative easing, será acionada com cautela e orientada, segundo ele, pelos
riscos.
O intervalo entre o discurso e a ação indica a intenção de evitar o risco de surpresas e
descompassos entre os bancos e governos. É o mínimo: o dólar é o meio de pagamento
global e reserva de valor.
Embora os mercados já venham precificando a queda do dólar, com o aumento da
demanda por ativos reais (commodities, ouro, ações) e a corrida para moedas tidas
como mais seguras ao menos por ora, caso da brasileira, o governo Lula tem algum
tempo para pensar e agir.
O Fed deverá se mover na reunião de seu comitê monetário marcado para 3 de
novembro — portanto, depois das eleições no Brasil. Até lá, dá para segurar a onda
contra o real com medidas operacionais, como foi o aumento da alíquota do IOF sobre
aplicações externas em renda fixa, e avaliar a intensidade da ação do Fed sobre o dólar.
Bernanke expôs a situação da economia, não mandou recados para os países que
sustentam a moeda depreciada para baratear os custos de exportação, especialmente a
China, nem falou da meta do presidente Barack Obama de dobrá-la em quatro anos. Nas
entrelinhas, porém, disse tudo que os interessados precisavam ouvir: que, com juros do
overnight na casa de zero, não há mais o que o Fed possa fazer com os instrumentos
monetários convencionais para ativar a economia.
E aumentar os gastos fiscais? Não disse. Não se fala de corda em casa de enforcado, não
é? A dívida pública caminha para US$ 13,5 trilhões, o deficit fiscal, a 10% do PIB
(Produto Interno Bruto). E dia 2 tem eleições nos EUA.
Pelas pesquisas, o Partido Democrata do presidente Barack Obama perderá a maioria na
Câmara para os republicanos, hostis a aumento de impostos e hoje, mas não quando
governavam com George W. Bush, avessos a aumentar gastos públicos. Ao contrário,
querem cortes.
Ao mesmo tempo, o desemprego se mostra renitente e o que é visto pelo
comportamento da inflação não permite otimismo. A recessão no sentido clássico, de
encolhimento do produto, parece ter passado. A recuperação aos níveis anteriores a
2008, porém, está distante.
Choque para reanimar
Nos EUA, o Fed considera uma meta informal de inflação (abatida a variação de preços
de alimentos e energia) de 2%. Até setembro, em 12 meses, foi de 0,8%, o menor nível
desde 1961, quando Bernanke estava na escola. A re-inflação anunciada por ele mira os
tais 2%.
A retomada ou pelo consumo, que nos EUA corresponde a 70% do PIB, ou pelos
investimentos, improváveis com a capacidade instalada da indústria girando a 65%, ou
as exportações — que estão crescendo, mas abaixo das importações, num país com um
firme deficit comercial de mais de uma década —, não virá sem dura pancada por meio
de monetização da dívida pública. É o tal do QE: emissão de dólares para recomprar
títulos do Tesouro nos bancos.
Solução de alto risco
O Fed já fez isso depois do crash de 2008, retirando mais de US$ 1,5 trilhão de papéis,
inclusive privados, empoçados na banca. Não se atribui resultado muito efetivo a tal ação
— ou a economia não estaria tão mal. Bernanke sugeriu que estaria muito pior. Se for só
o que tem em mãos, no entanto, não poderia dizer outra coisa.
Os riscos são grandes, e ele os admite. É fácil fazer inflação. O difícil é domá-la depois,
como devolver pasta de dente ao tubo.
Depressão? Não com ele
No discurso em Boston, disse que “ainda” há espaço para "política acomodatícia". Mas
avisou que "as políticas não convencionais têm custos e limitações que devem ser
considerados ao se avaliar se e quando elas devam ser utilizadas". Pareceu recado ao
Congresso dos EUA, que algemou a opção fiscal, e a países que relutam apreciar a sua
moeda, como China, barrando o avanço das exportações dos EUA.
Os críticos dizem que Bernanke vai destruir o valor do dólar. Ele não negou os riscos,
num aviso talvez aos líderes do Grupo dos 20, que vão reunir-se em Seul 11 e 12 de
novembro. Estudioso da Grande Depressão, foi como se avisasse que não será ele,
enquanto puder, que levará os EUA de volta ao terror dos anos de 1930.
As sequelas no Brasil
O discurso de Bernanke foi aos EUA, mas no Brasil será lido como o espaço de manobra
para a política econômica do novo governo. Sob a ameaça do ajuste inflacionário dos
EUA, torna-se inevitável que o câmbio assuma o topo das prioridades e desencadeie
manifestações nacionalistas. Ou de defesa da autonomia da economia brasileira, que é o
jeito pragmático de enunciar o problema.
As medidas que virão serão no sentido de reprimir a afluência de dólares. No limite,
pode-se chegar até a centralização cambial. É isso que se têm ouvido. Falta falar das
consequências. Empresas induzidas pelo governo a se endividar em dólares, como
Petrobras, terão prejuízos. O deficit externo terá de encolher. Sem um choque fiscal,
nenhuma ação afirmativa sobre o câmbio será sustentável.
---------------------------------O Globo - 17/10/2010
Sem lógica
Míriam Leitão
No primeiro balanço do PAC, o trem-bala não constava, no décimo, ele estava no
primeiro lugar absorvendo metade dos investimentos previstos para o setor. Não foram
feitos os estudos detalhados necessários para que as construtoras possam calcular suas
ofertas, mas a licitação está prevista para o fim do ano. Já foi avaliado em R$18 bilhões,
agora em R$34 bi e pode ir a R$70 bi.
Os especialistas em logística não sabem como foi que, de repente, o TAV, Trem de Alta
Velocidade, virou a prioridade absoluta do país, e acham que pode custar o dobro do
calculado. Enquanto isso, o investimento no Ferroanel de São Paulo caiu de R$528
milhões, na previsão do primeiro balanço do PAC, para R$20 milhões, no décimo balanço.
O professor Paulo Fernando Fleury, do Instituto Ilos de Logística e Supply Chain, fez um
estudo sobre as estruturas viárias do país, uma pesquisa junto às grandes empresas
consumidoras de serviços logísticos, e uma análise do PAC. Viu o retrato de um país
perdido entre prioridades invertidas, decisões confusas das autoridades e muitos
gargalos.
- Uma pesquisa do Banco Mundial mostrou que 91% dos empresários brasileiros acham
que a logística é uma vantagem competitiva estratégica para as empresas. Num ranking
de desempenho logístico em 150 países, o Brasil ficou em 41º em desempenho logístico,
mas isso porque a privatização das comunicações melhorou o item infraestrutura. No
item "procedimentos alfandegários", o Brasil está em 82º. Existem dez órgãos para
carimbar e dar autorização na Alfândega. Em 2008, houve 121 dias em que pelo menos
uma das repartições que operam dentro dos portos estava em greve - disse Fleury.
A logística mistura uma série de fatores que vão desde o transporte, armazenamento,
gestão de estoques, organização de fluxos de insumos e de entrega do produto final de
uma empresa. O conceito era quase desconhecido há alguns anos, hoje está no coração
das empresas. Fleury conta que numa pesquisa de 1995 em nenhuma das grandes
empresas brasileiras havia um responsável por logística. Em 2003, uma pesquisa sobre o
nível hierárquico do principal executivo de logística nas grandes empresas brasileiras não
havia uma única empresa em que ele fosse presidente ou vice-presidente, mas em 42%
delas o responsável era diretor e em 49% era gerente sênior. Agora, em 23% delas o
principal executivo de logística está no nível de presidente ou vice-presidente da empresa
e em 37% está na diretoria. O setor privado tem investido cada vez mais em logística, o
setor público não consegue remover os gargalos, nem tornar eficiente a malha viária do
país.
A demanda por serviços logísticos vem crescendo de forma explosiva. As exportações
cresceram 18% ao ano desde 2001, a movimentação nos portos cresce a 7% ao ano.
Nas ferrovias, desde a privatização em 1997 houve um aumento de 102% de carga
transportada. Em 1997, havia 35 operadores logísticos, hoje existem 165 empresas que
fazem esse trabalho e o faturamento delas saiu de R$1 bilhão para R$39 bilhões. O custo
logístico no Brasil é de 11,6% do PIB, nos Estados Unidos é de 8,7%. No Brasil é 30%
maior.
A comparação com qualquer outro país continental mostra uma enorme disparidade da
escolha das formas de transportes, os chamados modais. No Brasil, 62,7% da carga vão
por via rodoviária, nos Estados Unidos, 27,7%. Aqui, só 21,7% são por via ferroviária, lá,
41,5%. No Brasil, 3,8% vão por dutos e lá, 19%. No aquaviário estão equivalentes,
11,7% e 11,5%. No aéreo, 0,1% aqui e 0,3% lá. Mas por aviões vai a carga mais
valiosa.
- Se aplicássemos no Brasil a proporção da matriz dos Estados Unidos, mantendo os
custos brasileiros, a economia seria de R$58 bilhões, 2% do PIB. E reduziríamos 35%
das emissões dos gases de efeito estufa no transporte. Há uma correlação direta entre
desempenho logístico e competitividade na exportação de produtos de alto valor
agregado - diz Fleury.
Olhada pelas autoridades de forma partida, a logística é o nervo exposto da falta de
competitividade brasileira. Um exemplo: os portos. Eles têm dificuldades, mas a pesquisa
mostrou que para os empresários o principal problema dos portos é a ineficiência do
acesso rodoviário até eles. Quando se pergunta às empresas quais são os principais
problemas de infraestrutura do país, só 27% registraram o item "poucos portos", mas
95% apontaram "estradas mal conservadas" e 86% apontaram "malha ferroviária
insuficiente".
O PAC não melhorou esse quadro, na opinião do especialista. Primeiro, pela falta de visão
integrada de logística; segundo, pela falta de sentido de algumas prioridades como a do
trem-bala.
- Nem foi citado no primeiro balanço do PAC e no décimo balanço aparece como a maior
prioridade nos investimentos logísticos do país. Nem foi estudado e já vai ser licitado.
Não faz sentido. Além disso, a comparação entre o PAC-1 e PAC-2 mostra sobreposição
de ações. Em um e outro, só nos portos há 17 ações repetidas, que estão no PAC-1 e
aparecem como coisa nova no PAC-2. Em rodovias e ferrovias há uma série de trechos
repetidos nos dois PACs - explica.
Isso sem falar no fato de que entre os balanços, as ações são subdivididas para
parecerem concluídas, e as obras são fracionadas para permitirem inaugurações
sucessivas. Com truques como esses e falta de visão sistêmica, a ineficiência logística
continua e vai drenando os esforços das empresas para serem mais competitivas.
--------------------------------O Globo - 16/10/2010
Novelo cambial
Míriam Leitão
A armadilha cambial em que o país está é complexa, difícil de desarmar e, pior, o Brasil
não controla fatos que nos afetam como a política monetária americana. No que o país
pode influir, o governo não quer mexer, que é o gasto público. Este ano o Brasil está
crescendo de 7% a 8% e vai ter um superávit fiscal igual ao do ano passado em que
cresceu zero. O sensato seria economizar mais.
Ontem, o presidente do Fed, banco central americano, Ben Bernanke, fez um aviso que
já era aguardado e foi esmiuçado pelos economistas. Ele disse o que se esperava: que
vai pôr muito mais dólares em circulação através da compra de títulos públicos. Os juros
estão perto de zero e o Fed tenta ampliar mais a emissão da moeda. Conclusão: se
haverá mais dólares em circulação, a moeda americana continuará se desvalorizando em
relação às outras.
Se o dólar continuar caindo e o real continuar subindo, mais cara fica a produção
nacional comparada com o produto importado, e mais caros ficam os produtos brasileiros
no exterior. Mas é o emissor da moeda de referência do comércio internacional que está
dizendo que tomará decisões que vão desvalorizar o dólar. Ele faz isso para tentar
reativar o consumo. Acontece que o consumidor americano estava numa bolha
provocada por um superendividamento e se queimou na crise. Perdeu a casa que tinha
ou ela ficou mais desvalorizada. Suas dívidas cresceram. Hoje paga contas e tenta
economizar. Nem juro zero o convence, e o banco central americano está tentando
aumentar a oferta de crédito para esse desconfiado consumidor.
Essa é uma parte da moeda. Há outras. Países desenvolvidos estão crescendo pouco e
assim devem ficar. Para salvar os bancos, quando os consumidores não puderam pagar
as contas, eles aumentaram os gastos públicos. A dívida deles dobrou como proporção
do PIB, os déficits estão em níveis recordes. As empresas desconfiadas não investem e
por isso não empregam. Aumenta o medo do consumidor de gastar mais. Ao desvalorizar
o dólar os Estados Unidos tentam também aumentar a possibilidade de exportar. E para
quem? Para os países onde há crescimento.
Conversei no programa Espaço Aberto desta semana com dois economistas que foram à
reunião do FMI: Ilan Goldfajn, economista-chefe do Itaú-Unibanco, e Fernando Rocha,
sócio da JGP Gestão de Recursos. Fernando disse que ficou claro que o FMI não tem mais
poder para forçar políticas que corrijam as distorções. Ilan disse que o efeito colateral da
política monetária expansionista dos países ricos é jogar um fluxo excessivo de dólares
nos países emergentes:
- Pode levar meses até o dólar se estabilizar. O fluxo vai aumentar para os emergentes,
as bolsas podem subir, mas o dólar continuará baixo. Nesse intervalo, os emergentes
começam a tentar se proteger com medidas unilaterais como a que o Brasil tomou.
O excesso de dinheiro vem para os emergentes por vários motivos, diz Fernando:
- Vem pelo diferencial de juros, vem atrás de crescimento.
Os dois entrevistados acham que há decisões que o Brasil pode tomar para atacar as
causas. A elevação do IOF para as aplicações em títulos do governo foi um ataque ao
efeito. A medida que acabou não tendo efeito prático. O que funcionaria seria reduzir os
gastos, abrir espaço para derrubar os juros e assim diminuir o fluxo que só vem para
aproveitar esse juro alto. A queda dos gastos tem outro efeito prático.
- O Brasil está vivendo um boom de consumo, o que é saudável porque vem da
ampliação da classe média; está vivendo um boom de investimento, o que é saudável
porque é o país investindo mais. Não é bom neste momento ter um boom de gasto do
governo. É muito boom para um país só - disse Ilan Goldfajn.
Fernando Rocha lembra que este ano o governo está arrecadando mais. Era a hora certa
para elevar o superávit primário.
- As receitas estão crescendo 12% a 13% e o governo vai ter este ano o mesmo
superávit primário que teve no ano passado, só que agora o país está crescendo entre
7,5% a 8% e no ano passado estava em zero - diz.
Na verdade, o número pode ser até pior. Ilan acha que o superávit que já foi 3,5% a 4%
no atual governo, está em 1,5%, quando são excluídas as receitas apenas contábeis.
Com esse crescimento, alimentado em parte pelos gastos do governo, o país está
ampliando o déficit em transações correntes. Por isso acaba precisando daquilo que tenta
barrar.
- Hoje se o governo tiver muito sucesso em evitar o fluxo de capitais especulativos, ele
terá problemas de financiar o déficit. Só com investimento direto não dá - diz Ilan.
O dólar baixo cria outro curioso dilema. O governo gostaria muito que o câmbio subisse,
mas se isso acontecesse a inflação subiria também. Hoje, com altas de preços de
alimentos, por causa da seca, e com a pressão da demanda crescente, a inflação só não
sobe por causa dos juros altos e do dólar em queda.
Para complicar a situação, a China impede que a sua moeda se valorize como as outras
moedas de países emergentes como o real, o rand, o dólar australiano, entre outras.
Resultado: os produtos chineses ficam cada vez mais baratos.
O país está enrolado num novelo cambial. Para começar a desenrolar só cortando gastos
públicos. No ano passado os gastos foram ampliados para fazer uma política anticíclica
na crise, agora era hora de manter a política anticíclica fazendo o oposto: economizando
na abundância. Mas a gastança vai continuar.
---------------------------------
Correio Braziliense - 18/10/2010
O protecionismo vem aí?
Liana Verdini
Em um momento de contas desequilibradas, quem vai querer ficar com o deficit
na balança comercial?
A profunda depressão do dólar, que já faz vítimas em todo o mundo pela falta de impulso
à atividade econômica nas principais economias do planeta, começa a despertar as
nações para uma reação perigosa: a proteção de seus mercados internos contra produtos
baratos fabricados em países emergentes.
Aqui e ali ouve-se autoridades insinuando que estão sendo feitos estudos para a adoção
de mecanismos capazes de encarecer essas mercadorias e salvaguardar as indústrias
locais, que geram empregos para os cidadãos compatriotas e pagam impostos
engordando os caixas dos governos.
O principal alvo dessas ameaças, claro, é a China, que insiste em manter sua moeda, o
iuan, artificialmente desvalorizado em relação ao dólar, enquanto divisas das mais
diferentes nações — Brasil incluído — sofrem com o aumento de suas cotações e o
encarecimento de seus produtos.
Com o dinheiro curto, não há fidelidade que resista e o resultado é a perda de
tradicionais parceiros no comércio exterior, com a importação mudando de procedência
com o objetivo de economizar alguns dólares na balança comercial.
O fenômeno torna-se especialmente preocupante quando se toma conhecimento de que
na maior economia do mundo, na qual sempre triunfou a defesa do livre-comércio, a
própria população agora acredita que toda essa liberdade atrapalhou a economia norteamericana. Pesquisa do Wall Street Journal e da NBC News mostra que 53% da
população dos Estados Unidos afirmam que os acordos de livre-comércio prejudicaram o
país, contra 46% que pensavam o mesmo há três anos e 32%, em 1999.
O clamor por proteção também começa a ganhar força no Brasil. Na semana passada, o
presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que participava da reunião anual do
Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, nos Estados Unidos, afirmou que o
Brasil vai tomar providências para proteger sua economia. “Não vamos aceitar assumir
desequilíbrios para tentar ajudar o reequilíbrio de outros países”, declarou ele.
Observação e críticas
Na sexta-feira, foi a vez de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitir que o governo
acompanha de perto o comportamento da moeda norte-americana e que novas medidas
podem ser adotadas para evitar a supervalorização do real e a perda de espaço no
comércio internacional. “Nós temos de observar. Não vamos nos precipitar. Temos de ver
se não dá uma acalmada espontânea. Senão tomaremos mais medidas”, disse ele.
Era uma resposta aos empresários, que já iniciaram uma campanha pedindo a
intervenção do governo no mercado. De volta ao comando da Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf — de onde se afastou para concorrer ao governo do
estado —, afirmou que a equipe econômica é “lenta demais” e que falta é “coragem”
para encarar o problema das importações, que está afetando a competitividade da
indústria nacional. “Quando há indícios de prática de dumping, de subfaturamento, de
produtos piratas, é preciso agir depressa. Se esperar para comprovar tudo, aí passa um
ano e o estrago está feito”, disse.
Controle pela importação
O fato é que as mercadorias importadas estão ajudando a manter os índices de inflação
sob controle. Excetuando os alimentos, cujos preços flutuam ao sabor das condições
climáticas no Brasil e no mundo, os demais produtos andam se comportando como
nunca, graças à pressão do que vem do exterior.
No fundo, o governo não está achando ruim esse freio puxado pelos importados, que tem
ajudado a jogar a inflação mais para perto do centro da meta, de 4,5% em 2010.
No entanto, a entrada de dólares para aplicação financeira já incomoda as autoridades
brasileiras há tempos. Tanto que passou a taxar o investimento estrangeiro em renda
fixa com o IOF em 2% no ano passado e mais recentemente dobrou a alíquota desse
imposto.
A enxurrada de moeda norte-americana ingressando no país não está custando pouco
aos cofres públicos. Pelos cálculos de alguns economistas, são R$ 45 bilhões ao ano, ou
1,5% do Produto Interno Bruto (PIB).
Isso porque o Banco Central compra dólares no mercado para impedir uma queda ainda
maior da cotação e é obrigado a aplicar esses recursos no exterior — principalmente em
títulos do Tesouro dos EUA, que estão rendendo taxas próximas de zero, enquanto no
Brasil a taxa básica, a Selic, é de 10,75% ao ano.
Sem perspectiva de melhora
Apesar de todo esse estrago, não há a menor perspectiva de que a situação melhorará a
curto prazo. Pelo contrário. O presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos
EUA), Ben Bernanke, já defende a adoção de mais medidas de estímulo à economia, uma
vez que o desemprego continua elevado, afetando quase 15 milhões de norteamericanos, e a debilidade dos indicadores persiste.
A questão é que, com isso, mais dólares encharcarão a economia mundial, reforçando
ainda mais a ciranda em que mergulhamos.
E até que a economia dos Estados Unidos se fortaleça para exercer a liderança no
comércio internacional, as ameaças de imposição de barreiras pelos países parecem cada
vez mais efetivas. Afinal, em um momento de contas desequilibradas, quem vai querer
ficar com o deficit na balança comercial?
Liana Verdini é repórter de Economia
------------------------------Correio Braziliense - 17/10/2010
Unicamp já eleita
Antonio Machado
Com Dilma ou Serra, ambos ex-Unicamp, real forte e juro alto não terão vez.
Diferença é no fiscal
Se a indefinição virou a marca do placar entre José Serra e Dilma Rousseff, na questão
cambial, ganhe um ou o outro, é absolutamente certo que haverá dura resistência na
guerra entre a valorização do real, que ambos repelem, e a corrosão do dólar — o lance
arriscado do governo de Barack Obama para tentar reverter a sorte dos EUA.
Os interesses políticos que os circundam são rivais, mas eles se aproximam pelas crenças
econômicas. Dilma e Serra são egressos da Universidade de Campinas (Unicamp), de
cepa desenvolvimentista.
Ela, aluna; ele, professor. Eles admiram e costumam ouvir dois expoentes
“unicampistas”: o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, de quem Dilma foi aluna, e o
ex-secretário de Política Econômica no governo Sarney Luiz Gonzaga Belluzzo — cogitado
por vezes pelo presidente Lula a substituir Henrique Meirelles no Banco Central.
Coutinho e Belluzzo — presidente licenciado do Palmeiras, pois se restabelece de cirurgia
—, e os ícones de uma geração anterior da Unicamp João Manoel Cardoso de Mello e
Maria da Conceição Tavares, que influenciaram a formação de todos eles, partilham uma
visão de desenvolvimento nunca assimilada pelos governos. Pode ser agora.
Se não fosse pela recidiva da crise mundial, agora pelo viés da desvalorização induzida
do dólar, Dilma e Serra fariam diferença em relação à política econômica atual pela
aversão ao controle da inflação basicamente pelo instrumento dos juros. E mais ainda
com a estabilidade só alcançada à custa de taxas elevadas.
Com o lento deslizar do câmbio nos últimos anos, acentuado pelo que o ministro Guido
Mantega — ele próprio filiado à corrente da Unicamp, embora formado pela FGV de São
Paulo —, chamou de guerra cambial, a questão dos juros ganhou relevância total.
Estudo do economista Carlos Antonio Rocca, do grupo do então czar da economia nos
anos 1970 Antonio Delfim Netto, influente junto a Lula, já concluíra que a taxa de juros,
mais que tudo, condiciona a direção do real. André Nassif, do BNDES, concluiu a mesma
coisa estudando o diferencial nos últimos 11 anos até fevereiro passado entre os juros
internos e externos. Ele lembra em artigo no Valor Econômico a chamada “trindade
impossível” — estabilidade cambial, inflação estável e liberdade de movimento de
capitais.
Enrolação dos “ismos”...
Dos três objetivos, só dois são possíveis por vez. Tal premissa sustenta o modelo de
Índia e China, países líderes do crescimento econômico acelerado, e sem marolas, mais
duradouro hoje em dia.
Enquanto a bonança global vinha com vento a favor, no Brasil não se deu bola a tais
discussões, entendidas como acadêmicas. Agora, não mais. O problema é como fazer, já
que há mais de uma maneira.
É aí que Dilma e Serra divergem. O “neodesenvolvimentismo”, como Mantega batizou a
política econômica do segundo mandato de Lula — e Dilma e Serra se veem desse modo
—, é expressão tão vazia quanto o seu oposto, o “neoliberalismo”, se faltar o que os
defina.
O pressuposto é que o segundo prioriza as soluções pelo mercado e o primeiro, as
induzidas pelo Estado. Entre ambas, se inserem taxa de juros, câmbio e tratamento
fiscal. Até aí não se disse nada.
... e questões práticas
Acima dos rótulos políticos há questões práticas. A principal é o que fazer para desarmar
a Selic sem inflação como sequela. Outra é o que priorizar: crescimento movido por
investimento, que amplia a oferta de bens e serviços, ou pelo consumo de famílias,
vitaminado por crédito e gasto público. Até agora, os dois crescem juntos.
Para a frente não vai dar. Menor pressão da demanda ajudará o BC a relaxar a Selic (ou
ao menos não elevá-la em 2011), abrindo espaço para o investimento, além de murchar
o deficit externo, a condição para o país dar um gelo no capital estrangeiro de curto
prazo.
Conflito é de digestão
Tais questões exigem decisões rápidas, embora a posse seja em 1º de janeiro. A agenda
premente está aí, encimada pelo câmbio, que é contraface dos juros — por sua vez, a
expressão do conflito entre os gastos públicos e privados. Essa disputa é menos
ideológica que digestiva: a economia não digere tantos impulsos para crescer.
Não há solução para o câmbio sem considerar os juros, sem atentar para a equação por
inteiro. Dilma e Serra disfarçam as intenções, embora conheçam as limitações da
economia. O silêncio parece mais revelador que suas promessas. Vai haver aperto fiscal,
se choque ou não, não importa. É o jeito de tirar o BC de cena e resolver o binômio jurocâmbio sem crise. Resolvido isso, o resto se acerta.
Armadilhas ao sucessor
O espaço entre 1º de novembro e 1º de janeiro será mais ou menos confortável para o
presidente eleito dependendo do Federal Reserve e do Congresso brasileiro. Ambas as
instâncias moldarão os passos iniciais da nova política econômica. Se o dólar desabar, o
modelo será um. Se cair com moderação, dá para reformar o que está aí.
Já a premissa fiscal está capenga. Como diz o economista Fernando Montero, o BC
moldou a trajetória da Selic supondo que a Fazenda entregará superavit primário de
verdade em 2011, ao nível de 3,3% do PIB, não maquilado como o deste ano. A lei
orçamentária que está no Congresso projeta 3,22%, não 3,3%, e admite abatimento de
até 0,82% do PIB por conta de investimentos. Depois da falseta do dólar, essa é a
segunda armadilha no caminho do sucessor de Lula.
----------------------------Valor Econômico - 18/10/2010
Juros e inflação movimentam a semana
Eduardo Campos
A semana tem carregada agenda de indicadores e entre os destaques temos a decisão do
Comitê de Política Monetária (Copom) e a variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo 15 (IPCA-15) de outubro, que pode confirmar a aceleração da inflação corrente.
Para o encontro do colegiado do Banco Central (BC), o consenso, conforme captou
pesquisa feita pelo Valor com 30 instituições, é de estabilidade do juro básico em
10,75%. Com isso, a atenção fica voltada ao breve comunicado apresentado junto com a
decisão e à ata da reunião, que será apresenta na próxima semana.
O economista-chefe da Prosper Corretora, Eduardo Velho, aguarda a ata da Copom para
ver como o Banco Central avalia o cenário externo e a força da demanda doméstica.
Juros caíram captando mudança no quadro eleitoral
Na opinião do especialista, desde a reunião de 1º de setembro, a influência da cena
externa vem se mostrando menos favorável à inflação. Afinal de contas, a percepção de
juros zero no mundo desenvolvido promove uma derrocada no preço do dólar e uma
disparada no preço das commodities. O índice CRB, que acompanha o comportamento de
uma cesta de matérias-primas, subiu mais de 10% nesse período.
Ainda de acordo com Velho, conforme o Federal Reserve (Fed), banco central americano,
acena com mais estímulos, mais dólares tendem a entrar no mercado brasileiro. Parte
deles tem caráter especulativo, mas fatia desses dólares também fomenta investimentos
e demanda.
Pelo lado doméstico, o economista vê a atividade firme e um sinal disso foi dado semana
passada com o crescimento de 2% das vendas no varejo em agosto.
Outro ponto que traz certo desconforto é o comportamento da inflação. Velho lembra que
uma retomada nos preços era esperada, mas que a inflação oscila acima dos 0,30% a
0,40% previstos. O IPCA-15 que sai na quarta-feira pode confirmar isso, já que as
previsões estão entre 0,52% e 0,60%.
Ainda no capítulo inflação, as expectativas para 2010 e 2011 pioraram no intervalo entre
as reuniões. Considerando o boletim Focus de 27 de agosto, e a sondagem de 8 de
outubro (a mais recente) o IPCA estimado para o ano subiu de 5,07% para 5,15%. O
prognóstico para 2011 passou de 4,87% para 4,98% e a inflação em 12 meses subiu a
5,16% de 4,99%. Tal piora foi acompanhada por um ajuste de 0,25 ponto percentual na
estimativa de Selic, que passou de 11,50% para 11,75% no fechamento de 2011.
Tais variações não são alarmantes, mas o que preocupa, de fato, é a permanência da
expectativa descolada da meta. Segundo Velho, quanto mais tempo o BC demora a
atuar, mais difícil é conseguir a convergência posteriormente.
Na visão do especialista, esse comportamento das expectativas somado à valorização das
commodities e à demanda interna firme pode levar o mercado a projetar uma alta de
juros já na primeira reunião de 2011. Pelo calendário oficial, o primeiro encontro do
Copom será dias 18 e 19 de janeiro.
É claro que o resultado das eleições pode ter influência sobre as percepções do mercado,
mas o fato é que entrar o ano com um descolamento de meio ponto percentual entre
expectativas e meta não é boa coisa. Segundo Velho, com ajuste fiscal ou não, é algo
que requer atenção.
Os gráficos abaixo mostram que o dólar oscilou bastante, mas fechou a semana estável.
Já os juros futuros caíram com firmeza captando a alteração no quadro eleitoral.
Eduardo Campos é repórter
-----------------------------------
ECONOMIA E OUTRAS NOTÍCIAS
ISTOÉ Dinheiro - 16/10/2010
Água, o petróleo do século XXI
A cada ano, o líquido se torna mais escasso - e mais caro. Por isso, as empresas
começam a tratá-lo como um tema estratégico. Saiba como elas administram
esse valioso insumo
Por Rosenildo Gomes Ferreira
Durante muito tempo, a expressão escassez hídrica se limitou ao vocabulário de
ambientalistas. Afinal, a maior parte das pessoas se recusava até mesmo a imaginar que
a água, que cobre dois terços do planeta, poderia algum dia se tornar tão rara quanto o
petróleo. Mas essa possibilidade existe.
Um estudo conjunto das universidades americanas de Nova York e de Winsconsin dá a
dimensão do problema. Os países desenvolvidos e emergentes gastam US$ 500 bilhões
por ano para despoluir rios e córregos.
Nesse contexto, não será surpresa se, num futuro bem próximo, esse líquido assumir o
mesmo papel representado atualmente pelo petróleo. As empresas, pelo menos,
acordaram para isso e a questão já faz parte do planejamento estratégico de corporações
de grande porte.
“Cuidar da água se tornou sinônimo de mais dinheiro em caixa para as empresas. E, no
longo prazo, pode garantir até mesmo a sobrevivência dos negócios”, destaca o
engenheiro Diogo de Almeida, dono da consultoria paulistana Sharewater. Afinal, desde a
confecção de roupas, passando pela fabricação de aço e a montagem de um automóvel,
tudo depende desse elemento.
Nos últimos cinco anos, a brasileira Ambev conseguiu reduzir em 12% o gasto de água
para cada litro de cerveja produzida. O montante caiu de 4,37 litros, em 2004, para 3,9
litros no ano passado.
A empresa atingiu essa meta com programas de reúso da água que seria desperdiçada
no processo de produção. Todos os líquidos são tratados e retornam para as linhas
industriais da companhia.
A Ambev não revela o impacto disso no seu caixa. Mas fica evidente que não se trata de
uma cifra pequena. Os 2,4 bilhões de litros economizados são suficientes para abastecer
uma cidade de 400 mil habitantes durante um mês.
“A gestão da água é uma das prioridades da companhia na área ambiental”, diz Sandro
Bassili, diretor de assuntos socio-ambientais da Ambev. “Tanto que está programado um
desembolso de R$ 40 milhões em ações ambientais, cujo destaque é a questão hídrica”,
completa. Até 2012 a Ambev pretende reduzir o consumo em mais 11%, para 3,5 litros.
Apesar de o viés ecológico ter assumido um lugar cada vez maior nos discursos dos
executivos, o que move a mudança de postura nessa área são os mandamentos da
cartilha capitalista.
No setor hoteleiro, a água responde pela segunda maior fonte de custos fixos. Perde
apenas para a energia. Para reduzir as despesas, a direção da Accor Hospitality,
controlada pelo grupo francês Accor, iniciou uma completa auditoria nas unidades da
rede.
As medidas incluíram desde o monitoramento e a eliminação de fontes de desperdício
(como vazamentos) até a instalação de equipamentos para captação de água da chuva.
Por último, foram instalados redutores de vazão em chuveiros, torneiras e caixas de
descarga.
Um desembolso estimado em R$ 250 mil para um hotel com 100 quartos. Nas unidades
em que as medidas foram implantadas, o consumo caiu de 200 litros por hóspede/dia
para 120 litros.
“Trata-se de um gasto que pode ser recuperado em apenas três anos”, destaca Odair
Roque, diretor de implantação da divisão Accor Hospitality. Por conta disso, a empresa
tornou obrigatória a inclusão desses equipamentos nos projetos para abertura de novos
empreendimentos ou na conversão de hotéis existentes a uma de suas bandeiras.
Apesar dos óbvios benefícios, Roque diz que enfrenta dificuldade para convencer os
donos de hotéis que usam a bandeira da rede a adotar medidas semelhantes. “Muitos
ainda enxergam esse investimento apenas como uma despesa”, lamenta o executivo.
Isso, segundo o consultor Almeida, da Sharewater, acontece porque a água ainda é
muito barata no Brasil. O custo de captação em rios ou poços artesianos, diz ele, varia de
R$ 0,01 até R$ 1,50 por metro cúbico (mil litros). Isso, no entanto, não explica a história
toda.
Pelo lado estratégico, a interrupção do fornecimento pode fazer, por exemplo, com que a
General Motors (GM) pare a área de pintura. O setor responde por 54% de todo o
consumo da fábrica situada em São Caetano do Sul (SP).
Nos últimos anos, essa unidade recebeu inúmeros investimentos visando reduzir a
dependência de fontes externas de abastecimento. Hoje, o Departamento de Água e
Esgotos (DAE) supre 30% da demanda da montadora.
Além de estações de tratamento de efluentes, toda água que entra no complexo é
reprocessada. Nem mesmo a água da chuva escapa. Ela corre por dutos e segue por
galerias onde é tratada.
“Os investimentos nos últimos 20 anos permitiram que a GM hoje economize US$ 50 no
custo de fabricação de cada veículo”, diz Cláudio Eboli, diretor da GM. E isso vai se
intensificar.
Como a produção de cada unidade absorve 3,4 m³ de água, o equivalente à metade do
consumo de uma pessoa por um mês, a ambição da montadora é suprir suas próprias
necessidades sem precisar recorrer a empresas de abastecimento. “Vamos começar esse
processo já em 2011”, adianta o executivo, sem revelar, no entanto, as plantas nas quais
isso será feito.
Poucas corporações, porém, foram tão ambiciosas nesse campo, quanto a Usiminas. No
período 1995-2008 a siderúrgica mineira desembolsou US$ 130 milhões na construção
de Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) e em sistemas de recirculação de água.
Por conta disso, as plantas situadas em Ipatinga (MG) e Cubatão (SP) reaproveitam
95,4% da água que entra no sistema.
“Só não chegamos a 100% porque uma parte evapora durante o processo produtivo”, diz
Ricardo Salgado, superintendente de sustentabilidade da Usiminas. Para se ter uma
ideia, os 4,6% que evaporaram em 2009 representam 62,3 milhões de m³ (62,3 bilhões
de litros).
O suficiente para abastecer uma cidade com população de 860 mil pessoas no mesmo
período. E apesar de não pagar hoje pela água que obtém em poços artesianos, a direção
da Usiminas mantém um controle rígido.
“Em todos os projetos de expansão das fábricas, a gestão de recursos hídricos é colocada
em primeiro plano”, conta ele. É bom mesmo porque a água gratuita está com os dias
contados. Desde 2003, a Agência Nacional de Água (ANA) iniciou gestões para a
cobrança pela captação em rios e lagoas.
Esse mecanismo acaba de ser implantado no rio São Francisco e a expectativa é
arrecadar R$ 10 milhões até o final do ano. Isso já acontece, desde 2003, nas cidades
banhadas pelo rio Paraíba do Sul, no eixo Minas-Rio-São Paulo, e na bacia dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (em Minas Gerai e São Paulo).
Mas a tarifa de cerca de R$ 0,01 por m³ cobrada pela ANA, diz o dono da Sharewater,
não seria, ainda, um elemento capaz de alterar sensivelmente a postura de grandes
empresas. Afinal, o gasto adicional pode ser repassado ao preço final do produto ou
serviço.
“Na realidade, o que move as empresas é o temor da escassez desse produto e como
isso poderá afetar seus negócios no futuro próximo”, destaca ele. Com isso em mente, a
direção da americana PepsiCo. lançou um programa global para redução de consumo em
suas fábricas.
As ações incluem ainda projetos de cunho estrutural, como a melhora da qualidade no
abastecimento de água para três milhões de pessoas no Brasil, na China, Gana e Índia.
Pelo lado empresarial, no entanto, a divisão de salgadinhos da companhia na América do
Sul já mostrou resultados.
Completou neste ano a meta de redução, de 25% do consumo de água, prevista para
2015. Fez isso por meio de medidas simples e outras que exigiram grandes desembolsos.
“Uma delas foi a instalação de um aerador no sistema de jateamento de água do
cortador de batatas.
Custou R$ 10 por peça e garantiu uma economia mensal de cinco mil metros cúbicos de
água nas 29 plantas da região”, conta Jorge Tarasuk, vice-presidente de operações da
divisão de alimentos da PepsiCo. para a América do Sul.
Na Colômbia, contudo, foi preciso gastar US$ 3 milhões na implantação de um
equipamento de raios ultravioleta para o tratamento de esgoto. Dessa forma, a unidade
atingiu um índice de 70% no reaproveitamento da água. “O tempo de tomar medidas
cosméticas com objetivo de marketing ficou para trás”, opina o dono da Sharewater.
----------------------------------
O Estado de S.Paulo - 16/10/2010
Manter reserva internacional custa R$ 45 bi
O forte ingresso de dólares no Brasil levou o Banco Central a acelerar a compra da
moeda, o que fez as reservas internacionais subirem 17,2% no ano, para US$ 280,1
bilhões. Estimativas de mercado dão conta de que as reservas custarão cerca de R$ 45
bilhões ao contribuinte brasileiro em 2010, superando o total de investimentos públicos
previstos para o período, o que divide analistas sobre a estratégia do BC
Reservas externas custam R$ 45 bilhões ao País
Manutenção das reservas internacionais superiores a US$ 280 bilhões custa ao
contribuinte brasileiro o equivalente a 1,5% do PIB
Leandro Modé, de O Estado de S. Paulo
SÃO PAULO
A manutenção das reservas internacionais superiores a US$ 280 bilhões custa ao
contribuinte brasileiro cerca de R$ 45 bilhões ao ano (o equivalente a 1,5% do Produto
Interno Bruto), segundo estimativas de economistas como o ex-presidente do Banco
Central (BC) Affonso Celso Pastore e o ex-diretor da instituição Alexandre Schwartsman.
O valor supera o total de investimentos públicos previstos para 2010. No primeiro
semestre, o governo investiu um recorde de R$ 20,6 bilhões. Se mantiver o ritmo (o que
é difícil, porque a lei eleitoral veta desembolsos próximos do pleito), o total no ano
chegará a R$ 41,2 bilhões.
As reservas custam caro porque o BC aplica a maior parte dos recursos em títulos
públicos de países desenvolvidos, notadamente dos Estados Unidos, que hoje em dia
pagam taxas de juros próximas de zero. Como o Brasil não tem excedente orçamentário
para adquirir os dólares, o governo o faz por meio de endividamento. Só que a taxa
básica brasileira está em 10,75% ao ano. A diferença entre o juro externo e interno é o
custo das reservas.
Sexta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o Brasil caminha
rapidamente para chegar a reservas de US$ 300 bilhões. "Nós temos um custo de fato,
mas é melhor pagar este custo do que ter uma economia mais vulnerável", disse ele em
entrevista à GloboNews.
O forte ingresso de dólares nos últimos meses levou o BC a acelerar a compra da moeda,
o que aumentou rapidamente as reservas: de US$ 239 bilhões no último dia útil de 2009
para US$ 280,5 bilhões quinta-feira, alta de 17,4%. Como é uma operação cara, provoca
intenso debate entre analistas. Há duas semanas, o economista-chefe do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Olivier Blanchard, afirmou que se trata de uma "estratégia
que leva ao próprio fracasso".
Se esse custo fosse analisado de forma isolada, ou seja, sem levar em conta outros
fatores, a maioria dos economistas tenderia a concordar com Blanchard. Eles
argumentam que os cerca de US$ 200 bilhões que o Brasil tinha no auge da pior crise
mundial desde os anos 30 foram suficientes para blindar a economia.
No entanto, a "guerra cambial" global, como definiu Mantega, alterou a discussão e levou
até mesmo críticos da estratégia a concordar com o ministro. "Para tratar da questão das
reservas, é preciso abrir a janela para o que está acontecendo no mundo", pontua
Pastore. "Não estamos em um mundo normal. É uma nova fase na sequência de eventos
da crise internacional."
Essa fase caracteriza-se por dois fatores principais. O primeiro é a fraqueza da economia
dos países desenvolvidos, que veem nas exportações uma alavanca para retomar o
crescimento. Por isso, muitos têm procurado manter suas moedas desvalorizadas.
O segundo ponto é a farta liquidez global, que decorre da política monetária frouxa
adotada das nações desenvolvidas. Em outras palavras, há dinheiro sobrando, a despeito
da própria crise. E esse dinheiro migra, principalmente, para os emergentes.
-------------------------------Valor Econômico - 18/10/2010
Fazenda negocia com Banco Central
mudanças na BM&F
Restrição na BM&F pode sair nesta semana
Claudia Safatle | De Brasília
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, quer limitar a possibilidade de alavancagem das
empresas, bancos e investidores nos contratos de derivativos na BM&F e pode anunciar
medidas com esse objetivo nesta semana. Mantega está discutindo com o Banco Central
a forma de operacionalizar essa restrição. Uma hipótese seria impor barreiras nas
aplicações dos investidores no mercado futuro através das margens de garantia.
As margens representam um valor que os investidores têm que depositar na BM&F para
garantir o pagamento dos ajustes diários dos preços do mercado futuro. Todo dia pela
manhã eles pagam o que perderam ou recebem o que ganharam no dia anterior. A bolsa
calcula quanto o ativo pode variar e estabelece um valor que possa ser suficiente para
pagar alguns dias de ajuste - a BM&F submete ao BC o cálculo técnico, que representa
uma fração do contrato de câmbio de compra ou venda.
O governo pode determinar à BM&F que duplique ou triplique as garantias, o que seria
uma medida ousada de intervenção na bolsa e que elevaria o custo das operações dos
estrangeiros para especular contra a moeda local. As posições em aberto no mercado de
câmbio subiram de US$ 6 bilhões no começo do mês para US$ 11 bilhões na semana
passada, sendo que os estrangeiros estão vendidos em dólar e os bancos locais,
comprados.
Há duas semanas, técnicos do governo esmiúçam quais podem ser as iniciativas para
desestimular as operações que consideram "especulativas" na BM&F e que estão
contribuindo para a valorização do real frente ao dólar. Embora a moeda americana
esteja em franca desvalorização em relação às principais divisas do mundo, o ministro da
Fazenda está convencido de que há espaços a vedar por onde a apreciação do real se
acentua.
Nos últimos dias, o governo retomou os estudos sobre a tributação das garantias pelo
IOF, mas concluiu que, juridicamente, não há como fazer dado que o universo do
imposto é definido pela Constituição de 1988. Há alguns anos, quando o real também
estava sob intensa valorização, o governo chegou a cogitar a criação de uma
Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide) sobre as garantias, mas
engavetou a ideia. Agora, o alvo são os contratos de dólar na BM&F. Mantega
exemplificou, em entrevista à Globo News, o que quer impedir: que os investidores
estrangeiros com um depósito de margem de US$ 10 milhões fechem um contrato de
derivativo de US$ 100 milhões (alavancagem de até dez vezes).
Com as compras de dólares pelo Tesouro Nacional este ano, as reservas cambiais já
somam cerca de US$ 300 bilhões (US$ 280 bilhões comprados pelo BC e quase US$ 20
bilhões adquiridos pelo Tesouro). Ainda assim, e com um custo estimado de
carregamento das reservas na casa dos R$ 30 bilhões ao ano, o governo acha que deve
prosseguir acumulando dólares. Agora a acumulação não mais se justifica como um
seguro do país contra crises, mas se mostra necessária para segurar a apreciação do
real.