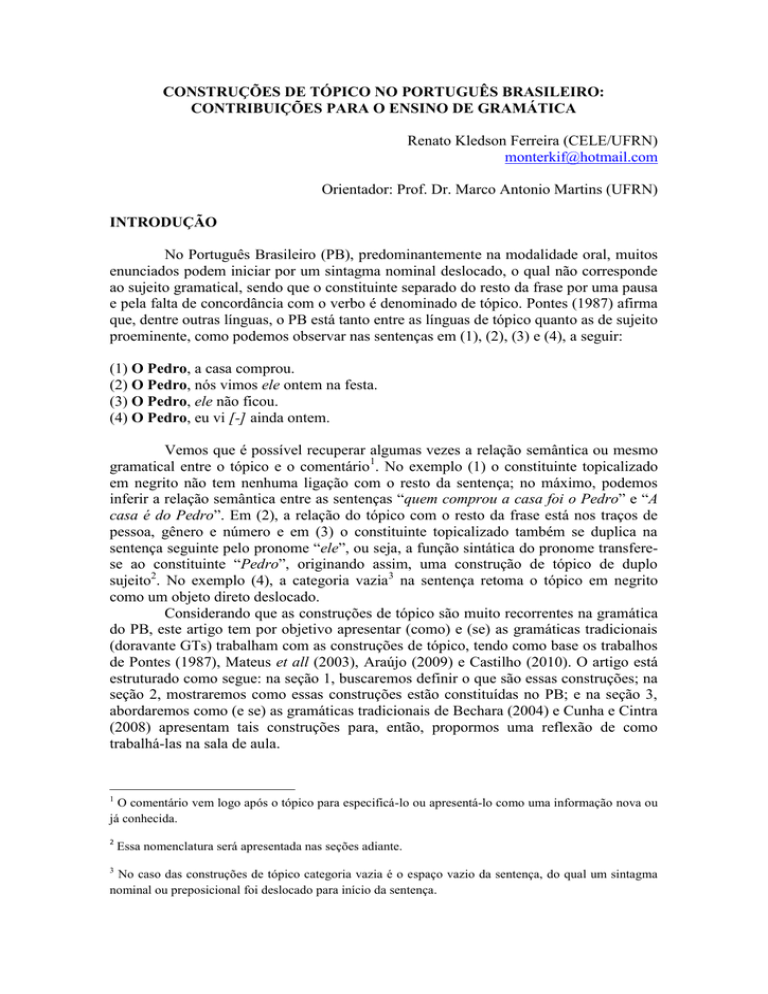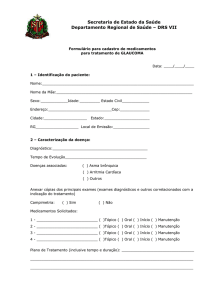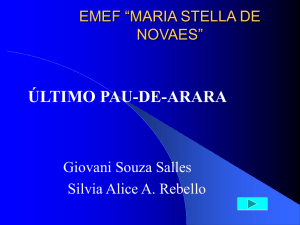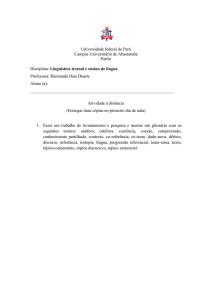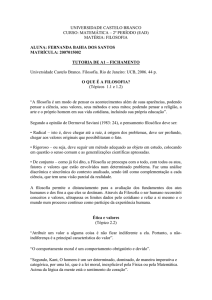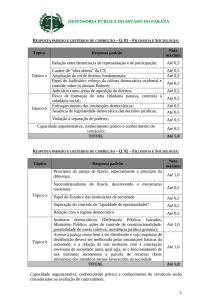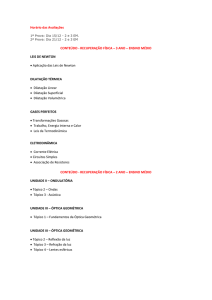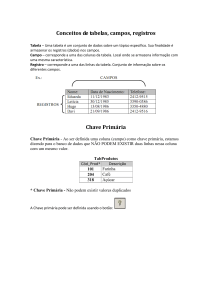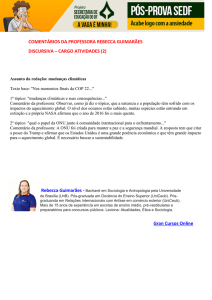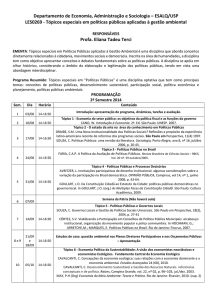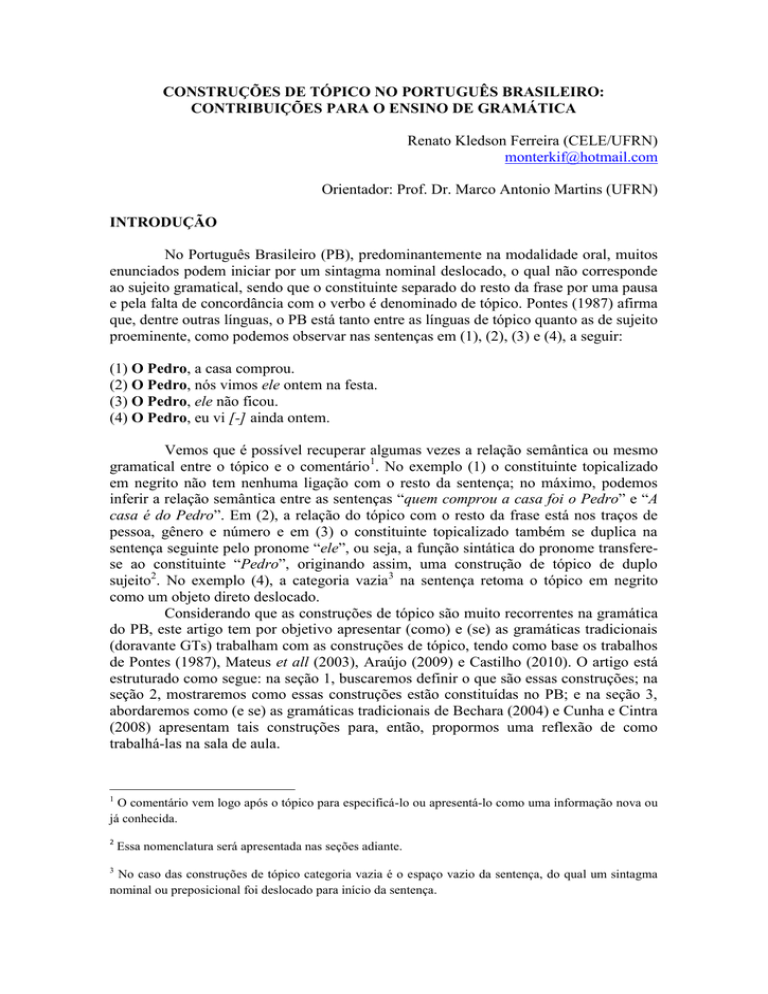
CONSTRUÇÕES DE TÓPICO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO:
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA
Renato Kledson Ferreira (CELE/UFRN)
[email protected]
Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Martins (UFRN)
INTRODUÇÃO
No Português Brasileiro (PB), predominantemente na modalidade oral, muitos
enunciados podem iniciar por um sintagma nominal deslocado, o qual não corresponde
ao sujeito gramatical, sendo que o constituinte separado do resto da frase por uma pausa
e pela falta de concordância com o verbo é denominado de tópico. Pontes (1987) afirma
que, dentre outras línguas, o PB está tanto entre as línguas de tópico quanto as de sujeito
proeminente, como podemos observar nas sentenças em (1), (2), (3) e (4), a seguir:
(1) O Pedro, a casa comprou.
(2) O Pedro, nós vimos ele ontem na festa.
(3) O Pedro, ele não ficou.
(4) O Pedro, eu vi [-] ainda ontem.
Vemos que é possível recuperar algumas vezes a relação semântica ou mesmo
gramatical entre o tópico e o comentário1. No exemplo (1) o constituinte topicalizado
em negrito não tem nenhuma ligação com o resto da sentença; no máximo, podemos
inferir a relação semântica entre as sentenças “quem comprou a casa foi o Pedro” e “A
casa é do Pedro”. Em (2), a relação do tópico com o resto da frase está nos traços de
pessoa, gênero e número e em (3) o constituinte topicalizado também se duplica na
sentença seguinte pelo pronome “ele”, ou seja, a função sintática do pronome transferese ao constituinte “Pedro”, originando assim, uma construção de tópico de duplo
sujeito2. No exemplo (4), a categoria vazia3 na sentença retoma o tópico em negrito
como um objeto direto deslocado.
Considerando que as construções de tópico são muito recorrentes na gramática
do PB, este artigo tem por objetivo apresentar (como) e (se) as gramáticas tradicionais
(doravante GTs) trabalham com as construções de tópico, tendo como base os trabalhos
de Pontes (1987), Mateus et all (2003), Araújo (2009) e Castilho (2010). O artigo está
estruturado como segue: na seção 1, buscaremos definir o que são essas construções; na
seção 2, mostraremos como essas construções estão constituídas no PB; e na seção 3,
abordaremos como (e se) as gramáticas tradicionais de Bechara (2004) e Cunha e Cintra
(2008) apresentam tais construções para, então, propormos uma reflexão de como
trabalhá-las na sala de aula.
1
O comentário vem logo após o tópico para especificá-lo ou apresentá-lo como uma informação nova ou
já conhecida.
2
3
Essa nomenclatura será apresentada nas seções adiante.
No caso das construções de tópico categoria vazia é o espaço vazio da sentença, do qual um sintagma
nominal ou preposicional foi deslocado para início da sentença.
1. O que são construções de tópico?
As construções de tópico são estruturadas em que se atesta um deslocamento
de um constituinte (argumentos e adjuntos) para a cabeça da frase. Esses constituintes,
por sua vez, quando movidos para a parte externa da sentença, não têm nenhuma relação
com a sentença seguinte. Segundo Mateus et all (2003, p.491) quando “o mesmo
constituinte acumula a relação gramatical de sujeito com o papel discursivo de tópico” é
denominado de tópico não marcado, devido ao fato de ter concordância com o verbo,
enquanto que o tópico deslocado do corpo da sentença é chamado de tópico marcado
porque não estabelece a relação gramatical de sujeito.
Nas sentenças em que a estrutura sujeito-predicado e a estrutura tópicocomentário são equivalentes o tópico é não marcado. Vemos em (5) e (6),
respectivamente, construções em que os constituintes são homólogos e em que o tópico
não tem relação com o verbo:
(6) [Os miúdos] telefonaram. (MATEUS et all, 2003, p.490)
(7) [Aos miúdos,] [ [-] [oferecemos-lhes CDs] (MATEUS et all, 2003, p.490)
Como constatamos, o constituinte topicalizado no exemplo (5) estabelece
concordância com verbo, tendo traço discursivo de tópico e relação gramatical de
sujeito. Já, no exemplo (6), o constituinte deslocado é um tópico marcado porque não
tem relação gramatical de sujeito e a categoria vazia na sentença seguinte é o sujeito
nulo e o pronome “lhes” retoma o tópico na cabeça da frase.
1.1 O que caracteriza as construções de tópico?
Tentaremos responder esse questionamento com base na tipologia apresentada
por Li e Thompson (apud Pontes, 1987, p.19-25). Para estabelecer uma tipologia das
construções de tópico, esses autores definem em (a) as características das construções
de tópico nas línguas de tópico e em (b) as características das línguas de tópico. Em
relação ao item (a) são apresentadas algumas características do tópico em contraste com
o sujeito e vice-versa, as quais serão arroladas a seguir.
Quanto à definição, o constituinte topicalizado sempre será definido como
também poderá ser um demonstrativo; quanto às relações selecionais, vemos que o
tópico não tem ligação alguma com o verbo; quanto ao verbo determinar o sujeito é
porque a relação do tópico com o verbo é independente; quanto ao papel funcional, o
tópico desempenha o centro da atenção na sentença, ou seja, ele está mais ligado ao
discurso; quanto à concordância, o tópico não estabelece relação nenhuma como o
verbo, pois em línguas como o português em que pode haver a marcação da
concordância, se realiza apenas o verbo com sujeito, podendo algumas vezes ocorrer à
concordância com o tópico, o constituinte topicalizado assume traços idênticos do
sujeito gramatical; quanto à posição do tópico nas sentenças é uma característica
marcante, pois anuncia o que vai ser comentado e sempre está no início da oração em
contexto de frase-raiz4, diferentemente do sujeito em algumas línguas que pode vir no
início de frase, no final ou ser nulo; quanto aos processos gramaticais na sentença
ocorre quando o tópico se desloca para a cabeça da frase, cabendo ao sujeito todos os
processos como reflexivização, passivização e imperativização, mas não cabe ao tópico
que, por estar na parte exterior da sentença, é independente desses processos sintáticos.
4
Contexto de frase-raiz são denominações de sentenças simples.
De acordo com L&T o item (b) apresenta as características típicas das línguas
de tópicos (Tp). Em relação à construção passiva, os autores “explicam a marginalidade
da passiva nas línguas Tp como devida ao fato de a construção de tópico ser a que
desempenha o papel mais importante na construção da S, podendo qualquer SN ser
tópico” (apud PONTES, 1987, p.21); em relação aos sujeitos vazios5, o português,
assim como, as línguas de tópico não têm sujeito expresso ou nulo em frases
existenciais impessoais ou referentes a fenômenos atmosféricos.
Em relação às construções de duplo sujeito típicas das línguas de tópicos, o
constituinte topicalizado e o sujeito presente na estrutura da sentença são distinguidos
devido ao fato de o primeiro não ter concordância com o verbo; em relação ao controle
de co-referência é o tópico que assume o controle no interior da sentença e não o
sujeito; já em relação às restrições, vemos que só há em sentenças de línguas de sujeito,
enquanto, em línguas de tópicos não. Como exemplo, temos o português em que
qualquer elemento na sentença pode ser um tópico, tais como os argumentos, os
adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e o adjunto predicativo.
Por fim, em relação às sentenças básicas6, as línguas de tópico são sentenças
propriamente básicas, devido ao fato de apresentarem argumentos e distribuição, sendo
que as frases topicalizadas podem ser afirmativas, negativas, exclamativas,
interrogativas e encaixadas.
Sintetizando, o tópico depende do discurso, assim como o sujeito da sentença.
E o português compartilha com as línguas de tópicos a maioria das características, tendo
apenas algumas que diferem do PB, em virtude de não apresentar um morfema para
marcar o tópico e não ter um verbo no final da sentença, embora Pontes (1987)
desconfie da primeira afirmação citando o pronome cópia como marca.
2. As construções de tópico no português brasileiro
Nesta seção, mostraremos como as construções de tópico são constituídas no
PB com base em Pontes (1987), a qual afirma que a língua portuguesa pode-se
enquadrar tanto nas línguas de proeminência de sujeito quanto de proeminência de
tópico, tendo como base a estrutura da sentença expressa por Sujeito-Verbo-Objeto
(doravante SVO), devido ao pressuposto de que esta “é uma construção universal e por
isso têm descrito as diferentes línguas sempre do mesmo modo” (PONTES, 1987, p.11).
Desta forma, as construções de tópico na modalidade escrita sofrem certos
preconceitos ainda impostos pela tradição gramatical greco-latina7, em consequência de
tal tradição não assumirem a estrutura Tópico-Verbo-Objeto (doravante TVO) na língua
escrita, apesar dessas aversões serem combatidas pelos manuais introdutórios de
linguística. L&T (1976 apud PONTES, 1987, p.43) evidenciam “que há línguas em que
inclusive o tópico é indicado não só sintaticamente, mas também morfologicamente”.
Não é o caso do português e de muitas outras línguas em que o tópico é identificado
pela posição na cabeça da sentença, pela ocorrência do pronome anafórico ao tópico e
algumas vezes pela entonação.
5
Sujeito vazio, nomenclatura adotada por Pontes (1987, p.21), ou sujeito nulo.
6
Sentenças básicas correspondem às sentenças de tópico que não são possíveis derivá-las de outras, ou
seja, não costumam ter restrições de ocorrência, pois se houvesse algum condicionante não poderiam
ocorrer em orações encaixadas, negativas ou interrogativas.
7
Refere-se às gramáticas tradicionais.
Apresentaremos, primeiramente, os cinco tipos de tópicos na perspectiva de
Mateus et all (2003), uma gramática do PB que tem por base a teoria gerativa.
Exemplificaremos os diferentes tipos de construções com sentenças extraídas dessa
gramática. Apresentaremos também as classificações proposta por Araújo (2009) que
denomina algumas construções de tópico com a mesma semelhança que aquela proposta
por Mateus et all (2003), diferindo da classificação desta em apenas algumas
nomenclaturas, pois Araújo (2009) desenvolve a topicalização de objeto direto, tópico
pendente com retomada, tópico cópia, tópico sujeito e tópico locativo, citando também
o tópico com cópia pronominal ou duplo sujeito, assim como denomina Pontes (1987).
As classificações aqui elencadas foram denominadas por um critério de
gramaticalização que se estabelece entre o elemento topicalizado e a frase-comentário,
resultando as seguintes construções:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Tópico pendente (TP);
Deslocação à esquerda de tópico pendente (DETP);
Deslocação à esquerda clítica (DEC);
Topicalização (TOP);
Topicalização selvagem (TOP´s);
Além das construções apresentadas acima, temos outras mais específicas que
serão apresentadas, as quais tentaremos discorrer resumidamente suas características e
exemplificá-las para uma maior compreensão em relação às diferenças e semelhanças.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
Topicalização de objeto direto (TOD);
Tópico pendente com retomada (TP´r);
Tópico cópia (TC);
Tópico sujeito (TS);
Tópico com cópia pronominal ou duplo sujeito (TCp ou DS);
Tópico locativo (TL)
As construções de tópico pendente (TP) têm um grau mínimo de sintatização,
não tendo nenhuma conectividade entre as sentenças, sendo estas restritas a contexto de
frase-raiz e o sintagma deslocado para a parte externa do comentário é um sintagma
nominal ou pode ser regido por uma preposição ou uma locução preposicional. Não são
sensíveis a ilhas8 por não terem categorias vazias no corpo da sentença. Já em relação à
condição de relevância, esta determina que o comentário seja referente ao tópico. O TP
no plano textual funciona frequentemente como uma estratégia de introdução de um
tópico de transição. Ilustraremos essas informações a respeito do TP por (7), (8) e por
(9):
(7) ...filmes estrangeiros, estamos a ver o filme até ao fim e não sabemos do que se
trata. (MATEUS et all , 2003, p. 492)
(8) Quanto ao debate de ontem à noite, é forçoso reconhecer que há políticos que
falam sobre um país que não conhecem. (MATEUS et all , 2003, p. 492)
(9) Médico sempre aí nas Serra, nesse Rapa mermo tem um posto. (ARAÚJO, 2009, p.
241)
8
O fenômeno de ilhas é caracterizado por inserir novos constituintes no interior da sentença, podendo
haver uma forte ou fraca ligação sintática com a oração.
Nos exemplos expostos acima vemos que os tópicos em negrito não têm
nenhuma conectividade com o restante da sentença. No caso de (7), o constituinte
topicalizado “filmes estrangeiros” apenas é retomado pelo sintagma “filmes” inserido
no corpo da sentença. Em (8), essa construção pode ser iniciada por marcas formais,
como quanto a..., no que se refere a..., como foi introduzida na oração. No tópico “o
debate de ontem à noite” não tem nenhum constituinte interno no comentário que o
retome, ficando apenas a informação do evento descrito pelo comentário. No exemplo
(9), o sintagma nominal “médico” que inicia a oração tem uma relação semântica com a
sentença, mas não há uma relação sintática, ou seja, o constituinte topicalizado não pode
ser colocado no interior da oração.
Na deslocação à esquerda de tópico pendente (DETP) o grau de sintatização
é fraco, porque a ligação do constituinte topicalizado e o comentário dão-se através de
traços de pessoa, gênero e número. A DETP é restrita a contexto de frase-raiz e não é
sensível a ilhas, assim como o TP. Quanto à condição de relevância, esta assume a
forma de co-referência, conforme os traços de pessoa, gênero e número. No plano
textual é muito utilizado nas sentenças de perguntas e respostas.
(10) O João... ouvi dizer que ele tinha ido passar férias a Honolulu. (MATEUS et all,
2003, p. 493)
(11) – Tens sabido alguma coisa do João ultimamente?
– O João... ouvi dizer que ele tinha ido passar férias a Honolulu. (MATEUS et
all, 2003, p. 493)
Em (10) o pronome “ele” interno ao comentário apenas assume a co-referência
do constituinte externo a sentença. No exemplo (11), as sentenças interrogativas são
uma estratégia para confirmar a frase (10). Nesse caso, a DETP tem uma concordância
de traços gramaticais e uma conexão referencial.
A construção de deslocação à esquerda clítica (DEC) tem um elevado grau de
sintatização entre o tópico e o comentário, devido ao fato de o primeiro ter uma
conformidade referencial, categorial, causal e temática com o constituinte interno ao
comentário, sendo conectado obrigatoriamente pelo pronome clítico ao constituinte
externo. Essas construções podem aparecer em contexto de frase-raiz, à esquerda de
sintagma complementador (cf. (12)) e em frases encaixadas à direita do
complementador (cf. (13)):
(12) Esse artigo, onde é que o foste desencantar? (MATEUS et all, 2003, p. 495)
(13) Disseram-me que ao João, não lhe pagaram o ordenado este mês. (MATEUS et all,
2003, p. 495)
As construções de DEC são sensíveis às ilhas e são iterativas por ocorrer mais
de um tópico na sentença, como mostram os exemplos (14) e (15), respectivamente.
(14) Ao João, não encontro [artigos [que lhe possam ser úteis]]. (MATEUS et all, 2003,
p. 495)
(15) À Maria, essa história, ainda ninguém lha contou. (MATEUS et all, 2003, p. 495)
Por não haver uma categoria vazia na sentença, a DEC não legitima lacuna
parasita9. No plano textual, essa construção funciona como uma estratégia de
preservação do tópico ou como uma listagem exaustiva, como no exemplo abaixo:
(16) O tipo é insuportável! É incrível como ele trata as pessoas! Aos amigos, falha-lhes
com aquele tom de paternalismo que ninguém aguenta. Os subordinados, considera-os
abaixo de cão. “Os gerentes, trata-os como se fossem míseros contínuos. (MATEUS et
all, 2003, p. 496)
A topicalização (TOP), assim como a DEC, tem a mesma característica em
relação à sintatização, mas ambas diferem quanto a sua conexão entre o constituinte
topicalizado e o comentário que no caso da TOP é obrigatoriamente uma categoria vazia
no interior da oração, a qual origina uma lacuna parasita que seria ocupada pelo
elemento topicalizado na ordem canônica.
(17) A esse político, podes crer que não dou o meu voto [-]. (MATEUS et all, 2003, p.
497)
A TOP não tem ilhas fortes como a DEC (cf. (18)). No plano textual pode
introduzir um novo tópico no discurso (cf. (19)) ou ser um elemento do comentário da
frase anterior (cf. (20)).
(18) Piscina, nunca fui a[o clube de golfe [que tem [-]]. (MATEUS et all, 2003, p. 498)
(19) Pão, ainda há [-]? (MATEUS et all, 2003, p. 499)
(20) Gostas de perfume?
Ah sim, perfumes, adoro [-]. (MATEUS et all, 2003, p. 499)
A topicalização selvagem (TOP´s) apresenta apenas conectividade referencial
e temática o que ocasiona algum grau de sintatização por haver um deslocamento de um
sintagma preposicional do interior do comentário para a cabeça da oração sem a
presença da preposição. A TOP´s ocorre apenas em contexto de frase-raiz e essas
construções são aceitas pelos falantes da norma culta no modo oral informal.
(21) Esse relatório, acho que não precisamos [-] para a reunião de hoje. (MATEUS et
all, 2003, p. 501)
(22) Futebol, a gente brincava [-], né... (ARAÚJO, 2009, p. 242)
É possível observar que os exemplos apresentados têm o seu constituinte
interno ao comentário deslocado para a esquerda da oração, ou seja, para a parte
introdutória da frase sem a regência de preposição. Agora iremos explanar como se dá o
processo das construções de tópico nos itens (vi, vii, viii, ix, x e xi) denominados por
Araújo (2009) e saber se Pontes (1987) também aponta comentários acerca da
nomenclatura dada por essa autora. Explicaremos essas seis nomenclaturas com
exemplos extraídos da pesquisa de Araújo, em que todas as frases são pertencentes à
modalidade oral informal.
9
Consiste na legitimação de uma categoria vazia, geralmente contida num adjunto oracional não finito,
por uma cadeia cujo pé é uma variável ocupando uma posição que não comanda tal categoria vazia, ou
seja, a variável ocupa uma posição de complemento da frase superior e não a posição de sujeito. (Mateus
et all 2003, p.495-496)
Começaremos pela topicalização de objeto direto (TOD), a qual ocorre em
sentença em que o constituinte interno na oração tem função sintática de objeto direto e
quando deslocado para a esquerda não tem relação com nenhum constituinte clítico
interno na oração, não havendo co-referência entre tal constituinte com o elemento
topicalizado. Na TOD é o sintagma nominal que tem função de objeto que sai do corpo
da frase para o CP10, lugar onde o elemento deslocado recebe traço discursivo,
acompanhado de um determinante definido. Esse tipo de construção de tópico não sofre
restrições de ilhas, assim como, o TP e a DETP, e pode ocorrer tanto em contextos de
frase-raiz como em contexto de frase encaixada como na DEC e na TOP. Os seguintes
exemplos mostrarão as características citadas anteriormente:
(23) A cachaça eu bebo todo dia, se eu todo dia eu fô lá na praça. (ARAÚJO, 2009, p.
235)
(24) ...esses criatório (porco, galinha) tamém eu tem muitos ano qu´eu num crio, né?
(ARAÚJO, 2009, p. 235)
(25) Parece que o poquim que ocê aprende na escola que dorme, quande é no ôto dia
parece que já num sabe mais, puquê tanto pá fazê. (ARAÚJO, 2009, p. 235)
Segundo Araújo (2009, p.235), essas construções de TOD não estão presentes
apenas no português rural-afro-brasileiro, o qual ela pesquisou, “mas está presente em
todas as modalidades do português brasileiro”. O que nos faz pensar que essas
construções de TOD são mais usadas pelos falantes e escritores da língua portuguesa.
Tal afirmação é concretizada por Castilho (2010, p.283) quando o linguista/gramático
discorre em seu texto que essa função sintática foi apresentada por Seabra (1994) em
seu corpus, o qual comparou e analisou os dados extraídos da obra do século XIII,
intitulada “Leal conselheiro” com os documentos da imprensa contemporânea
brasileira.
Ainda em conformidade com a referida explanação, Araújo (2009, p. 235) cita
Cyrino (1993) afirmando que a topicalização de objeto direto “tem registro no português
brasileiro escrito desde o século XIX”. O que nos faz confirmar que essas construções
de TOD não só ocorriam na fala como também na escrita do século XIII do português
europeu e só veio se concretizar na modalidade escrita do português brasileiro no século
XIX de acordo com os estudos apresentados acima.
Em relação ao tópico pendente com retomada (TP´r) parece que essa
construção mescla as suas propriedades com as das outras construções, tais como, a de
TP, de DEC e de TOP, pois o TP´r mantém uma relação semântica com a oração (cf.
tópico pendente), sendo retomado por um elemento interno à oração por pronome forte
ou por um pronome clítico (cf. deslocação à esquerda clítica). Essa construção de TP´r
expressa na sentença uma generalidade, uma categoria vazia (cf. topicalização), um
pronome demonstrativo, um numeral, dentre outros. Apesar de essa construção de
tópico transitar entre as outras categorias percebe-se que o tipo de retomada mais
frequente é o da relação semântica continente/contido. Conforme a pesquisa de Araújo
(2009, p.236), em outras palavras o elemento topicalizado é mais amplo e o termo coreferente que está inserido no corpo da oração é mais específico.
(26) Mas, meus porco, você pricisa de vê, quand´eu crio um... um leitão. (ARAÚJO,
2009, p. 236)
10
A sigla CP significa grupo de complementizador ou sintagma de complementizador.
Vemos que o tópico “meus porco” e retomado pelo constituinte interno “leitão”
acompanhado do numeral “um”. Mas como relatamos que esse tipo de construção
ocorre também em outras categorias detectamos que essa retomada aparece como
pronome correferencial, igualmente, a DETP, onde o pronome no interior da frase tem
traços de pessoa, número e gênero, sendo que no TP´r esse traço é apenas referencial,
como evidenciado a seguir:
(27) ... eu... medicina privada realmente não me interessa. (MATEUS et all, 2009, p.
493)
(28) Eu, meu nascimento é daqui mesmo, minha residênça é aqui. (ARAÚJO, 2009, p.
236)
Constatamos que em (27) o termo topicalizado apresenta traços de pessoa e
número com o “me”, enquanto, em (28) o tópico apenas tem relação de referenciação
com “meu” e “minha”. Percebemos também que a retomada do tópico no TP´r aparece
em sentenças com categoria vazia e pronome pessoal na posição de objeto (cf. (29) e
(30).
(29) Aquela folha... os menino saía, ia caçá, né, aí Ø bateu aqui nos óio do cachorro.
(ARAÚJO, 2009, p. 237)
(30) A cana... cê pranto ela... ela brotô. (ARAÚJO, 2009, p. 237)
Em (29) o elemento topicalizado na oração antes estava no interior da mesma
na posição de sujeito e em (30) o constituinte que retoma o termo “A cana” é um
pronome pessoal na posição de objeto e de sujeito. No TP´r o constituinte topicalizado
pode ser retomado em qualquer posição no interior da sentença, sendo que a relação
existente entre o tópico e o elemento no interior da frase é apenas semântica e, por
conseguinte, a relação sintática é fraca como ocorre no TP e na DETP. Fato que Araújo
(2009, p.237) reforça em relação ao baixo grau de sintatização entre os constituintes
externos e internos na oração devido ao fato de não haver uma “correspondência
morfológica obrigatória entre o elemento topicalizado e o termo que o retoma
internamente à oração”, como mostramos em (cf.(26)) em que o termo topicalizado está
no plural, porém a sua retomada esteja no singular ou vice-versa. O tópico cópia (TC),
apesar de ter um elemento no interior da frase que retoma o constituinte topicalizado,
difere do TP´r devido ao fato de o sintagma interno na sentença não ser um pronome e
sim uma cópia do próprio tópico, como vemos em (31):
(31) aí o tratô... a carreta empurrô o tratô, e aí desceu de ladêra abaxo lixado...
(ARAÚJO, 2009, p. 238)
Os dois termos na oração tanto o topicalizado quanto o interno são semelhantes
não havendo nenhuma relação sintática entre os constituintes há apenas uma relação
lexical. Outro tipo dessas construções é o tópico sujeito (TS), o qual é caracterizado
por apresentar um sintagma preposicional, locativo ou adjunto movido para parte
externa da oração, sendo que a preposição não se realiza e ao mesmo tempo o tópico
assume traço de sujeito, porque faz concordância com o verbo. Características
semelhantes da TOP´s e da DS, porém o primeiro não faz concordância com o verbo e o
segundo não coloca na posição de tópico um sintagma preposicional.
No TS na parte interna da sentença não encontramos um pronome que retome
ao elemento topicalizado, mas este tem concordância com o verbo, assumindo assim
função de sujeito. Em sentença de TS, de acordo com Pontes (1987, p.37), “há nelas
uma mistura de tópico com sujeito, predicado com comentário”, ou seja, o SN não
consegue alcançar a posição de TopP11, na camada CP (local onde o elemento
topicalizado recebe traços discursivos) pelo fato que o sintagma nominal parece ficar
interno na oração, pois o elemento que está anteposto ao verbo deveria fazer o papel
discursivo de objeto e não de sujeito como vemos na sentença abaixo:
(32) A Sarinha tá nascendo dentes. (PONTES, 1987, p. 35)
Vemos que o argumento selecionado pelo verbo está posposto, e não concorda
com o verbo, mas se esta sentença fosse colocada na ordem SVO, teríamos o sujeito
posposto concordando com o verbo.
(33) Nasceram os dentes da Sarinha.
Essa frase se tornaria agramatical se colocássemos o verbo concordando com o
objeto, porque a frase (33) ficaria ambígua em relação à concordância do verbo como
apresentada em (34):
(34) A Sarinha estão nascendo os dentes. (ARAÚJO, 2009, p. 238)
Mas Araújo (2009) verifica que a frase (34) fica agramatical devido ao fato de
não haver a concordância com o sujeito posposto, ou seja, o SN fica sem nenhuma
ligação com a sentença “porque é um tópico, e não o sujeito, que estabelece
concordância com o verbo” nesse caso de TS (ARAÚJO, 2009, p.239). Ainda com as
idéias de Araújo, essas construções de TS ocorrem no português brasileiro urbano,
sobretudo, na fala culta e que, segundo Galves (1998 apud ARAÚJO, 2009, p.239),
“torna o português sui generis em relação a essas construções de tópico”.
O tópico com cópia pronominal ou duplo sujeito (TCp ou DS) se dá quando
o sintagma nominal deslocado para a parte externa da oração tem como referência um
elemento pronominal no interior da sentença com função de sujeito na frase principal. O
que constatamos que a conexão entre a parte interior da frase e exterior se dá apenas por
traços de pessoa, número e gênero como ocorre na DETP.
(35) A sussuarana, ela pensa carnêro ta no mato, que... que ´cê num tocô, elas vai no
rebanho e mata. (ARAÚJO, 2009, p. 241)
Essa construção de TCp ou DS difere do TC porque neste último a cópia no
corpo da sentença é idêntica ao termo topicalizado. Fato que não ocorre na construção
de TCp ou Ds devido ao fato de haver a necessidade de deixar claro o referente
topicalizado por um pronome no argumento. De acordo com Galves (1998 apud.
ARAÚJO, 2009, p.241) isso acontece em virtude da “função de o verbo ter perdido o
traço de [pessoa] no português brasileiro”, por isso, há uma necessidade dessa marcação
mesmo sendo redundante.
No tópico locativo (TL), o sintagma nominal que funciona como adjunto ou
verbo existencial se desloca do interior da frase para o TopP, acompanhado da
preposição, enquanto que nas construções de TOP´s e TS, o sintagma preposicional
11
A sigla TopP significa sintagma de topicalização.
deslocado para o início da oração perde a preposição, sendo o TS ainda mantém
concordância com o verbo.
(36) pra Conquista ela sempre vai, mais eu... mas só. (ARAÚJO, 2009, p. 242)
A realização dessa construção, segundo Araújo (2009, p.242), para ser de baixa
realização deve ter a presença da preposição no início da frase. Fato que não ocorre nas
construções de TOP´s e na de TS na modalidade oral, as quais apagam a preposição. As
construções de tópico apresentadas acima têm características semelhantes e distintas,
mas a principal marca do tópico e a sua posição inicial seja para introduzir uma
informação nova, na perspectiva semântica, ou para comentar uma informação já
conhecida, na perspectiva discursiva. E vimos que antes de o tópico possuir traços
discursivos na CP ele é um sintagma nominal gramaticalizado no interior da sentença e
esse SN pode ser qualquer termo no português brasileiro.
3. Como as gramáticas tradicionais abordam essas construções
Nesta seção, abordaremos como essas construções de tópico aparecem nas GTs
e como são apresentadas e/ou inseridas no ensino de língua portuguesa na escola.
Utilizaremos as gramáticas de Bechara (2004) e de Cunha e Cintra (2008), as quais
denominam o fenômeno de topicalização como anacoluto. Iremos selecionar alguns
exemplos das GTs em questões para classificá-los de acordo com a nomenclatura dada
por Mateus et all (2003) e Araújo (2009), apresentadas na seção 2.
Na gramática de Bechara (2004, p.479) e na de Cunha e Cintra (2008, p.644),
respectivamente, identificamos que o anacoluto “é a quebra da estruturação gramatical
da oração” e “a mudança de construção sintática no meio do enunciado, geralmente
depois de uma pausa sensível”. Concordamos com tais afirmações, pois há uma ruptura
na sentença e o constituinte movido do interior da oração para a parte externa da
mesma, algumas vezes pode ser recuperado na sua função própria, consequentemente, o
mesmo ocorre com as construções de tópico. Bechara (2004) ainda relata que essas
construções em contextos não estilísticos são evitadas no estilo formal, atestando ainda
mais o preconceito estabelecido pela tradição gramatical greco-romana quando nos
referimos às construções de tópico. Observem-se abaixo as sentenças extraídas das GTs.
(37) Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura. (BECHARA, 2004, p. 479)
(38) A pessoa que não sabe viver em sociedade, contra ela se põe a lei. (BECHARA,
2004, p. 480)
(39) Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas,
de tão imprestáveis. (J. Lins do Rêgo, ME, 136 In CUNHA; CINTRA, 2008, p. 644)
(40)Bom! bom! eu parece-me que ainda não ofendi ninguém. (J. Régio, SM, 105 In
CUNHA; CINTRA, 2008, p. 645)
Verificamos que as sentenças (37), (38), (39) e (40) na perspectiva dos
gramáticos assumem apenas uma classificação, ou seja, estes não consideram (ou
refletem, de algum modo) as tipificações adotadas por Mateus et all (2003) e por Araújo
(2009). No exemplo (37), o pronome “me” retoma ao constituinte topicalizado “Eu”; em
(38), o sintagma topicalizado se deslocou sem a preposição “contra”, pois a ordem
gramatical seria “Contra a pessoa (...) se põe a lei”; em (39), os constituintes
topicalizados em negrito não estabelecem nenhuma ligação sintática com o comentário
e no exemplo (40) o constituinte em negrito “eu” apresentar-se como sujeito do verbo
seguinte, mas a primeira pessoa assumida por ele passa ao objeto indireto “me”,
podendo ainda aquele preencher a lacuna vazia pelo sujeito não expresso no comentário.
Confirmamos, assim, que o anacoluto transita entre diferentes estruturas
classificadas por Mateus et all (2003) e por Araújo (2009); ou seja, na sentença (37),
podemos observar uma DEC; na (38), uma TOP´s, em virtude de haver o apagamento
da preposição no início da oração; na (39), uma TP, porque os constituintes
topicalizados em negrito não têm nenhuma ligação sintática com o comentário; e em
(40) uma TP´r ou de TOP.
Apesar de classificamos as sentenças extraídas das GTs, conforme a literatura
em questão, não estamos propondo aqui que estas classificações sejam necessárias para
o aprendizado do aluno. Cabe ao professor de língua portuguesa adotar novas práticas e
ao mesmo tempo fazer uma reflexão sobre e como as construções de tópico devem ser
ensinadas na escola, pois se tratam de construção natural da língua portuguesa
(brasileira) em uso, mesmo sabendo que os gramáticos abordam esse fenômeno como
figura de sintaxe, a qual está inserida numa categoria denominada de desvio da norma
culta, ou seja, figura de linguagem. Esta por sua vez transforma o sentido das palavras
para dar um efeito estilístico ao texto e/ou à fala de alguém. Não constitui um “erro”
devido ao fato de ser um reforço ou adequação na mensagem que o indivíduo que passar
ao seu interlocutor.
Desta forma, propormos que o professor trabalhe esse assunto de forma
contextualizada, indo muito além das classificações impostas pelos manuais, ou seja, os
exemplos para ensinar tais fenômenos linguísticos seriam extraídos de texto do
cotidiano ou da comunidade em questão, tais como, das letras de músicas desde os
textos literários, não se esquecendo de examinar a língua falada, fazendo com que o
aluno se torne um investigador da língua em uso e só assim ele perceberá a frequência e
a utilização da construção de tópico em seu contexto.
Diante dos fatos apresentados acima cabe ao professor instigar o aluno a
identificar, na prática, esse fenômeno linguístico, além de perceber como as construções
de tópico se constituem nos diferentes níveis de escolaridade, faixa etária dentre outros
contextos. Apesar de as GTs não considerarem as construções de tópico, elas não
apresentam uma solução de como os professores devam trabalhar uma nova teoria
linguística na sala de aula, ou seja, não há um elo entre os conhecimentos teóricos
adquiridos na disciplina de linguística nos cursos de Letras com a prática na sala de
aula. No entanto, a nossa proposta é que o docente trabalhe as classificações legitimadas
pelos gramáticos, mas ao mesmo tempo ele deve reconhecer que estas não cobrem a
complexidade da língua em uso.
Nesse sentido, o docente deverá focar no objetivo de construir uma reflexão no
usuário da língua, mostrando-o que existem muitas possibilidades ou opções de
estruturas de sentenças no ato comunicativo, diferentemente, daquelas impostas pelas
GTs, as quais determinam que a estrutura canônica seja SVO para ter o mínimo de
coesão gramatical. Sabemos que a escola tem a função de preparar o aluno a usar a
língua em situações formais exigidas pela sociedade, mas ao mesmo tempo, tem de
mostrar ao (e orientar o) aluno que tanto a modalidade escrita quanto a oral tem um
papel importante na sala de aula e são por meio destas que os discentes vão construir
seus conhecimentos a respeito dos fenômenos linguísticos apresentados na teoria e na
prática.
CONCLUSÕES
No decorrer das seções deste artigo explicamos as construções de tópico
caracterizando-as e mostrando como elas se comportam no PB. Para só assim
propormos uma reflexão de como ensinar esse fenômeno linguístico na escola, pois no
início dessa pesquisa não tínhamos o conhecimento de que as construções de tópicos
estavam inseridas nas GTs, mas encontramos com outra nomenclatura adotada pelos
gramáticos. Tais construções são, todavia, ali classificadas como “figuras de sintaxe” e
não ganham uma atenção/explicação mais detalhada.
Devido ao fato de os gramáticos não considerarem a estrutura TVO, muito
usada na modalidade oral, em seus manuais de ensino, constatamos também nos estudos
de Araújo (2009) que esse fenômeno não só está presente na oralidade como também na
escrita do PB, assim como, afirmam Seabra (1994 apud CASTILHO, 2010, p.283) e
Cyrino (1993 apud ARAÚJO, 2009, p.235), respectivamente, que foram encontradas
construções de tópico em obras do século XIII do Português Europeu (PE) e na
imprensa contemporânea brasileira quanto em registro de escrito do PB no século XIX.
Nessa perspectiva, cabem a nós, professores, sobretudo de língua portuguesa,
buscar novas práticas para ensinar a língua em uso, o que nos faz focalizar atividades
que não priorizem apenas o ensino das normas imposta pelas GTs, mas que o discente
tenha a oportunidade de se relacionar com atividades, as quais trabalham com a língua
em uso.
Portanto, não queremos condenar as GTs com suas normas instituídas durante
gerações, porém não aceitamos que as construções de tópico sejam trabalhadas como
“desvio”. Afinal, o que estamos querendo mostrar é que as aulas de língua portuguesa
valorizem o ensino de gramática através de textos escritos e orais e só assim a escola
terá cumprido seu papel fundamental que é o de formar o aluno linguisticamente.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Edivalda. As Construções de Tópico. In.: LUCCHESI, Dante; BAXTER,
Alan; RIBEIRO, Ilza (orgs.). O português afro-brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009.
BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 4. reimpr. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2004.
CASTILHO, Ataliba T. de . Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo:
Contexto, 2010. (p.279-286).
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo.
5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.
MATEUS, Maria Helena Mira et al. Gramática da Língua portuguesa. 6. ed. Lisboa:
Caminho, 2003. Série Linguística. (p.489-502).
PONTES, Eunice S. L. O Tópico no Português do Brasil. Campinas, São Paulo:
Pontes, 1987.
TORRES MORAIS, Maria Aparecida C. R. Rastreando aspectos gramaticais e
sociohistóricos do português brasileiro em anúncios de jornais do século XIX. In. Para
a História do Português Brasileiro. São Paulo: Humanitas, volume III: Novos
Estudos.