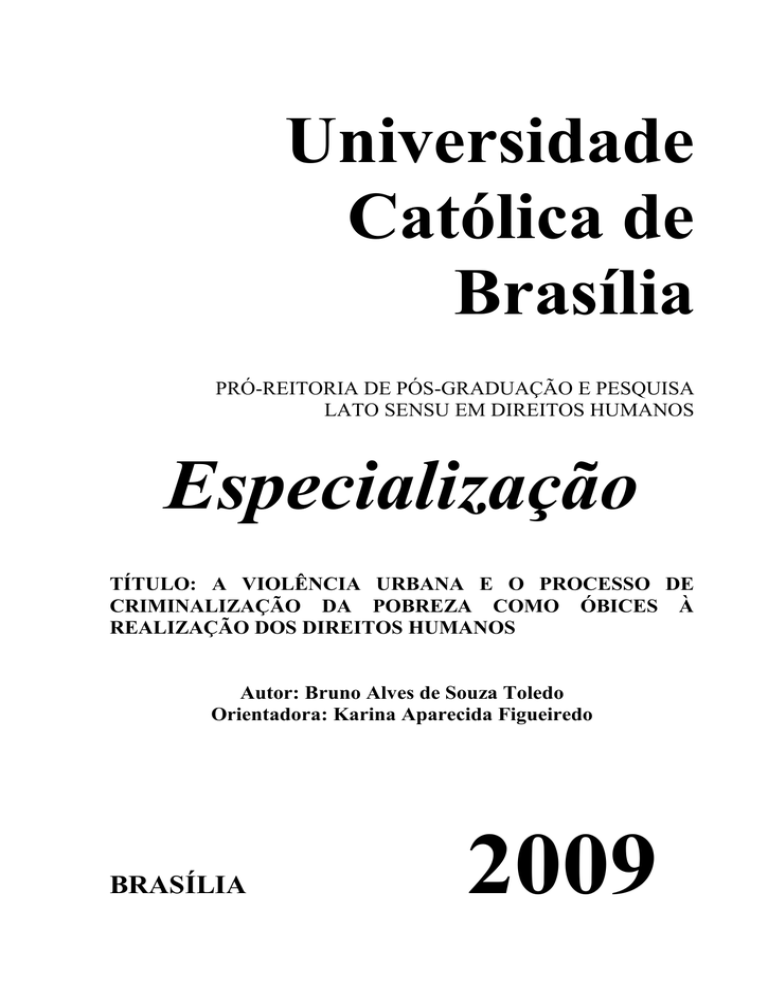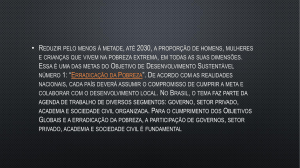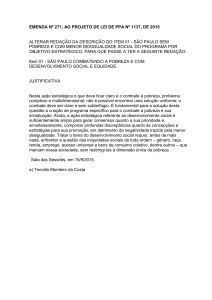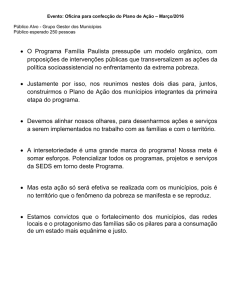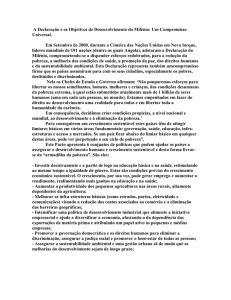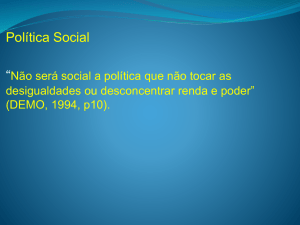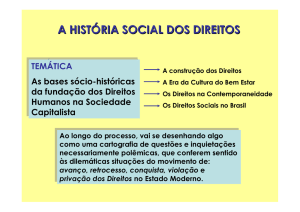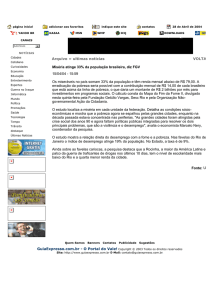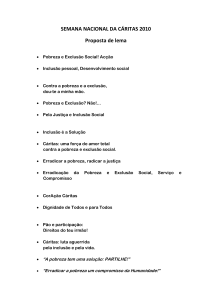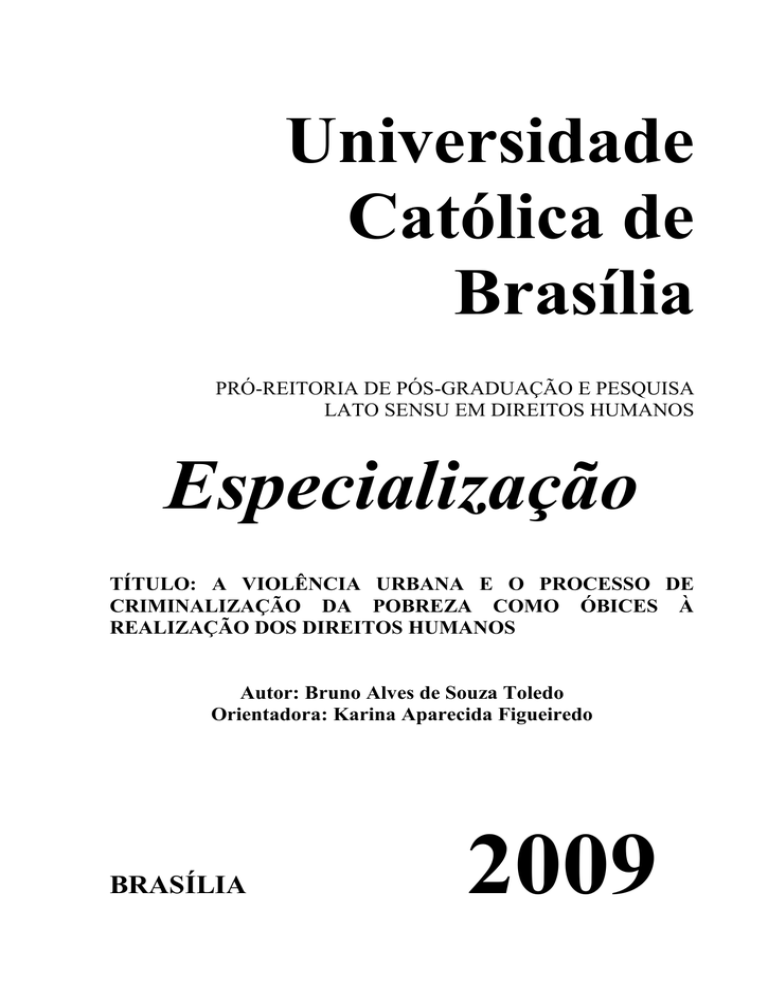
Universidade
Católica de
Brasília
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
LATO SENSU EM DIREITOS HUMANOS
Especialização
TÍTULO: A VIOLÊNCIA URBANA E O PROCESSO DE
CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA COMO ÓBICES À
REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Autor: Bruno Alves de Souza Toledo
Orientadora: Karina Aparecida Figueiredo
BRASÍLIA
2009
1
BRUNO ALVES DE SOUZA TOLEDO
A VIOLÊNCIA URBANA E O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA
COMO ÓBICES À REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Monografia apresentada ao Programa de PósGraduação Lato Sensu em Direitos Humanos da
Universidade Católica de Brasília, como
requisito parcial para a obtenção do certificado
de Especialista em Direitos Humanos.
Orientadora: Karina Aparecida Figueiredo
Brasília
2009
2
Monografia de autoria de Bruno Alves de Souza Toledo, intitulada “A VIOLÊNCIA
URBANA E O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA COMO ÓBICES
À REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS” apresentada como requisito parcial
para obtenção de certificado de Especialista em Direitos Humanos da Universidade
Católica de Brasília em 26 de outubro de 2009, defendida e aprovada pela banca
examinadora abaixo assinada:
_____________________________________
Professor Carlos Daniel Seidel
_____________________________________
Professor Thiago Brazi Brandão
_____________________________________
Professora Orientadora Karina Aparecida Figueiredo
Brasília
2009
3
Dedico este trabalho ao povo pobre,
criminalizado e violado das terras
brasileiras, que, com enorme sacrifício,
custeou esta pós-graduação por meio do
Governo Brasileiro. Honrarei este título.
4
AGRADECIMENTO
Nenhuma vitória é conquistada individualmente. Chego aqui apoiado em muitos ombros. Por
isso é preciso agradecer. À toda minha família que sempre acreditou em mim e que me vê
muito além do que eu realmente sou. Aos meus amigos, companheiros de militância pelos
Direitos Humanos, especialmente aos membros do Centro de Apoio aos Direitos Humanos
“Valdício Barbosa dos Santos” entidade da qual orgulhosamente faço parte e que me indicou
para esta pós-graduação. Aos professores da Universidade Católica de Brasília que estiveram
conosco neste período, especialmente à brilhante professora Karina Aparecida Figueiredo,
minha orientadora. À Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH da Presidência da
República que custeou todas as despesas e permitiu, não só a mim, mas a dezenas de
brasileiros se especializarem em Direitos Humanos e, por conseguinte se instrumentalizarem
na luta por um novo Brasil. Muito obrigado!
5
RESUMO
TOLEDO, Bruno Alves de Souza. A violência urbana e o processo de criminalização da
pobreza como óbices à realização dos direitos humanos. 2009. (número de folhas).
Especialização em Direitos Humanos. Universidade Católica de Brasília, Brasília-DF, 2009.
O presente trabalho, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, tem por objeto o estudo
sobre em que medida a violência urbana e a criminalização da pobreza são fatores de
impedimento à realização dos direitos humanos no Brasil. Partindo-se da concepção de que
direitos humanos são fruto de conquista histórico-social do homem para garantir sua própria
condição humana e que nesse sentido compreendem todas as dimensões dos direitos, o estudo
mostra que a criminalidade violenta tem se revelado fruto da não garantia desses direitos à
grande parte da população, que usurpada da riqueza socialmente produzida pelo modo de
produção capitalista, encontra na criminalidade uma forma alternativa de inserção social. Da
mesma forma, ao se criminalizar a pobreza, concebendo seus sujeitos como criminosos, o
Estado e a sociedade brasileiros não permitem outro tratamento além do repressivo-punitivo.
Conclui-se dessa forma, que a violência urbana e a criminalização da pobreza impedem
duplamente a realização dos direitos humanos, inicialmente pelo próprio modo de produção
capitalista e depois porque concebendo a pobreza como crime, o Estado não promove direitos
de seus sujeitos, mas os viola pelo sistema repressivo.
Palavras-chave: Pobreza – Criminalização – Direitos Humanos
6
ABSTRACT
This work was carried out by literature resourche, has for its object the study how the urban
violence and the criminalization of poverty are factors which have hindered the realization of
human rights in Brazil. Based on the idea that human rights are the result of historical and
social achievement of man to ensure his own human condition and that this effect include all
dimensions of rights, the study shows that violent criminality proved not guarantee the result
of these rights to much of the population, who misused the social wealth produced by the
capitalist mode of production, the crime is an alternative form of social integration. Similarly,
when criminalize poverty, conceiving their subjects as criminals, the Brazilian state and
society do not allow any different treatment than the repressive-punitive. It follows therefore,
that urban violence and the criminalization of poverty prevent double the realization of human
rights, initially by the capitalist mode of production and also because conceiving poverty as a
crime, the State does not promote the rights of their subjects, but violate them through
repressive system.
Keywords: Poverty – Violence – Human Rights
7
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................08
2. DEMARCANDO ESPAÇO: DE QUAIS DIREITOS HUMANOS TRATEREMOS.........10
3. ENTENDENDO O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA URBANA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA...........................................................................................................................17
4. QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E A GÊNESE DE SUA CRIMINALIZAÇÃO.............21
5. A POBREZA E SUA CRIMINALIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA.................27
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................37
7. REFERÊNCIAS....................................................................................................................43
8
1. INTRODUÇÃO
Ainda nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, sempre
me despertou paixão a possibilidade de o Direito ser revolucionário, de estar a serviço da
justiça. Foi assim que terminei o curso e passei a atuar profissionalmente sendo advogado de
vários movimentos sociais. Foi assim que pude atravessar a quase intransponível barreira do
positivismo jurídico brasileiro e iniciar um profícuo diálogo com a teoria crítica do serviço
social, passando a estudar, além dos Direitos Humanos, também a violência, a criminalidade e
as políticas sociais.
Foi assim que optamos por realizar o presente estudo sobre a contemporaneidade da violência
urbana no Brasil, sua relação com a criminalização da pobreza pelos sistemas de segurança e
justiça e como esse processo tem se conformado como uma grave ameaça à afirmação dos
Direitos Humanos, sobretudo, das populações pauperizadas. Isso posto, partirmos de algumas
questões que nortearam o nosso caminhar. Saber se a violência urbana é um fenômeno da
contemporaneidade ou tem sido perene na nossa história; Se é ou não possível relacionar as
prioridades orçamentárias do Governo Federal e o aumento da violência nos últimos anos;
entender as determinações para que o sistema de segurança e justiça tenha como foco de
combate à criminalidade as populações pauperizadas; compreender o processo de
pauperização na sociedade brasileira; eram nossas principais questões a serem respondidas a
fim de que pudéssemos analisar em que medida o atual fenômeno da violência urbana na
sociedade brasileira e a criminalização da pobreza impedem a realização dos direitos
humanos.
Desse modo, nosso trabalho constitui-se essencialmente de pesquisa bibliográfica com ampla
revisão de literatura sobre o tema. Iniciamos nosso caminhar discutindo a concepção de
direitos humanos que iluminará nossa reflexão. Como todo tema amplo, também com os
Direitos Humanos é possível se falar sob diversos matizes. Por esta razão, e como nosso
objetivo final é analisar a realização destes direitos, não poderíamos começar o estudo sem
demarcarmos esta posição.
É sabida a absoluta impropriedade de se co-relacionar a pobreza como causa da violência
urbana, assim como é conhecida a complexidade que envolve este fenômeno. Tendo o
presente trabalho que adentrar nessa árdua discussão, a segunda parte da pesquisa será
dedicada à problematização teórica da violência urbana, dando ênfase à sua conformação na
sociedade brasileira.
9
Tendo sido estabelecida nossa concepção de direitos humanos e problematizadas as
determinações da violência urbana, tornava-se imperioso discutirmos a questão da pobreza,
não só de maneira geral, mas particularmente como ela se dá também no Brasil. Assim, a
quarta e a quinta partes do trabalho são voltadas à análise da questão social, do pauperismo na
pós-revolução industrial e como esse processo se realiza dentre nós. Todavia, não nos bastava
discutir a pobreza, essencial era entender a sua criminalização, razão pela qual encerraremos
nosso trabalho problematizando tal questão e a relacionando com a violência urbana e com os
Direitos Humanos.
10
2. DEMARCANDO ESPAÇO: DE QUAIS DIREITOS HUMANOS TRATEREMOS
Como já explicitamos aqui, nosso objetivo é discutir em que medida a violência urbana e a
consequente vilanização da pobreza vem impedindo a realização dos direitos humanos na
contemporaneidade da sociedade brasileira. Assim sendo, é preciso iniciarmos nossa
caminhada teórica, delimitando de que concepção de direitos humanos trataremos. Afinal, o
que seriam e quais seriam estes direitos, para cuja concretização a violência urbana e a
criminalização da pobreza têm se mostrado como empecilhos?
O tema direitos humanos tem, ao longo da história e particularmente após o holocausto, com a
construção do arcabouço internacional de proteção a partir da Organização das Nações Unidas
– ONU e do processo de constitucionalização, ocupado papel de elevado destaque nos
embates políticos, nas discussões teóricas e mesmo em programas governamentais. À exceção
de setores conservadores que os têm como entrave ao eficaz enfrentamento à criminalidade, é
quase retórica comum falar da defesa ou promoção dos direitos humanos. Tal disseminação,
se por um lado reafirma sua essencialidade e o populariza no seio da sociedade, de outro
permite que se fale a partir de inúmeras concepções, algumas delas já aprimoradas, outras já
superadas histórica e teoricamente. Nesse sentido, cumpre aqui delimitarmos o campo no qual
trataremos os direitos humanos.
Poderíamos o fazer pelo legítimo olhar do direito natural. Daquela concepção de direito
surgida ainda na civilização grega, e que ainda hoje encontra defensores, segundo a qual há
preceitos inatos à natureza humana que antecedem ou mesmo estão acima do direito positivo
expresso no ordenamento jurídico de determinada sociedade. Para o jusnaturalismo, portanto,
há direitos não escritos que se sobrepõem aos direitos positivados, devendo estes estarem de
acordo com aqueles sob pena de serem considerados ineficazes. Foi este o argumento
utilizado por Antígona, na clássica tragédia grega de Sófocles(495 a.C. – 406 a. C.), para
realizar o funeral do seu irmão desobedecendo assim ao Decreto de Creonte que o proibia,
inaugurando também ali o conceito do que hoje chamamos de desobediência civil. Assim é o
magistral diálogo entre Antígona e Creonte:
CREONTE – (...) E tu, declara sem rodeios, sistematicamente. Sabias que eu tinha
proibido essa cerimônia?
ANTÍGONA – Sabia. Como poderia ignorá-lo? Falaste abertamente.
CREONTE – Mesmo assim ousaste transgredir minhas leis?
ANTÍGONA – Não foi, com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com
trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha
que tuas ordens tivessem o poder de superar leis não-escritas, perenes, dos deuses,
11
visto que és mortal. Pois estas leis não são de ontem nem de hoje, mas são sempre
vivas, nem se sabe quando surgiram. (SÓFOCLES, 1999, p. 35-36)
Vemos, portanto, que perceber os direitos humanos como direitos naturais é defender que tais
direitos fazem parte da natureza humana, que são inatos a esta condição, que são perenes em
todas as sociedades e em toda história da humanidade. Assim muito bem sintetiza Reale:
Dizia Aristóteles que, ao lado do direito que muda da Grécia para a Pérsia, existe
um Direito Natural, que por toda parte apresenta a mesma força, não dependendo
das opiniões ou dos decretos dos homens, sempre igual, assim como o fogo por
toda a parte queima igualmente. É o direito ligado à natureza do homem, como
expressão de suas inclinações racionais, de maneira que a lei determina e manifesta
o que a reta razão concebe como belo e bom. Onde quer que haja vida em comum,
aí encontraremos certos princípios que não são contingentes e variáveis, mas que,
ao contrário, apresentam caráter de legitimidade porque não nascem de arbítrio e de
convenção, que podem ser indiferentes ou nocivos, mas sim da natureza e da reta
razão. (REALE, 2002, p.97-98)
São os próprios fundamentos jusnaturalistas que embasaram o encontro, ainda que limitado,
entre o direito natural e o direito positivo no século XVIII a fim de delimitar o poder do
Estado Moderno. As chamadas revoluções burguesas e suas respectivas declarações de direito
apoiaram-se fundamentalmente no ideário iluminista dos direitos naturais do homem, os quais
deveriam ser consagrados formalmente como limite de atuação do Estado. Nesse campo
teórico, são clássicas as contribuições dos filósofos liberais-contratualistas Thomas Hobbes,
John Locke e Jean-Jacques Rosseau. Cada qual à sua concepção, foram estes autores os
grandes mentores da edição de um novo paradigma daquilo que contemporaneamente
conhecemos como Direitos Humanos.
Para Thomas Hobbes, a legitimidade do Estado como o grande Leviatã advém da necessidade
de garantir aquele que seria, para o autor, o mais importante direito natural a ser preservado: o
direito à vida. Ao Estado Moderno, mediador da chamada igualdade civil, competiria
controlar as paixões humanas, típicas do estado de natureza no qual os homens encontram-se
inseguros pelos permanentes conflitos, com o objetivo de assegurar o direito à vida.
Se Hobbes privilegia o direito à vida, Locke, a seu turno, justifica a existência do Estado na
necessidade de preservação do direito natural à propriedade, gerada essencialmente a partir do
trabalho do homem e que no estado de natureza encontrava-se em constante ameaça pela
inexistência de qualquer ordem, muito menos a jurídica.
Nem a vida, nem a propriedade, mas a liberdade seria para Rosseau o direito natural supremo
a que o Estado deveria se curvar. Para o autor de O Contrato Social, os homens, no estado de
natureza, nascem livres e iguais, mas a sociedade civil, a partir do surgimento da propriedade
privada, os torna presos e desiguais. Assim, o Estado teria sua legitimidade na vontade
12
suprema do povo, que por meio do contrato social resguardaria seu direito mais natural: a
liberdade.
Assim, é preciso concordar com as palavras de Bussinger(1997), para quem
O jusnaturalismo(a partir de conceitos sobre direitos inatos, estado de natureza e
contrato social, reivindica o respeito, por parte da autoridade política, aos direitos
inerentes ao homem) e o contratualismo (ao defender que o “fundamento e fim do
poder político reside no contrato, isto é, num acordo que assinalaria o fim do estado
natural e o início do estado social e político”) (Bobbio et al.,1986) constituíram-se
em diretrizes teóricas fundamentais ao pensamento filosófico moderno.
(BUSSINGER, 1997, p. 12)
Muito embora carregado de legitimidade e com enorme contribuição para a contemporânea
concepção de direitos humanos, não adotaremos o jusnaturalismo como farol a nos guiar neste
estudo. Isso porque, a nosso ver, conceber os direitos humanos como direitos naturais retira
do homem, enquanto ser social, o protagonismo do processo de conquista de tais direitos. Se
efetivamente os direitos fossem naturais, inatos à natureza humana, a história da humanidade
não seria a história da luta do homem pela afirmação da sua própria condição.
Nesta mesma direção, cabe aqui registrar a concepção de fundo teológico de direitos
humanos, aquela que compreende neles a origem divina, transcendental. Não estamos aqui a
falar do cristianismo exclusivamente. Estamos a falar nas grandes religiões que concebem os
direitos humanos a partir da origem divina do homem. Para esta corrente, portanto, os direitos
humanos seriam conseqüência do fato de o homem ter sido criado à imagem de seu Criador
supremo. É esta qualidade que o dotaria de direitos que devem ser absolutamente respeitados.
Para a Doutrina Social da Igreja Católica, por exemplo, a afirmação dos direitos humanos é
tida como
Uma extraordinária ocasião que o nosso tempo oferece para que, mediante o seu
afirmar-se, a dignidade humana seja mais eficazmente reconhecida e promovida
universalmente como característica impressa pelo Deus Criador na Sua criatura.(...)
O fundamento natural dos direitos se mostra ainda mais sólido se, à luz
sobrenatural, se considerar que a dignidade humana, doada por Deus e depois
profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo
mediante a Sua encarnação, morte e ressurreição. A fonte última dos direitos
humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado,
nos poderes públicos, mas no próprio homem e em Deus seu Criador.
(PONTÍFICIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2004, p. 92-93)
Muzaffar(2004) analisando a relação entre o Islamismo e os Direitos Humanos, assim
vaticina:
Uma vez que o ser humano seja considerado como representante de Deus, seus
direitos, suas responsabilidades, seus relacionamentos e seus papéis assumem um
sentido diferente e mais significativo. Seus direitos fundamentais, da vida à
liberdade de expressão, lhe são conferidos por Deus; sua responsabilidade maior,
que transcende todas as outras, é para com Deus; seu relacionamento mais precioso,
superando todos os outros, também se estabelece com Ele. Seu papel mais sagrado,
13
mais importante – definidor de todos os outros – é o seu papel de representante,
agente de Deus na terra. (...) Este conceito de indivíduo como medida de todas as
coisas padece de enormes fraquezas. Se o homem for a medida de todas as coisas,
não precisará se submeter a uma autoridade superior, uma força transcendental para
além de si próprio. (MUZAFFAR, 2004, p. 318-320)
Divergindo do criacionismo, mas entendendo os direitos humanos como algo também da
natureza humana, podemos citar Keown(2004) analisando a relação entre Budismo e Direitos
Humanos. Para ele,
Podemos ter certeza de que os budistas consideram o conceito de direitos humanos
como uma extensão legal da natureza humana, uma cristalização, na verdade, uma
formalização, do respeito mútuo e da relação entre todas as pessoas, originado na
natureza humana. (KEOWN, 2004, p. 343)
A nosso ver, ainda que sejam concepções com grande legitimidade e que façam parte da
construção dos direitos humanos como paradigma ético, não nos parece ser o melhor caminho
a tomar. Vemos nas concepções teológicas de direitos humanos, além da mesma crítica aqui
já feita ao jusnaturalismo, sérias contradições históricas, que inclusive legitimaram terríveis
violações aos direitos humanos, além de limites para o avanço de novos direitos, como, por
exemplo, os advindos do reconhecimento dos direitos sexuais e sua diversidade, bem como os
direitos reprodutivos.
Dito isso, queremos aqui nos filiar à corrente teórica que concebe os direitos humanos como
fruto de uma construção sócio-histórica do homem enquanto ser social na busca pela
afirmação de sua própria condição. Nesse sentido, defendemos os Direitos Humanos não
como algo natural, como algo dado, mas no dizer de Arendt(1989), como um construído, que
teve na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 a consolidação de uma era.
É o prisma do historicismo que melhor nos permite compreender a marcha dos direitos
humanos, suas contradições, seus avanços, suas derrotas. É a percepção dos direitos como
conquistas que nos possibilita a visão do homem como seu protagonista, que superou outros
paradigmas até consolidar a máxima kantiana que o coloca como medida de todas as coisas.
O elenco de direitos do homem se modificou e continua a se modificar com a
mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das
classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das
transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do
século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais
limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século
XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados
com grande ostentação nas recentes declarações. (BOBBIO, 2004, p. 38)
A dinâmica que marca a conformação dos direitos humanos é a própria dinâmica das lutas
sociais, dos conflitos de classes que em determinado momento histórico permitem o avanço,
14
em outros obriga ao retrocesso. Foi assim na edição da chamada primeira geração dos direitos
humanos, ainda sob o viés contratualista-liberal, que buscava afirmar direitos individuais a
fim de limitar o poder absolutista e, de forma instrumental, garantir condições de avanço da
Burguesia. Qual não foi a essência da Declaração de Independência das treze colônias norteamericanas, em 1776 e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França de
1779 – fundadas nos ideais dos filósofos iluministas como aqui já explicitado – senão a
afirmação dos direitos civis e políticos, que pugnavam liberdades negativas em relação ao
Estado.
A defesa dos direitos naturais do homem – válidos para todos os homens e que não
devem se dobrar a qualquer critério seletivo, corporativo ou referente à tradição –
foi a arma utilizada pela ascendente burguesia européia contra o Estado absolutista
e suas arbitrariedades. Foi também esta defesa que deu a tônica à luta pela
contenção do poder, colocando ao Estado um limite e uma exigência: o Estado é
estabelecido em função dos indivíduos e sua razão de ser é garantir-lhes o mais
amplo exercício de seus direitos. A doutrina dos direitos naturais e os ideais da
burguesia européia liberal, portanto, forneceram o argumento para a promulgação
das primeiras declarações dos direitos do homem. (BUSSINGER, 1997, p. 28)
Dadas as condições sócio-políticas do século XVIII, vemos cristalizar a geração dos direitos
individuais, como o direito à vida, às liberdades, à propriedade, e também os direitos à
participação política como corolário do regime democrático que se instalava. Todavia, tais
direitos, ao contrário de garantirem novos paradigmas das relações entre Estado-sociedade,
restringiam-se a delimitar a relação entre Estado-burguesia, sendo esta representada apenas
por homens cidadãos, ou seja, aqueles que possuíssem propriedade. Tal descompasso gerou a
contundente crítica de Marx aos direitos humanos de então, no seu texto “A questão judaica”.
Para ele, “os chamados direitos humanos, ao contrário de direitos do cidadão, nada mais são
do que direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, separado do
homem e da comunidade”. (MARX, 1975, p.30)
É a partir da revolução industrial, com o consequente surgimento da classe trabalhadora e dos
ideais socialistas, que novas condições objetivas possibilitarão o avanço dos direitos humanos
para além da conquista dos direitos individuais. O aparecimento da questão social, marcada
pelo pauperismo generalizado da classe trabalhadora e fruto da desigual apropriação das
riquezas socialmente produzidas pelo trabalho, motivou a problematização política da
necessidade de respostas pelo Estado.
A chamada segunda geração compreende, pois, os direitos sociais consagrados a partir da luta
do chão da fábrica. Direitos que inicialmente resumiam-se a melhores condições de trabalho
expandiram-se para regular uma série de questões até então tratadas como filantropia.
15
O Estado passa a ser visto como agente de processo de transformação e o direito à
abstenção do Estado, neste sentido, converte-se em direito à atuação estatal, com a
emergência dos direitos à prestação social. A Declaração do Povo Trabalhador e
Explorado da República Soviética Russa de 1917, bem como as Constituições
sociais do início do século XX ( ex: Constituição de Weimar de 1919, Constituição
Mexicana de 1917, etc), primaram por conter um discurso social da cidadania, em
que a igualdade era o direito basilar e um extenso elenco de direitos econômicos,
sociais e culturais era previsto. (PIOVESAN, 2004, p. 52)
Vemos, pois, que o início do século passado é marcado pela ampliação do paradigma que até
então vigorava em relação aos direitos humanos, a partir da percepção de que não bastava
garantir direitos individuais e políticos, era necessário, sobretudo, consubstanciar garantias
sociais.
Não obstante as experiências de conquistas de tais direitos se repercutirem em processos
constitucionais de diversos países, não havia até a criação da Organização das Nações Unidas,
em 1945, um consenso mundial sobre o tema. O fracasso da Liga das Nações depois do fim
da primeira grande guerra deu provas disso. A onda conservadora que varreu a Europa após a
guerra, marcada pelo nacionalismo expansionista, pelo anticomunismo e pela intolerância
racista, potencializada pela crise econômica de 29, formaram as bases para movimentos
fascistas que acabaram por provocar a descida ao inferno dos Direitos do Homem. A segunda
grande guerra, entremeada pelo horror do nazismo alemão, vitimou sessenta milhões de vidas
e com elas as conquistas de direito até então alcançadas.
Este período produziu, com brutalidade nunca antes imaginada, a segunda grande
crise dos direitos humanos desde a Restauração européia de 1815-1830, e teve,
como se sabe, resultados muito mais funestos que ela. Não porque estes direitos
estivessem, até então, sendo respeitados – a própria história por sua conquista
demonstra o contrário. É apropriado, contudo, falar-se numa crise dos direitos
humanos nessa época, tanto pela extensão, intensidade e atrocidade das violações
ocorridas como pela afirmação de uma postura de negar validade à titularidade dos
direitos humanos para todos os seres humanos. (TRINDADE, 2002, p. 183)
É para exorcizar esta descida aos infernos, que no dizer de Sachs(1998, p. 155), “os povos e
os Estados democráticos mobilizaram-se para fazer dos Direitos Humanos o fundamento do
sistema das Nações Unidas” e em 1948 publicam a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Ainda que passível de críticas ao seu conteúdo que por vezes capitula à disputa de
interesses dos países envolvidos no pós-guerra, a Declaração é, de forma inconteste, a
afirmação de um novo paradigma ético das relações humanas e sócio-políticas. E, nesse
sentido, não deixa de ser um consenso mundial do valor do homem na máxima kantiana de ser
ele a razão de todas as coisas e como tal portador de todos os direitos inerentes à própria
condição humana.
16
O aperfeiçoamento desse paradigma mundial marca a segunda metade do século passado com
o processo de internacionalização dos direitos humanos a partir da edição de inúmeros
instrumentos internacionais de proteção destes direitos, dentre eles os Pactos dos Direitos
Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos e Sociais, ambos de 1966.
A concepção contemporânea dos Direitos Humanos, reafirmada na última Conferência de
Direitos Humanos da ONU em Viena(1993), os pressupõem, portanto, como uma conquista,
um construído da humanidade para reafirmar o núcleo central da condição humana, qual seja
a dignidade do homem. Isso significa dizer que os Direitos Humanos são concebidos como
“característica geral da condição humana que nenhuma tirania pode subtrair, sua perda é
também a perda das mais essenciais características da vida humana”(ARENDT, 1989, p. 330).
Quando Hannah Arendt conecta Direitos Humanos com a condição humana está a dizer que
afirmar a essência do homem, sua unicidade, sua historicidade, sua capacidade teleológica,
sua consciência do real, é garantir seus direitos humanos. A violação a esses direitos, pois, é
retirar do homem sua própria humanidade.
Importante percebermos que historicamente os direitos humanos têm sido apreendidos,
sobretudo no campo político, por meio de uma dicotomia entre os direitos individuais e os
sociais. Esse movimento se explica pelos interesses e projetos políticos que subjaziam à luta
de classe em cada momento histórico em que os direitos foram conquistados, quando, por
exemplo, sob á égide do liberalismo se proclamaram exclusivamente os direitos e garantias
individuais ou sob a hegemonia socialista quando foram privilegiados os direitos sociais.
O movimento socialista, sob hegemonia do leninismo, nunca concedeu efetiva
importância à defesa e promoção dos direitos fundamentais, em particular os
direitos civis e políticos. Esta desvalorização dos direitos do homem e da cidadania
relaciona-se com o pouco apreço dos socialistas pela democracia burguesa. Para
estes, faz-se necessário privilegiar entre os direitos humanos os direitos sociais, a
partir dos quais seriam definidos os outros direitos. (LYRA, 2002, p. 135-135)
Nessa esteira, é comum que projetos liberais concebam direitos humanos como sendo apenas
os individuais, de pretensão negativa para o Estado (freedom from), enquanto projetos
socialistas tendem a concebê-los como direitos sociais, de pretensão positiva para o Estado
(freedom for).
Todavia, essa oposição, embora justificada historicamente, encontra-se superada na
contemporânea concepção de direitos humanos que, os entendendo como conquista sóciohistórica do homem pela afirmação sua própria condição, os apreende como sendo universais
e indivisíveis.
Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a
crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de
17
direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de
unicidade existencial e dignidade. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos
civis e políticos é condição de observância dos direitos sociais, econômicos e
culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também o são. Os
direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e
inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao
catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais. (PIOVESAN, 2006, p. 18)
Não é outra senão esta a nossa compreensão de Direitos Humanos. É a este todo universal e
indivisível, sem hierarquizações, privilégios ou categorizações que nos reportaremos ao
analisarmos em que medida a violência urbana e o processo de criminalização da pobreza
vem impendido de se realizar.
3. ENTENDENDO O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA URBANA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA
Se ao estudarmos o fenômeno da violência o fizermos pelo prisma da teoria crítica
contemporânea, a qual amplia a análise dessa manifestação social para além da limitada visão
do dano físico subjetivamente motivado, devemos, conseqüentemente entender como um
fenômeno plural, tanto em suas causas, como nas conseqüências e manifestações. Dessa
forma, passaremos a compreender as violências como quaisquer comportamentos que se
utilizem da força física ou poder real ou potencial, contra si próprio ou contra outrem, ou
mesmo contra grupos ou comunidades populacionais, causando qualquer tipo de sofrimento,
dano ou privação (PINHEIRO, 2003).
Diante dessa acepção, todo estudo a respeito da conformação da violência em terras
brasileiras, necessariamente deve se reportar à nossa construção como nação. Inúmeros
estudos apontam a violência como marca estrutural de nossa formação. Como nos ensina
Ribeiro(2006, p.153), “o processo de formação do povo brasileiro, que se fez pelo
entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente
conflitivo”. Para o mesmo autor, de 1500 até hoje, nossa história é marcada por um “estado de
guerra latente”, haja vista a disputa por uma identificação étnica. Todavia, Ribeiro(2006)
aponta outras duas dimensões dos conflitos que marcam nossa formação. Para ele, além da
questão étnica, é preciso destacar a questão racial.
Desde a chegada do primeiro negro até hoje, eles estão na luta para fugir da
inferioridade que lhes foi imposta originalmente, e que é mantida através de toda
sorte de opressões, dificultando extremamente sua integração na condição de
trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de cidadãos com os mesmos
direitos.(RIBEIRO, 2006, p.157)
18
A última modalidade de conflito destacada pelo autor é referente ao componente classista.
Disputa que se estabelece entre os brancos proprietários de terra e os trabalhadores mestiços e
negros. Para Ribeiro(2006), ainda que o componente racista de alguma forma também se faça
presente nas outras dimensões conflitivas, para ele há claramente uma disputa classista na
sociedade brasileira
quando não são contingentes diferenciados racialmente ou etnicamente que se
opõem, mas conglomerados humanos ou estratos sociais multirraciais e
multiétnicos propensos a criar novas formas de ordenação socioeconômica,
inconciliáveis com o projeto das classes dominantes. Canudos é um bom exemplo
dessa classe de enfrentamentos, como a grande explosão dessa modalidade de
lutas.(RIBEIRO, 2006, p. 158)
É preciso percebermos, que a decisão de “colonizar” o Brasil não possuiu outro significado
senão o de expandir a empresa capitalista européia de exploração. Quando tal decisão se dá no
plano de uma sociedade comunal, como era a dos povos primitivos que aqui habitavam,
necessariamente a violência será um fator determinante. Para Faoro (1976, p.107), “o
selvagem americano devia ser subjugado para se integrar na rede mercantil, da qual Portugal
era intermediário. Sem esta providência perder-se-ia o pau-brasil e, sobretudo, a esperança de
metais preciosos se desvaneceria”.
É essa noção de subjugação, de exclusão, de apartheid social, imposta à sociedade brasileira
que coloca indelevelmente a violência como instrumento de operacionalização de um modelo
de organização social.
Ao lado desse traço de nossa formação, há que se ressaltar ainda a imbricada relação entre o
desenvolvimento do sistema capitalista e a conformação da violência, sobretudo aquela que
nos interessa, qual seja, a violência urbana. È impossível ignorar a simbiótica relação entre o
crescimento da criminalidade, sobretudo aquela que se dirige ao patrimônio, e o avanço da
sociedade capitalista e de suas contradições acerca da acumulação desigual da riqueza
socialmente produzida, naquilo que Foucalt (2002) irá conceituar como a passagem de uma
“criminalidade de direitos” para uma “criminalidade de bens”.
Como sabido, entre nós o desenvolvimento do capitalismo não se deu nas mesmas proporções
que nos países de economia central. Ainda que mantendo suas características essenciais, por
aqui, nossa inserção se deu de forma periférica e a serviço do desenvolvimento das economias
européias. Nesse sentido, Behring e Boschetti (2006, p.72) afirmam que o sentido geral da
formação da sociedade brasileira é o fato de que temos “uma sociedade e uma economia que
se organizam para fora e vivem ao sabor das flutuações de interesses e mercados longínquos”.
Além disso, as autoras destacam o peso do escravismo no que tange ao processo de submissão
19
do trabalho ao capital e na lenta consubstanciação do operariado brasileiro. Para elas “a
persistência do trabalho escravo teve impactos importantes no nascimento do trabalho livre e
nas
possibilidades
políticas
de
um
processo
mais
rápido
e
radicalizado
de
transição.”(BEHRING, BOSCHETTI, 2006, p. 77)
Importante tal reflexão, pois nosso entendimento sobre a violência não é outro senão aquele
que a correlaciona com toda a dinâmica econômica-social. É impossível compreender toda a
complexidade das manifestações da violência urbana na contemporaneidade brasileira sem
antes compreendermos como se estruturou e vem se estruturando toda a base sócio-econômica
deste país.
Para nós, a violência urbana desde seus primeiros contornos até os dias atuais, é uma das mais
graves manifestações da questão social. Daí emana a importância de se analisar a
conformação do capitalismo, pois para nós, assim como para Pastorini(2007), a questão social
é fruto das contradições do modo de produção capitalista.
No Brasil, todavia, como fruto de uma inserção subalternizada no capitalismo, o processo de
pauperismo, distintamente daquele exclusivamente causado pela industrialização européia, se
deu de forma atrasada e teve fortíssimo componente racial. Os miseráveis que, nas últimas
décadas do século XIX, passaram a ocupar as ruas das grandes cidades brasileiras eram
maciçamente ex-escravos e não operários como no além-mar. Com o agravamento da questão
social já no século passado por meio do incipiente processo de industrialização, nossas
cidades passam também a ser palco da criminalidade contra o patrimônio, típica de sociedades
capitalistas nas quais a propriedade é o passaporte da integração social. Vem desse momento
histórico a representação social que vincula a negritude e a pobreza com a criminalidade, o
que vem desde então legitimando equivocadas políticas de criminalização da pobreza e da
negritude por parte do aparelho de segurança e justiça de um Estado historicamente marcado
pelo autoritarismo, cuja política de segurança tem sido exclusivamente a da repressão
desqualificada e arbitrária.
Todavia, todas as pesquisas sobre violência urbana no Brasil indicam o recrudescimento desse
fenômeno a partir da década de 60 do século passado. Até então o que se verificava no Brasil
era a excepcionalidade do crime violento. A industrialização acompanhada de um processo
descontrolado de urbanização expôs as contradições inerentes ao sistema capitalista,
aprofundou marcas de nossa formação sócio-histórica e transformou a criminalidade violenta
na principal manifestação da questão social de nossos tempos.
Pedrazzini(2006) aponta que até 1950 apenas 30% da população mundial viviam em zonas
urbanas. Atualmente já são 50% e em 2030 serão 60%. Sem dúvida, um processo que entre
20
nós gerou a territorialização da pobreza e da raça. Cidades passaram a representar a expressão
territorial das desigualdades históricas do Brasil, agora agravadas pela entrada tardia no
capitalismo.
O tempo das cidades construídas pelos homens para os homens ficou para trás(...) a
economia de mercado destrói as sociabilidades operárias para criar o
individualismo dos consumidores. (...) Para qualificar a mutação urbana dos anos
oitenta, que se caracterizou pelo desmoronamento de árduas conquistas realizadas
pela tradição e pelas lutas sociais, criamos a expressão desestruturação urbana.
Vivemos o momento da desconstrução, do desmantelamento e da destruição de um
processo de industrialização, do assentamento de uma modernidade, de um
desenvolvimento socioeconômico, de uma sociedade e talvez até de uma
civilização. (PEDRAZZINI, 2006, p. 62-63)
Este processo acelerado de urbanização, o qual o autor quase denomina de “des-civilização”,
associado à inexistência de um Estado de bem-estar social, ao aparecimento do tráfico de
drogas, livre circulação de armas, corrupção no aparelho de justiça e segurança, forneceu
condições para que a violência urbana tomasse proporções nunca antes verificadas. Pinheiro
(2003) afirma que a partir da década de 70 do século passado houve uma profunda alteração
do padrão de criminalidade urbana no Brasil, marcadamente pela generalização do número de
roubos e furtos, além do “grau maior de organização social do crime; aumento da violência
nas ações criminais; aumento acentuado nas taxas de homicídio e outros crimes violentos; e
aparecimento de quadrilhas de assaltos a bancos.”(PINHEIRO, 2003, p. 35).
Há, nesse contexto, outro elemento que não pode passar ao largo de nossa análise sobre a
generalização da violência. Referimo-nos à conjuntura da economia política das décadas de
80 e 90. Estamos falando do início da consolidação da fase mais evoluída do capitalismo
monopolista,
baseado
na
revolução
tecnológica,
na
acumulação
flexível,
na
internacionalização e mobilidade do capital. Ao mesmo tempo era experimentado o fim da
experiência do bloco socialista e a reorganização do bloco capitalista através do chamado
Estado Neoliberal, com premissas, no dizer de Malaguti(2002), baseadas nas interações
políticas, econômicas e sociais motivadas pelo interesse próprio a fim de manter a “ordem
natural”, e portanto, qualquer intervenção seria considerada indesejável na medida em que
dificulta o estabelecimento dessa ordem e é por isso que as forças do mercado devem ser
livres e o Estado mínimo. Isso significou o retraimento do Estado no campo das políticas
sociais, retirando direitos e aumentando as desigualdades. Para o citado autor, em 1990 a
renda dos 10% mais ricos sobre a renda dos 40% mais pobres era aproximadamente de 5,7%.
Já no final do segundo governo FHC essa relação já era de 6,36%. Para nosso entendimento, o
aumento da desigualdade social é um forte elemento para o agravamento da questão social e,
por conseguinte da violência urbana.
21
É nesse contexto também que passamos a presenciar o tráfico de drogas como realidade nas
grandes cidades brasileiras. Definitivamente, com tudo o que já aqui foi exposto sobre as
condicionalidades da violência, não podemos cair no discurso simplista, como muitos fazem,
de atribuir ao tráfico de drogas a exclusividade pela generalização da violência. Todavia, é
inegável que ambos os fenômenos possuem estreita associação. Inegável também que pela
dimensão lucrativa que o tráfico tomou nas últimas décadas, o mesmo passou a ser também
uma importante fronteira do capitalismo contemporâneo. Daí o envolvimento cada vez maior
de autoridades com o tráfico e suas derivações.
Violência e tráfico de drogas não são equivalentes, embora haja associação entre
eles. A caracterização do tráfico como um mercado ilegal conduz ao uso da
violência como forma de resolução de negócios e conflitos. As atividades do tráfico
aparecem como uma das formas mais lucrativas da economia informal. Os
traficantes contribuem para a geração e expansão do “emprego” e na construção de
um mercado paralelo de trabalho. (FEFFERMANN, 2006, p.35)
O que temos presenciado é que cada vez mais setores populacionais têm sido alijados do
processo democrático, em todas as suas dimensões. Da mesma forma, a estes sujeitos têm
sido negadas inúmeras e salutares formas de sociabilidade. Na contramão dessa corrente,
inegavelmente o tráfico de drogas e a própria violência dele associada têm gerado
possibilidades de acesso a bens de consumo e mesmo a identidades sociais. O fenômeno da
adolescência em conflito com a lei tem dado provas desse processo. Adolescentes
empobrecidos têm encontrado no tráfico de drogas possibilidades de romper com a
invisibilidade e com a negação de sua condição de sujeito.
4. QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E A GÊNESE DE SUA CRIMINALIZAÇÃO
Como sabido, questões envolvendo desigualdades de acesso a bens e riquezas socialmente
produzidos, gerando, por conseqüência, grupos populacionais privados de condições materiais
básicas de sobrevivência, não são fenômenos da contemporaneidade. Ao contrário, a pobreza
como nos adverte Leite(2008) acompanha há muito a história da humanidade. É preciso,
contudo, registrar que tal fenômeno não se conforma de modo singular ao longo do tempo.
Dado seu caráter histórico, a melhor compreensão sobre a pobreza é a aquela que a concebe
como um processo multifacetado, que ganha contornos diferentes em determinados momentos
e em determinadas sociedades.
É compreendendo a pobreza por este prisma, que devemos considerar a profunda
transformação sofrida por este fenômeno social, sobretudo, a partir do século XIX. O fato é
que durante toda a Idade Média prevaleceu o paradigma da naturalidade da pobreza, ancorado
22
na rígida divisão estamental daquela sociedade e encontrando no cristianismo uma das bases
para sua legitimação. Todavia, ainda que natural, a pobreza medieval difere daquela a ser
experimentada pela modernidade, sobretudo, em função de que outrora os pobres não se
encontravam desfiliados, mas possuíam vínculos sociais, e portanto, garantiam certa coesão
social, ainda que estes vínculos se dessem de forma precária em virtude da servidão para com
os senhores ou mesmo como razão para que estes pudessem redimir seus pecados com Deus.
Com o advento da Industrialização, quando então a força de trabalho passa a ser entendida
como mercadoria, a servidão é substituída pelo trabalho livre, o vassalo pelo operário, os
pobres, então, perdem os vínculos que os conectavam com o todo social. No dizer de
Castel(1998), os pobres da modernidade rompem com os vínculos de interdependência a que
estavam sujeitos na era medieval. Para o referido autor, o trabalho livre torna-se o eixo
integrador da sociedade salarial. Por outro lado, a inserção do trabalhador nas fábricas não
significava a superação de sua condição de pobreza, ao contrário, a própria acumulação
desigual de riquezas entre os donos dos meios de produção e os operários, cada vez mais
impingia privações aos últimos.
Porém, ao lado da grande quantidade de pobres e miseráveis que se amontoavam
em cidades que se industrializavam e nas quais, por conseqüência, produziam-se
riquezas num ritmo até então inimaginável, havia outro fato marcante: ficava
evidente que a grande maioria dos indivíduos que se encontravam em situação de
pobreza e de miséria não era composta de vagabundos – pessoas que não trabalham
por decisão supostamente individual –, nem, sequer, de incapacitados para a
atividade laboral, mas sim de operários industriais. [...] Expressando o pensamento
dominante da época a esse respeito, Paugam (1994, p.16) refere-se ao pauperismo
como “[...] um fenômeno de pauperização de massa, durável e permanente, que
encontra sua origem não na ausência de trabalho, mas no próprio trabalho
industrial”. (LEITE, 2008, p. 217-218)
É particularmente nesse momento de generalização da pobreza entre os trabalhadores,
combinada com as péssimas condições nas quais viviam, que deita raízes a associação entre a
pobreza, promiscuidade, doenças e a criminalidade, o que acaba por construir um determinado
modo de intervenção estatal sobre os pobres. O surgimento da chamada “questão social” é
determinante neste processo.
Entendendo a “questão social” como um fenômeno que sempre existiu, e não vinculando-a
necessariamente ao surgimento do capitalismo, Castel(1998), argumenta que a queda do
feudalismo e a conseqüente supremacia do liberalismo e do capitalismo industrial, ensejam a
formulação de uma nova questão social, agora denominada “questão operária”, marcada por
23
uma “nova configuração da pobreza” e pela “indigência móvel”, características do estado de
pauperismo, entendido como a generalização da pobreza na sociedade salarial.
Por outro lado, outros autores, como Pastorini(2007), entendem que na realidade há certa
confusão teórica entre “questão social” e “problemas sociais”. Para esta autora, o que sempre
existiu foram problemas sociais, haja vista que o surgimento da própria “questão social” é um
fenômeno tipicamente moderno, cuja gênese possui estreita correlação com o aparecimento da
classe operária. Isso porque, para esta linha teórica, da qual nos filiamos, há o entendimento
de que não houve apenas o aumento ou a generalização da pobreza na sociedade industrial,
mas houve a problematização social e política dela. As desigualdades, em todas as suas
manifestações tornaram-se alvo de atuação política, o que em muito difere da pobreza
medieval.
É mister compreender como a necessidade social transforma-se em demanda
política. Para isso é de máxima importância não esquecer um outro elemento: os
sujeitos envolvidos nesse processo, aqueles que colocam a questão na cena política.
Esse é, em nosso entender, um elemento fundamental que não se encontra presentes
nos estudos já analisados (principalmente em autores como Castel e Rosanvallon).
É necessário analisar como e quem coloca essa problemática nas agendas dos
governos? Quais são os sujeitos coletivos envolvidos? Autores como Castel e
Rosanvallon, anteriormente trabalhados, não respondem a essas interrogações que
entendemos serem centrais; parece que se trata de um movimento “natural”, ou, no
melhor dos casos, de um conjunto de práticas institucionais que pouco ou nada tem
a ver com sujeitos políticos, mobilizados, organizados etc em definitivo com as
classes sociais e a socialização da política conquistada pelas classes trabalhadoras.
Dessa forma, perde-se a possibilidade de analisar a “questão social” como uma
questão política, econômica, social e ideológica que remete a uma determinada
correlação de forças entre diferentes classes e setores de classes, inserida no
contexto mais amplo do movimento social de luta pela hegemonia. Por isso
entendemos que nessas perspectivas de análises (aqueles que afirmam que a
“questão social” sempre existiu ou o que pensam que sempre existirá) há em
última instância uma naturalização da „questão social.‟”(PASTORINI, 2007,
P.98-99, grifo nosso)
O que é importante nesse processo, destacado pela autora, é o fato de que a pobreza,
especialmente sua generalização, a piora nas condições de vida dos pobres, ao lado do
incremento da violência e das desigualdades, passam a ser entendidos como manifestações da
questão social. Isso é salutar no rompimento com a velha compressão da naturalidade da
pobreza. Quando a classe operária passa a problematizar social e politicamente suas
necessidades, o que se dá com o advento do capitalismo industrial, então se abandona, de
certo modo, a naturalidade da pobreza, que passa a ser compreendida como uma das
conseqüências de um determinado modo de produção, qual seja, o capitalista.
Mas, antes de prosseguirmos, voltemos à análise das associações entre pobreza e vadiagem;
pobreza e doenças; pobreza e criminalidade. Associações estas, que para Castel (1998)
tratam-se de uma construção social, que se consolida, sobretudo, a partir do momento em que
24
o trabalho passa a ocupar o centro gravitacional das relações sociais, haja vista que a
vinculação entre doenças e precárias condições de vida já existia anteriormente decorrente da
epidemia da peste negra, creditada aos pobres. Todavia, a relação pobreza e vadiagem teve
sua gênese na Inglaterra prestes a vivenciar a revolução industrial. Exemplo disso são as
chamadas “Leis dos Pobres”, que não obstante deixarem transparecer que seu destinatário
seriam os pobres, tinham no trabalho sua referência maior. Isso quer dizer que as Leis não se
dirigiam aos pobres como um todo, mas sim aos que não trabalhavam, os “vagabundos” ou os
“inválidos”.
As Leis dos Pobres (Poor Law) formavam um conjunto de regulações précapitalistas que se aplicava às pessoas situadas à margem do trabalho, como idosos,
inválidos, órfãos, crianças carentes, desocupados voluntários e involuntários, etc.
Contudo, a despeito de, na aparência, esse conjunto de regulações se identificar
com a pobreza, era no trabalho que se referenciava.[...] Esse conjunto de leis era
mais punitivo do que protetor. Sob sua regência, a mendicância e a vagabundagem
eram exemplarmente castigadas. Todos eram obrigados a trabalhar sem ter a chance
de escolher as suas ocupações e a de seus filhos. (PEREIRA, 2006, p.103-104)
A representação que se legitima a partir dessa concepção Inglesa do sec. XVII, não é outra
senão aquela de que os pobres eram essencialmente aqueles que não estavam sujeitos ao
trabalho, seja por vontade própria (vagabundos), seja por contingências outras (inválidos).
Como a partir desse momento o trabalho torna-se central na integração social, exercer alguma
atividade torna-se obrigação. Aos que “não queriam” trabalhar dever-se-ia aplicar a repressão,
e aos que “não possuíam condições” para tanto, a assistência.
Concomitante ao processo de industrialização, como aqui já asseverado, ocorre o surgimento
da classe operária e com ela a chamada questão social, que como nos ensina Pastorini(2007,
p.104), “deve ser entendida como conjunto de problemáticas sociais, políticas e econômicas
que se geram com o surgimento da classe operária dentro da sociedade capitalista”. É, pois,
compreendendo a questão social nessa acepção sócio-político-econômica, essencialmente
gestada pelo conflito entre o voraz anseio da burguesia por maiores lucros e a luta do
proletariado pela constituição de direitos, que da mesma forma compreendemos o contexto de
conformação das políticas sociais e por que razão também elas ocupam relevante espaço no
conflito de classe.
Essa problematização sócio-política das manifestações da questão social torna-se mais
contundente com o recrudescimento da luta de classe, na qual os trabalhadores, agora já
inspirados pela ideologia marxista, exigem do Estado respostas à desigual dinâmica do
sistema capitalista. Estamos falando das origens das políticas sociais, cuja conquista, à custa
de greves e demais manifestações por parte da classe operária, em muito contribuiu para que
25
esta fosse concebida como uma “classe perigosa”, contra a qual o sistema policial deve nutrir
especial atenção.
É exatamente esse processo de protagonismo exercido pelos trabalhadores, que agora já
ameaça à estabilidade dos capitalistas e faz com o que Estado abra “concessões” a fim de
manter a ordem, que adjetivará ainda mais a representação sobre os pobres. Ao lado das
visões de mundo anteriores sobre a pobreza – espaço de doenças, promiscuidade e vadiagem –
agora aparece uma nova adjetivação que marcará definitivamente os pobres: perigosos.
Foucault (2002) nos mostra que o surgimento do capitalismo industrial foi muito além de
causar transformações econômicas e políticas, mas também estendeu seus efeitos na seara da
ordenação sócio-jurídica. O autor se refere à passagem de uma “criminalidade de direitos”
para uma “criminalidade de bens”, isso porque, no Antigo Regime as subversões à ordem, os
crimes, se davam na esfera da contestação dos direitos. Assim, os “criminosos” de outrora,
majoritariamente, infringiam a lei em razão de não possuírem privilégios que outras classes
possuíam, encontrando, por esta razão certa legitimação popular para o cometimento do
crime. Todavia, com o advento do capitalismo, Foucault registra que
Na segunda metade do século XVIII o processo tende a inverter. Primeiro com o
aumento geral da riqueza, mas também com o crescimento demográfico, o alvo
principal da ilegalidade popular tende a não ser mais em primeira linha os direitos,
mas os bens: a pilhagem, o roubo, tendem a substituir o contrabando e a luta
armada contra os agentes do fisco. [...] A ilegalidade dos direitos, que muitas vezes
assegurava a sobrevivência dos mais despojados, tende com o novo estatuto da
propriedade, a torna-se uma ilegalidade de bens. Será então necessário puni-la.
(FOUCAULT, 2002, p. 71-72)
Vê-se, pois, que também fruto das desigualdades econômicas do capitalismo, a ilegalidade
dos bens, ou seja, a criminalidade contra o patrimônio passa a ser um fenômeno social
moderno, no qual figuram como “criminosos” os despossuídos, os pobres.
O que estamos dizendo é que, ao lado das problematizações sócio-políticas das manifestações
da questão social, exigindo, por conseguinte, respostas do Estado, via políticas sociais, e
questionando a própria ordem capitalista – o que ensejou a visão dos trabalhadores como
classe perigosa –, a criminalidade contra o patrimônio deixa de ser exceção, como era no
Antigo Regime, e passa a regra na sociedade capitalista, consubstanciando-se como uma das
principais questões a serem enfrentadas pela burguesia e consolidando a vinculação entre
pobreza e criminalidade. Leite(2008) reforça essa idéia, para quem
De considerações desse tipo a estabelecer ligações entre a pobreza, de um lado, e a
criminalidade e risco para a paz social, de outro, bastava um passo. Segundo
Bresciani (1989, p.51), para grande parte dos franceses do início do século XIX,
“[...] praticamente inexiste diferença entre homem trabalhador, pobre e criminoso.
Na verdade, constituem níveis de uma mesma degradada condição humana, a do
trabalhador dos grandes centros urbanos. Geremek (1989, p.257) observa que na
26
Europa ocidental era comum, naquele Século, identificar a pobreza com “[...]
ameaça à ordem e obstáculo ao correto funcionamento do sistema [...]” sendo ela
considerada “[...] fenômeno perigoso para o equilíbrio social”. O mesmo autor
afirma ser disseminada, nessa época, a idéia segundo a qual “[...] a miséria e a
delinqüência são interdependentes [...]”(GEREMEK, 1989, p.257). (LEITE, 2008,
p. 220)
É nesse contexto, portanto, que o aparato do Estado Liberal clássico delineia suas principais
formas de intervenção em relação à pobreza: assistencialismo focado nos pobres não-aptos ao
trabalho e repressão para os vadios.
Voltemos ao processo de desnaturalização da pobreza e suas conseqüências para a
conformação de um novo modelo de Estado e, por conseguinte, de intervenção em relação à
pobreza. Falávamos que sob a égide liberal, intervir na pobreza significava “reverter as leis da
natureza”(BEHRING, 2006), todavia, com o pauperismo e com a questão social, os
trabalhadores passam a exercer determinado protagonismo sócio-político, movimento este que
vai desnudar o sistema capitalista como gerador das mazelas sociais. Analisemos mais de
perto o que significou esse protagonismo operário, sobretudo, na conformação das chamadas
políticas sociais.
Ainda que se reconheçam experiências pontuais anteriores, é notório o fato de que as Políticas
Sociais, entendidas como sendo formas de o Estado intervir nas manifestações da questão
social, são um fenômeno contemporâneo à sociedade capitalista (BEHRING, 2000),
marcadamente contraditória e na qual o papel do Estado e suas formas de intervenção, seja no
plano econômico ou social, passam a ser elementos centrais de disputa de classe.
É evidente, portanto, que, no seio do surgimento da sociedade capitalista, a instituição de
políticas sociais advém do reconhecimento da existência da chamada “questão social” e da
necessidade de construir respostas a ela. Para os liberais, por um lado, são concebidas como
uma mera concessão do Estado com a finalidade de compensar os malefícios trazidos pelo
sistema capitalista. Isso porque, o funcionamento do mercado, enquanto instância distributiva,
naturalmente produz desigualdades possibilitando oportunidades diferenciadas. Diante desse
desequilíbrio entre os que recebem mais e os que recebem menos ou nada, surge a
necessidade de o Estado intervir pontual, corretiva e compensatoriamente sobre aqueles que
naturalmente foram prejudicados pelo mercado. Note-se que para os tradicionalistas, a política
social teria um caráter meramente distributivo e não redistributivo, segundo concepção de
Pereira(2006).
A distribuição tem como característica principal não colocar em confrontação direta
possuidores e não-possuidores de bens e riquezas, pois transfere para os
despossuídos recursos acumulados em fundo público provenientes de várias fontes.
Já a redistribuição constitui, nos termos de Lowi(1963), uma arena real de conflitos
27
de interesses, pois implica em retirar bens e riquezas de quem os possui, para
transferi-los a quem não os possui. (PEREIRA, 2006, p.17).
Na contramão da via tradicional, encontramos a perspectiva marxista de política social, que
através do método de análise crítico-dialético, marcado pela contradição e totalidade, analisa
essa categoria através do binômio “concessão-conquista” e dessa forma elimina o
reducionismo da perspectiva tradicional.
Para a visão marxista, como a política social relaciona-se diretamente com a questão social e
sendo esta expressão da forma desigual de apropriação do modo de produção capitalista, é
preciso de igual maneira compreender a dinâmica de funcionamento das políticas sociais
levando-se em consideração as determinações do desenvolvimento do capitalismo.
Nessa esteira, a tradição marxista analisa as políticas sociais como sendo resultado, ao mesmo
tempo em que cumpre determinadas funções, nas imbricadas relações existentes entre a classe
burguesa, o Estado e os proletários. É em razão dessas funcionalidades e das contradições
inerentes à sua conformação, que a análise marxista incorpora a concepção das políticas
sociais como espaço privilegiado da luta de classes, onde pode haver elementos concessivos,
funcionais à classe dominante, mas também há, sobretudo, protagonismo da classe
trabalhadora.
5. A POBREZA E SUA CRIMINALIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA
Não obstante dentre nós o processo de industrialização e suas conseqüências sócio-políticas
só terem sido experimentados no séc. XX, como fruto de uma sociedade que opta pela
desigualdade desde o seu nascedouro, a pobreza no Brasil deita suas raízes antes mesmo do
surgimento das contradições capitalistas. Uma nação que se funda na escravidão, na qual o
Direito não se edifica para garantir equidade, mas privilégios, é uma nação cuja pobreza –
privação material e privação de direitos como assevera Telles(1993) – esteia-se na própria
condição do não-homem, do não-cidadão. Talvez por isso mesmo durante todo o período
escravista, a pobreza não tenha se constituído uma questão pública da nação brasileira. Porque
ainda se constituía uma realidade rural e que majoritariamente restringia-se aos escravos ou
aos negros “alforriados”, ou seja, uma realidade que atingia aos despossuídos de alma e de
direito. No dizer de Lima(2005),
Desde o período colonial até meados da década de 1950, o pensamento social
brasileiro caracteriza-se por uma fase ideológica, etapa de um longo processo de
autoconsciência de um povo em que as interpretações sobre a vida social brasileira
postularam a inferioridade das classes pobres como responsáveis pelo atraso do
país. [...] o caboclo miserável é exemplo do mestiço que degenera, resultado do
amálgama imperfeito das raças e do clima. Os principais traços de seu caráter é a
indolência, a apatia [...] sem a propriedade da terra, que determina o modo de vida
nômade, ausente de integração estável e permanente nas estruturas sociais,
28
“acampam” em palhoças de sapé, vivendo “uma vida semi-selvagem” dentro de um
quadro de precariedade material para satisfação de necessidades mínimas. (LIMA,
2005, p.133-135)
Discorrendo sobre essa indelével caracterização da conformação da sociedade brasileira,
marcada pelo autoritarismo e pela desigualdade, importante contribuição faz Telles(1993) ao
afirmar haver entre nós um certo “enigma da persistência e do crescimento da pobreza”. A
análise da autora acaba por decifrar tal enigma conjugando duas grandes causas: por um lado
o ranço de uma “gramática social excludente” e de outro o paradoxo de uma cidadania
regulada. Isso significa dizer que, para a autora, a pobreza no Brasil não decorre
essencialmente de nossa inserção no capitalismo, mas sim da repercussão nesse processo do
modo pelo qual as nossas relações sociais se estruturaram.
É certo que a sociedade brasileira carrega o peso da tradição de um país com o
passado escravagista e que fez sua entrada na modernidade capitalista no interior de
uma concepção patriarcal de mando e autoridade, concepção esta que traduz
diferenças e desigualdades no registro de hierarquias que criam a figura do inferior
que tem o dever de obediência, que merece favor e proteção, mas jamais direitos.
No entanto, se tradições persistem, isso não independe do modo como aqui a
cidadania foi formulada e institucionalizada. E é nisso que se aloja o paradoxo da
sociedade brasileira. Paradoxo de um projeto de modernidade que desfez as regras
da república oligárquica, que desencadeou um vigoroso processo de modernização
econômica, social e institucional, mas que repôs a incivilidade nas relações sociais.
(TELLES, 1993, p. 10-11)
Estamos falando, pois, que durante os três séculos de Brasil Colônia a Império, a pobreza é
tratada como não-lugar, e os pobres como não-sujeitos. Não se trata aqui, frisemos, da
pobreza que já era experimentada na Europa fruto da industrialização e que tinha no
pauperismo sua expressão maior. Nossa pobreza era aquela advinda da deliberada privação de
bens e de direitos de parte da população vista como inferior pela elite colonial.
Analisando o período de 1880 a 1924, portanto a transição do Império escravocrata para a
República abolicionista, Adorno (1990) aduz que as leis abolicionistas, referindo-se ao fim do
tráfico negreiro, lei do ventre-livre, do sexagenário e finalmente a abolição, levaram a uma
“invasão” de pobres nas cidades brasileiras, impedindo, dessa forma, o “progresso” das
mesmas. Escravos que haviam perdido o vínculo com o seu senhor, que não eram mais
obrigados a trabalharem, agora vagavam pelas ruas das grandes cidades. Ao lado disso, uma
incipiente indústria começa a florescer o que consolida o processo de urbanização, a ponto de
que entre a década de 1890 a 1900, a cidade de São Paulo aumentou sua população em 269%
(ADORNO, 1993, p-12).
Isso implicou no processo de heterogeinização da cidade, que passa a vivenciar o fato de que
“na mesma rua, cruzavam-se cotidianamente a „aristocracia‟ e a „burguesia‟, „classes médias‟
29
e o „proletariado urbano‟, o „bacharel‟ e a ralé inculta[...] enfim, o citadino e o
tabaréu”(ADORNO, 1990, p.11). É na direção de fazer valer a hierarquia social nessa nova
cidade, o que de alguma forma fora perdido com a abolição, que vai se configurar o processo
que o autor denomina de “filantropia higiênica” por meio de uma “cruzada civilizatória”
contra os pobres. Era preciso não apenas civilizar os indivíduos, mas também modernizar o
espaço público, o que desemboca na “territorialização da pobreza” no Brasil, uma vez que a
segregação social agora se exprime por meio da segregação territorial. É como se as senzalas
houvessem se transformado nos cortiços, inicialmente, e logo depois das Favelas. Analisando
o surgimento das favelas no Brasil, Valladares(2000) destaca indícios da representação social
que se tinha sobre esses espaços no início do século XX:
É porém o morro da Favella, repito, que entra para história. Já em 1900 o Jornal do
Brasil denunciava estar o morro “infestado de vagabundos e criminosos que são o
sobressalto das famílias”. Esta é também a visão expressa por um delegado de
polícia, segundo informa Bretas (1997, p.75): “Se bem que não haja famílias no
local designado, é ali impossível ser feito o policiamento porquanto neste local,
foco de desertores, ladrões e praças do exército[...]”. (VALLADARES, 2000, p.8)
Se, por um lado era preciso modernizar os espaços públicos como requisito do progresso, o
que acaba gerando a territorialização da pobreza, por outro era preciso pôr em curso a
civilização do indivíduo, o que se dava na direção de nele incutir a ideologia do trabalho, de
fazê-lo disposto a vender sua força de trabalho. No dizer de Valladares(1991, p.89), “A
importância atribuída à ética do trabalho se explica, em segundo lugar, pela necessidade de
criação de um contingente de trabalhadores assalariados imprescindíveis ao processo de
industrialização”. O indivíduo civilizado é o indivíduo trabalhador, concepção esta que está
na origem da chamada “cidadania regulada” tão bem trabalhada por Telles(1993), segundo a
qual acessará o status de cidadão, possuidor, portanto, de direitos, o indivíduo trabalhador.
Percebe-se, pois, que neste momento a concepção de pobre recai necessariamente sobre
aqueles que não possuem trabalho, ou seja, os vadios, contra os quais se deve levantar a força
policial. Segundo Adorno(1990, p.15), “em 1901, a cidade de São Paulo contava com 239.820
habitantes, dos quais apenas 50.000 constituíam o operariado fabril”. Isso reforçava a
dicotomia entre pobre, que era vadio, e o trabalhador, que era operário, uma vez que o
processo de pauperização experimentado pelas grandes cidades brasileiras nesse momento se
abatia com maior intensidade sobre aqueles que não possuíam vínculo laboral.
Ainda analisando a pobreza nesse período, importante consideração faz o mesmo autor a
respeito do processo de criminalização da pobreza, haja vista a centralidade exercida pela
polícia na “filantropia higiênica”. Para ele,
30
Não resulta estranho que as delegacias de polícia tenham ocupado um papel
“civilizatório” nesse processo de construção de uma ordem contratual. [...] Frente
ao quadro de adversidades, aparelhava-se as instâncias de controle, intervenção e
saneamento moral. Polícia e Justiça receberão do Estado apoio material e humano
visando dotá-las de instrumentos adequados para conter a desobediência civil. [...]
Ao longo do período analisado, a criminalidade agravou-se e seu controle tornou-se
mais complexo. [...] Ao lado da criminalidade adulta, a presença de crianças nesse
território é a fonte de preocupação desde o último quarto do século XIX.
Referências aqui e acolá aludem aos “menores vadios, mendigos e meninas
prostitutas”. (ADORNO, 1993, p. 10, p.16)
A centralidade que a “ética do trabalho” passa a desempenhar nas definições das relações
sociais brasileiras na virada do século XIX para o século XX não se restringe à correlação
entre a pobreza e o não-trabalho, mas leva o aparato estatal a “criminalizar” no Código
Criminal a vadiagem, entendida como ato de deixar de fazer uma atividade para ganhar a
vida, ou seja, como a pobreza era uma conseqüência da opção pela vadiagem, e como todos os
vadios eram pobres, logo, o que se criminaliza não é outra coisa senão a própria pobreza.
Parece-nos aqui repousar a gênese do processo de criminalização da pobreza na sociedade
brasileira. Como, dentre nós, consolidou-se a concepção de que a pobreza seria uma opção
pessoal advinda da não-subordinação ao mundo do trabalho, especialmente pelos negros e
mestiços, quando se criminaliza a vadiagem o que se intenta, na verdade, é criminalizar a
condição de ser pobre.
Discorrendo sobre esse processo, Valladares(1991), com propriedade, afirma que
Desde a época Imperial, quando foi aprovado o Código Criminal que considerava,
entre outros, como crimes policiais a prática da vadiagem e da mendicância, a
polícia usava e abusava do livre-arbítrio, prendendo freqüentemente aqueles que
perambulavam pelos espaços públicos. Eram considerados vadios aqueles que não
possuíam ocupação honesta e útil de que pudessem subsistir.[...] a vadiagem, a
ociosidade e a pobreza em suma, eram pois concebidas como de responsabilidade
individual. O pobre ou vadio assim o eram porque se recusava a vender sua força
de trabalho no mercado capitalista, opondo-se a acatar a ética do
trabalho.(VALLADARES, 1991, p. 87, p.92)
Importante ressaltar que com o desenvolvimento industrial brasileiro, sobretudo a partir de
1930, as configurações em torno da pobreza sofrerão alterações significativas. Enquanto no
início século prevalecia a vinculação entre pobreza e vadiagem, como aqui já registrado, a
passagem de uma economia agrária para uma economia urbano-industrial, já nas primeiras
décadas da segunda metade do século passado, gerava massas urbanas que não conseguiam
se inserir no mercado de trabalho, fazendo com que fosse desconstruída a percepção da
pobreza como responsabilidade individual do “vadio” que não quer se submeter ao trabalho.
A partir dessa concepção, os pobres não são mais tidos como ociosos ou vadios,
passando a ser compreendidos enquanto massa dos excluídos, dos marginalizados,
colocados na periferia do sistema econômico com o direito de participação restrito,
quando muito, à situação de subemprego. [...] O termo “favelado” passa a ser
31
sinônimo de “pobre” e o espaço-favela ganha atributos muito semelhantes àqueles
associados, décadas antes, ao cortiço. (VALLADARES, 1991, p. 98)
O modelo de desenvolvimento econômico do país, essencialmente incrementado durante o
período militar, de incentivo à industrialização baseada na substituição das importações e
altamente concentrador de renda, ao mesmo tempo em que conseguiu êxito registrando
crescimento econômico, acelerou o processo de desigualdades sociais e reafirmou o processo
de urbanização como expressão territorial da segregação social. A crise econômica mundial
na década de 70, sobretudo motivada pela revolução tecnológica afetando diretamente a
manutenção da taxa de lucro do capital, repercutiu na economia brasileira na década de 80,
gerando forte estagnação dos setores produtivos, marcados por um histérico processo
inflacionário, quadro que foi decisivo para a conformação de um novo pauperismo entre nós.
A pobreza incide maciçamente até mesmo nos trabalhadores regularmente
empregados! Em 1980 de 4,4 milhões de famílias classificadas como “miseráveis”,
3,2 milhões tinham todos os seus membros incorporados no mercado formal, como
revelou o surpreendente estudo de Pastore et alii (1983). O salário mínimo, em
crescente deterioração há inúmeras décadas, apresentando uma evolução negativa
acentuada desde o final dos anos 70, acabou por levar uma sobrecarga de trabalho
por meio da extensão da jornada de trabalho e da mobilização de crianças em idade
escolar, aposentados, maiores de 70 anos. (VALLADARES, 1991, p.106)
Como conseqüência desse recrudescimento das desigualdades sociais, diversas manifestações
da questão social passam a fazer parte do cotidiano das grandes cidades brasileiras, sendo a
violência urbana talvez a mais eloqüente delas.
Assim, a partir de 1989 a morte violenta é a principal causa de morte no país, com
índices de homicídio no Rio de Janeiro, em São Paulo e Recife atingindo 40 para
cada 100.000 habitantes, ao passo de que o índice nacional supera 20 para cada
100.000 (ou seja, duas vezes o índice norte-americano do início dos anos 90 e vinte
vezes o nível dos países da Europa ocidental). (WACQUANT, 2001, p. 8)
Com a escalada da criminalidade concomitante ao aumento da pobreza, atrelada à cultura
autoritária institucionalizada no período militar, ressurge a velha representação da direta
associação entre pobreza e criminalidade. Estamos, pois, diante das bases da moderna
criminalização da pobreza. Todavia, as determinações dessa nova criminalização passam pela
estratégia montada pelos países de economia central, especialmente Estados Unidos e Reino
Unido, para garantirem a retomada do crescimento da taxa de lucro do capital pós-crise dos
anos 70. Referimo-nos ao desmonte do Welfare State por meio da reestruturação neoliberal,
com premissas, no dizer de Malaguti(2002), baseadas nas interações políticas, econômicas e
sociais motivadas pelo interesse próprio a fim de manter a “ordem natural”, e portanto,
qualquer intervenção seria considerada indesejável na medida em que dificulta o
32
estabelecimento dessa ordem e é por isso que as forças do mercado devem ser livres e o
Estado mínimo.
O que se constata, portanto, é que a partir da crise do capital da década de 70, que no dizer de
Behring(1998), citando Mandel, se conformou como uma clássica crise de superprodução haja
vista o aprofundamento do descompasso entre a expansão da produção, com o incremento
tecnológico, e a queda da taxa de consumo, em função do desemprego estrutural e a
diminuição real dos salários. Ou seja, a contradição entre a superprodução de valores de
uso(mercadorias) e não-realização dos valores de troca(circulação das mercadorias)
conforma-se na essência da queda na taxa de lucro do capital na segunda metade do século
passado.
Obviamente, que se uma crise do modo de produção capitalista gera a perda da lucratividade
dos donos dos meios de produção, causa desproporcionalmente por outro lado rebatimentos
na classe trabalhadora. A perda de alguns milhões de dólares para os muitos capitalistas pode
ao máximo significar a saída da lista da revista Forbes dos empresários mais ricos ou mais
bem sucedidos do mundo, ao passo que a perda do emprego para o trabalhador pode levá-lo à
total indigência.
Como não pensar no recrudescimento das manifestações da questão social quando, dados da
OCDE citados por Behring(1998) indicam que no ano de 1976 os países de capitalismo
central possuíam cerca de 17 milhões de desempregados, já em 1982 o número saltava para
30 milhões.
Neste sentido, vale aqui relembrar a análise de Engels por ocasião do discurso de Elberfeld
quando apresentava a generalização da criminalidade como conseqüência de um modo de
produção que incita a individualidade, a concorrência, a própria “guerra de todos contra
todos” e o crime contra o patrimônio como forma de acesso a bens de consumo negados à
maioria da população.
A sociedade atual, que alimenta a hostilidade entre o homem individual e todos os
outros, portanto, produz uma guerra social de todos contra todos que,
inevitavelmente, em casos individuais, nomeadamente entre as pessoas sem
instrução, assume uma forma brutal e bárbara de violência - a de crime. A fim de
proteger-se contra a criminalidade, contra atos de violência direta, a sociedade
exige um sistema extenso e complexo de órgãos administrativos e judiciais, que
exige uma imensa força de trabalho. (...) Mesmo agora, os crimes passionais estão
se tornando cada vez menos em comparação com os crimes calculados, os crimes
de interesse - os crimes contra a pessoas estão em declínio, crimes contra a
propriedade estão a aumentar. Em uma sociedade comunista os crimes contra a
propriedade vão cessar por vontade própria, onde todos recebem o que ele precisa
para satisfazer a sua necessidade natural e seus impulsos espirituais, onde
gradações e distinções sociais deixam de existir. (ENGELS, 2009)
33
Importante percebermos que este movimento relatado por Engels(2009) em 1845, qual seja, o
do aumento da criminalidade violenta contra o patrimônio, e também reforçado por
Focault(2002), referente às primeiras conseqüências da questão social a partir do pauperismo,
se mostra como um processo imbricado às conformações do capital e do próprio Estado, por
via de conseqüência. Nessa esteira, com a crise do capital acima relatada, novamente se
aprofunda a correlação entre o agravamento das condições materiais da classe trabalhadora
com o recrescimento da violência. Por seu turno, o Estado, na fase do capitalismo
monopolista avançado, atuando como instrumento dos monopólios e fazendo do sistema
tributário um meio de transferência do produto social para financiar a produção dos grupos
industriais, irá responder a esta nova conjuntura de maneira bastante particular.
A fim de retomar o crescimento da taxa de lucro, Behring(1998) nos indica que o capital se
reestruturá em duas grandes dimensões. No campo da produção e no campo público. No que
tange à reestruturação produtiva, foram eliminadas atividades menos lucrativas, aprimoradas
técnicas de produção mais avançadas, favorecidos os produtos com maior procura, abertos
novos mercados consumidores e basicamente o aumentada a exploração do trabalho e este
generalizadamente desregulamentado.
Já no que tange ao papel do Estado, essencial para o capitalismo monopolista avançado, era
preciso instrumentalizá-lo como indutor da retomada dos lucros. A partir da justificativa de
que a crise que se vivia havia sido causada, sobretudo por um descompasso fiscal do Estado,
que arrecadava cada vez menos e gastava cada vez mais e majoritariamente com as políticas
sociais advindas do Welfare State, autores como James O‟Connor, citado por Behring(2002),
passam a legitimar a redução das despesas do Estado e a ampla utilização do orçamento
público, com a entrada da iniciativa privada em setores até então restritos ao setor público,
como forma de saída da crise.
È certo, portanto, que se a crise é causada preponderantemente por uma questão fiscal, se a
taxa de lucro do capital se houve em queda em função de um Estado que gastava
demasiadamente com o social e perdia progressivamente capacidade de arrecadação, a saída
deveria ser pela reestruturação do Estado.
É seguindo esta análise que em meados da década de 70 e 80 do século passado o Estado,
essencialmente nos países de capitalismo central, passa a se adequar com vistas a induzir ao
máximo a retomada do crescimento econômico. Assim, o chamado ideário neoliberal
conjugou estratégias que, segundo esta concepção, seriam capazes de tornar o Estado um
eficaz indutor da retomada de lucros do capital.
34
O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de
romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os
gastos sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser
a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina
orçamentária, com a contenção dos gastos com o bem-estar, e a restauração da taxa
“natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho
para quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para
incentivar os agentes econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de
impostos sobre rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, uma nova e
saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas, então às
voltas com uma estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e
Beveridge, ou seja, a intervenção anticíclica e a redistribuição social, as quais
haviam tão desastrosamente deformado o curso normal da acumulação e do livre
mercado. O crescimento retomaria quando a estabilidade monetária e os incentivos
essenciais houvessem sido restituídos. (ANDERSEN, 1995, p. 11)
Vemos, portanto, que a motivação da reestruturação do Estado durante a crise da década de 70
foi se pôr a serviço do capital, não só ignorando a condição dos milhões de trabalhadores
desempregados, como se pondo também na condição de seu algoz ao desregulamentar as
relações de trabalho e se retirar da garantia de direito por meio da retração dos gastos com
políticas sociais.
É certo que neste contexto de generalização das desigualdades, alimentada por uma clara
opção da classe dominante, é a própria manutenção da coesão social que se ameaça com a
enormidade de desempregados, muitos dos quais não serão mais absorvidos formalmente pelo
mercado de trabalho reestruturado. O Estado, por sua vez, não tratará tal risco de forma
desacautelada. Se a lógica agora o impedia de evitar a fratura por meio das políticas sociais
como outrora, haja vista terem sido elas, para a ótica do capital, as grandes vilãs da crise
fiscal, era preciso intervir de outra forma para conter o perigoso excedente da classe
trabalhadora.
O caminho escolhido foi deliberadamente o da repressão. Se não se poderia mais manter a
legitimação do capitalismo por meio do Welfare State – que pressupunha o consenso da classe
trabalhadora sobre a tese da compatibilidade entre capital e distribuição de riqueza – agora
obter-se- ia tal “legitimidade” pela força.
Nesse sentido, na pós-crise dos anos 70, novamente emerge a vinculação entre pobreza e
criminalidade. Era preciso endurecer a atuação do Estado-policial nas áreas empobrecidas e
contra os empobrecidos para que estes se mantivessem sob controle e, por via de
conseqüência, a própria dinâmica da acumulação. Analisando este processo na sociedade
americana, Wacqüant(2007) identifica três funcionalidades no crescimento explosivo da
punição.
No plano mais baixo da escala social, o encarceramento serve para neutralizar e
estocar fisicamente as frações excedentes da classe operária, notadamente os
35
membros despossuídos dos grupos estigmatizados que insistem em se manter “em
rebelião aberta contra seu ambiente social” – para retomar a provocativa definição
de crime, proposta há um século, por W.E.B. Du Bois, em The Philadelphia Negro.
Um degrau acima, a expansão da rede policial, judiciária e penitenciária do Estado
desempenha a função, econômica e moralmente inseparável, de impor disciplina do
trabalho assalariado dessocializado entre frações superiores do proletariado e os
estrados em declínio e sem segurança da classe média, através, particularmente, da
elevação do custo das estratégias de escape ou de resistência, que empurram jovens
do sexo masculino da classe baixa para setores ilegais da economia de rua. Enfim, e
sobretudo, para a classe superior e a sociedade em seu conjunto, o ativismo
incessante e sem freios da instituição penal cumpre a missão simbólica de reafirmar
a autoridade do Estado e a vontade reencontrada das elites políticas de enfatizar e
impor a fronteira sagrada entre cidadãos de bem e categorias desviantes, os pobres,
“merecedores” e os “não-merecedores”, aqueles que merecem ser salvos e
“inseridos”(mediante uma mistura de sanções e incentivos) no circuito de trabalho
assalariado instável e aqueles que, doravante, devem ser postos no índex e banidos,
de forma duradoura.(WACQÜANT, 2007, p. 16-17)
É essa lógica punitiva, que ressurge no seio da reestruturação produtiva e da reforma do
Estado norteado pelo neoliberalismo, que será uma das principais intervenções do Estado em
relação à pobreza. Concebendo os trabalhadores miseráveis como não mais integrantes da
sociedade regida pelo capital e partindo da certeza de que não há mais possibilidade de
reintegrá-los a esta nova conformação do mundo do trabalho, o Estado passa a focalizar
nesses sujeitos a atuação da prisão-segregação.
Importa dizer que no contingente de desempregados pobres, que não mais geram lucro para o
capital, os adolescentes e jovens assumem papel de destaque para a intervenção punitiva do
Estado. Isso porque, além das questões econômicas aqui já expostas, há inúmeras outras
condicionalidades que obstaculizam o acesso ao mercado de trabalho do adolescente e do
jovem, a começar pela inexistência das políticas sociais básicas com vistas à emancipação,
tais como educação, saúde e moradia, além do paradigma legal dos direitos humanos de
criança e adolescente com a proibição do trabalho infantil e da rígida regulamentação do
trabalho do adolescente.
È, portanto, prova inequívoca deste movimento em direção à consolidação de um Estado
Penal a multiplicação dos estabelecimentos prisionais, a superlotação dos mesmos e o absurdo
crescimento do número de encarcerados. Segundo Wacqüant(2007, p. 14) nos Estados Unidos
houve, nos últimos 25 anos, um crescimento de cinco vezes da população carcerária. No caso
brasileiro, dados do Sistema de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça,
disponíveis na página do órgão na internet, em 2000 o Brasil contava com 232.755 presos,
entre provisórios e condenados. Já no ano de 2008, o número chega a impressionantes
451.429 detentos. Só no primeiro semestre de 2009, foram feitas 18.378 novas
prisões(INFOPEN, 2009).
36
No que se refere à delinqüência juvenil, o Brasil não experimentou ainda o paradigma
inovador trazido pelo Estatuto. Dados da Secretaria Especial dos Direitos Humanos –
SEDH(CONSELHO, 2006) revelam que de 1996 a 2006 houve crescimento de mais de 300%
no número de adolescentes com a liberdade restrita, com um salto de 4245 para 14074. São
Paulo lidera o „ranking‟, concentrando 50% da população adolescente encarcerada do País,
seguido pelo Rio Grande do Sul (8%) e Rio de Janeiro (7%). No Espírito Santo o contexto
não é outro, segundo o relatório final da CPI da criança e do adolescente o número de internos
em 2003 era de 147, em 2004 passou para 221 e em 2005 o patamar foi de 236. A Secretaria
Especial aponta ainda um déficit de mais de três mil vagas.
Contemporaneamente, pois, o que temos experimentado é a retração do Estado no seu papel
garantidor de direitos, por meio do processo de mercantilizarão destes, que passam a ser
considerados “serviços” acessados via mercado. Por outro lado, a agudização da questão
social, que deveria ser enfrentada por meio de políticas sociais universais e de redistribuição
de renda, passa a ser objeto de intervenção policial. No dizer de Wacqüant (2001, p.7), “a
penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar com „mais Estado‟
policial e penitenciário o „menos Estado‟ econômico e social”. Nesse sentido, a atual ameaça
de fratura social em virtude das novas manifestações da mesma questão social tem sido
enfrentada, diferentemente de outrora, por meio de um Estado penal, que objetiva garantir a
coesão social por meio da força, da coerção, da punição, sendo esta dirigida essencialmente
para as “classes perigosas”, que por esta concepção, em última instância, são as que mais
riscos oferecem à dita coesão.
37
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos ao longo de nosso estudo que, optando-se pela lente da totalidade e historicidade, a
melhor forma de compreender o fenômeno da violência é conectando-a com o desenrolar da
sociedade capitalista. Somente compreendendo a criminalidade violenta, que hoje paralisa o
país, seja pela sensação de insegurança, pelo medo, pela opressão do tráfico, pela descrença
política, etc. como mais uma das inúmeras manifestações da questão social é que podemos
construir diagnósticos verdadeiros e caminhos possíveis.
Dentre nós, como também vimos neste estudo, a violência, o comportamento humano que
causa dano ou privação a outrem, é uma das muitas marcas perenes na nossa formação
enquanto nação. O genocídio dos povos originários e os quase quatro séculos de escravidão
são cicatrizes que ainda hoje trazemos no corpo deste país, servindo de base para inúmeras
outras formas de violência e nos impedindo de virarmos definitivamente algumas páginas de
nossa história. Na sociedade brasileira, a questão social não pode, como bem delimitou
Faoro(1976), ser resumida à questão de classe, é preciso sempre registramos que
potencializando o conflito de classe no Brasil, há a questão racial. Não é sem resposta o fato
de que no Brasil a miséria é majoritariamente negra. Não é sem explicação o porquê de
termos um sistema prisional e sócio-educativo aprisionando negros.
A expressão mais contundente do modo de produção capitalista que é o acesso diferenciado
por classe à riqueza, a bens e serviços, no Brasil, por seu ingresso tardio no sistema
capitalista, o aquinhoamento diferenciado foi conformado entre brancos e negros, entre casa
grande e senzala.
O pauperismo que nos países de capitalismo central é conseqüência direta da revolução
industrial, por aqui deita origens no fim da escravidão e na ocupação massiva das cidades por
negros ex-escravos, agora negros favelados. A pobreza brasileira se revela assim como uma
deliberada privação de riquezas, bens e serviços por parte da elite branca. Nesse cenário,
como falar em cidadania? Como pugnar por Direitos Humanos? Não havia minimamente
condições objetivas para que o nosso Direito, e da mesma forma o próprio Estado, não se
afirmassem como se afirmaram, ou seja, como instrumentos de garantia de privilégio, de
manutenção de um modelo de sociedade partida, sobretudo, entre brancos ricos e negros
pobres.
Em uma sociedade movida pelo capital, cuja única forma de inserção se faz mediante o poder
de compra, quando este é deliberadamente negado à maioria da população, é de se esperar que
formas alternativas sejam construídas. A criminalidade violenta das grandes cidades
38
brasileiras, perpassada pelo tráfico de drogas, tem se revelado como uma dessas alternativas.
Como ignorar o fato de que são as oportunidades financeiras provenientes do crime a
principal motivação para que crianças e jovens empobrecidos digam sim a este caminho?
Reconhecer essa processualidade exigiria da sociedade brasileira, e por via de conseqüência
do próprio Estado, novas respostas. Exigiria políticas efetivas de promoção dos direitos, que
em nossa realidade passa necessariamente por redistribuição de riqueza e por políticas
compensatórias pelas históricas negações. Reconhecer tudo isso exigiria a difícil tarefa de
inversão de prioridades governamentais, transformando o fundo público não mais em
mecanismo de transferência de riqueza social para grupos privados nacionais ou
internacionais, mas em instrumento de promoção da dignidade humana do povo brasileiro.
Este caminho tem se mostrado impraticável para nossa elite política. Mais fácil tem sido
entender de forma míope a violência e consequentemente enfrentá-la de forma distorcida.
Tem sido utilitário para o Estado brasileiro, legitimado por uma cultura sócio-política
reacionária, ver apenas as expressões cotidianas da violência urbana, sem problematizar suas
causas, sem querer alterar suas determinações, e assim, passa a entendê-la como uma guerra
diária travada entre mocinhos e bandidos, cujo melhor final deve sempre ser a morte do
bandido.
Se a violência é vista como uma guerra, a melhor estratégia tem sido identificar quem é o seu
inimigo. Conhecê-lo bem, traçar o seu perfil, saber identificá-lo rapidamente, desvendar seu
modus operandis e assim que tiver condições partir para o confronto direto são tarefas
essenciais para essa concepção. É assim que o Sistema de Segurança e Justiça tem se
estruturado no Brasil. Ao invés de se reconhecer que a sociedade capitalista tem negado
acesso a milhares de pessoas e assim empurrado as mesmas para a criminalidade – o que
levaria a radicais mudanças de paradigmas –, opta-se conscientemente por enxergar no crime
uma opção individual de alguém que nasceu para o mal e que ameaça toda a sociedade.
Sendo assim, o passo seguinte é reforçar o estigma de que o inimigo é o negro pobre. É contra
ele que a Segurança-Justiça deverá agir. A criminalização da pobreza é o caminho encontrado
pela sociedade capitalista para legitimar sua estratégia de não enfrentar a essencial causa da
criminalidade violenta urbana, qual seja, a própria questão social. Dar respostas efetivas à
violência impeliria rever o próprio funcionamento do modo de produção capitalista, algo fora
de questão na atual conjuntura brasileira. Tornando a pobreza essencialmente criminosa a
atuação do Estado não deve passar por políticas sociais, mas sim penais.
Enfim, nossa tese ao longo desse estudo não é outra senão a de que a criminalização da
pobreza, estratégia para não se enfrentar fundamentalmente a violência urbana, tem se
39
mostrado como uma segunda etapa de negação da realização plena de todas as dimensões dos
direitos humanos no Brasil. Segunda porque a primeira advém da própria conformação da
nossa sociedade. Os ranços do latifúndio escravista moldaram uma nação cujo Direito não é
resposta aos anseios da população, mas instrumento de interesses privados. A primeira etapa
de negação dos direitos entre nós vem da condição do não-homem negro, do não-homem
índio, da não-cidadã mulher.
Se portanto, o nosso pauperismo deitou raízes no latifúndio escravista, a sua permanência na
contemporaneidade deve-se em muito ao processo de criminalização da pobreza, que ao criar
o estereótipo do pobre, negro e criminoso, passa a requerer uma atuação policial-violadora por
parte do Estado, impedindo novamente a realização plena dos direitos humanos.
Se não é verdade o que aqui se constata, ou seja, do não-reconhecimento da condição de
cidadania do pobre, mas sim da co-relação dele com a criminalidade, então por que razão há
cada vez mais espaços urbanos nas periferias das grandes cidades brasileiras cuja presença do
Estado só se faz por meio da face policial-violadora? Se nestes espaços há cidadãos e não
bandidos, onde estão as políticas promotoras dos Direitos? O nosso olhar é que tal processo
tem violado toda a gramática dos direitos humanos das populações empobrecidas, a começar
pelos mais elementares direitos individuais. Como pensar no próprio direito à vida em
comunidades subjugadas à guerra do tráfico em que o preço que se paga é a própria vida?
Como falar em liberdades onde há toque de recolher, onde nada se pode falar? Como exercer
direitos políticos de forma alienada e sob o controle do chefe do tráfico? Se ainda pensarmos
nos direitos sociais, a situação é tão grave quanto. Soa hipócrita falar em saúde onde as
pessoas morrem nas filas dos hospitais; em moradia onde pessoas são soterradas por
desmoronamentos de terras a cada tempestade; em trabalho onde a regra é a informalidade;
em seguridade social onde reina o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada.
À revelia de tudo isso, o Estado se estrutura na direção de fortalecer seu aparato de segurança
e justiça para prender cada vez em número maior e em idade cada vez menor. E é aqui no ato
de prender e de punir que a criminalização da pobreza talvez tenha sua expressão mais
eloqüente. Se não fosse assim, como explicar que os presídios e as unidades de internação
social tenham se transformado nas senzalas de outrora, com direito ao tronco/pau-de-arara? Se
não é isso, como explicar que a polícia age de forma seletiva a depender o valor do IPTU,
Imposto de Renda ou IPVA que se paga? Se não é isso, como entender o descaso generalizado
com a Defensoria Pública, essencial instrumento de acesso à justiça do pobre? Se o Sistema
de Justiça e Segurança não criminaliza o pobre, como explicar o fato de um dos banqueiros
mais ricos do Brasil acusado de dezenas de crimes contra a nação brasileira tenha
40
permanecido menos de vinte e quatro horas preso, sendo posto em liberdade por ordem da
maior autoridade da justiça brasileira, enquanto que uma adolescente negra e pobre se queda
encarcerada por dias em uma cela de uma delegacia com mais de trinta homens no Estado do
Pará?
Estamos convictos de que a realização dos direitos humanos no Brasil passa pelo
enfretamento da violência urbana e pela interrupção do processo de criminalização da
pobreza. Isso significa compreender a complexidade que envolve as determinações da
violência na sociedade brasileira enquanto manifestação da questão social e racial, o que
demandará, sobretudo, políticas de redistribuição de renda, de garantia de direitos ao todo da
população e compensatórias para aqueles cujos direitos foram historicamente usurpados.
41
7. REFERÊNCIAS
ADORNO, Sérgio. A gestão filantrópica da pobreza urbana. São Paulo em Perspectiva.
São Paulo, Fundação SEADE, v. 4, n. 2, 9-17, abr./jun. 1990.
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In SADER, Emir; GENTILI, Pablo(Org).
Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das letras, 1989.
BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no capitalismo tardio. São Paulo: Cortez, 1998.
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos. São Paulo:
Cortez, 2006.
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
BUSSINGER, Vanda Valadão. Fundamentos dos direitos humanos. In Serviço Social &
Sociedade, São Paulo, n. 53, p. 9-45, mar. 1997.
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Sistema nacional de atendimento socioeducativo. Brasília: Conanda, 2006.
ENGELS,
Friedrich.
Discurso
de
Elberfeld.
Disponível
em
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/02/15.htm>. Acesso em: 04 out. 2009.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. Ed.
Porto Alegre: Globo, 1976.
FEFFERMANN, Marisa. Vidas arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico.
Petrópolis: Vozes, 2006.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
INFOPEN. Disponível em <http://www.mj.gov.br/infopen>. Acesso em 05 out. 2009.
LEITE, Izildo Corrêa. Caminhos entrelaçados: pobreza, questão social, políticas sociais e
sociologia. In: MANFROI, Vania Maria; MENDONÇA, Luiz Jorge V. P. (Orgs.). Política
social, trabalho e subjetividade. Vitória: EDUFES, 2008.
LYRA, Rubens Pinto. Abordagens históricas e atuais da relação entre democracia política,
direitos sociais e socialismo. In LYRA, Rubens Pinto. Direitos Humanos: os desafios do
século XXI. Brasília: Brasília Jurídica, 2002.
42
KEOWN, Damien. Budismo e direitos humanos. In BALDI, César Augusto(Org). Direitos
humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
MALAGUTI, Manoel Luiz; CARCANHOLO, Reinaldo A. & CARCANHOLO, Marcelo D.
Neoliberalismo: A tragédia de nosso tempo. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
MARX, Karl. A questão judaica. Rio de Janeiro: Achiamé, 1975.
MUZAFFAR, Chandra. Islã e direitos humanos. In BALDI, César Augusto(Org). Direitos
humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
PASTORINI, Alejandra. A categoria “questão social” em debate. 2. ed. São Paulo: Cortez,
2007.
PEDRAZZINI, Ives. A violência das cidades. Petrópolis: Vozes, 2006.
PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. Compêndio da doutrina social da igreja.
São Paulo: Paulinas, 2005.
PINHEIRO, Paulo Sérgio; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Violência urbana. São Paulo:
Publifolha, 2003.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanesi(Org). História da Cidadania. 2 ed. São Paulo:
Contexto, 2003.
PIOVESAN, Flávia. A universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos. In BALDI,
César Augusto(Org). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar,
2004.
PIOVENSAN, Flávia. Direitos Humanos: desafio da ordem internacional contemporânea. In
PIOVESAN, Flávia(Coord). Direitos Humanos. Vl. I. Curitiba: Juruá, 2006.
VALLADARES, Lícia. A gênese da favela carioca: a produção anterior às ciências
sociais.RBCS, v. 15, n. 44. 2000.
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e sentido do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 2006.
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania. In PINHEIRO, Paulo
Sérgio; GUIMARAES, Samuel Pinheiro(ORGs). Direitos Humanos no Século XXI.
Brasília: IPRI, 1998.
SÓFOCLES. Antígona. Porto Alegre: L&PM, 2001.
TRINDADE, José Damião de Lima. História Social dos Direitos Humanos. São Paulo:
Peirópolis, 2002.
43
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3 Ed.
Rio de Janeiro: Revan, 2007.