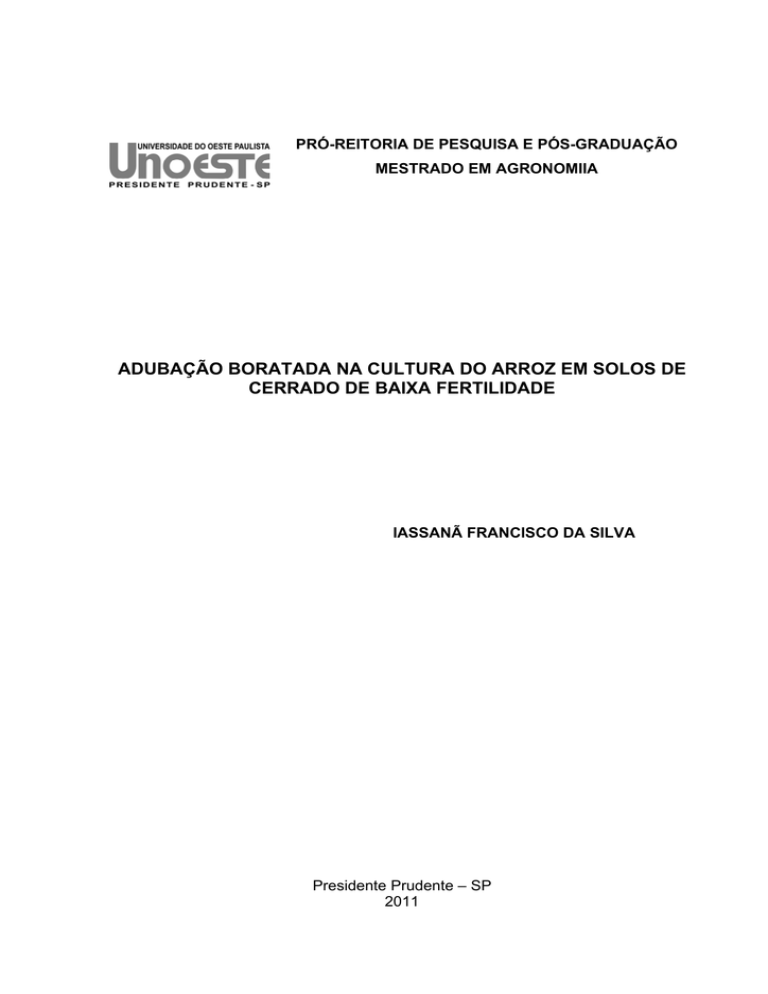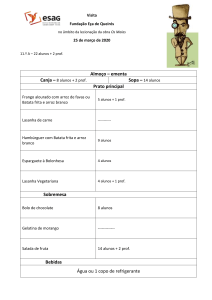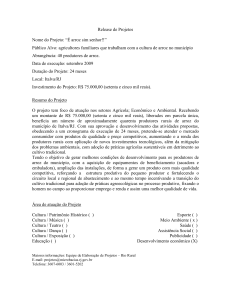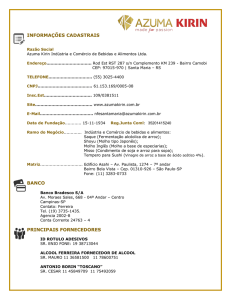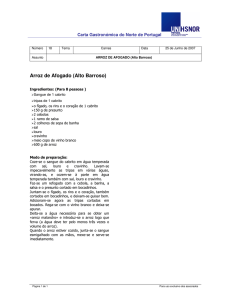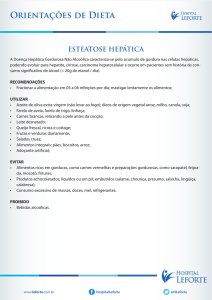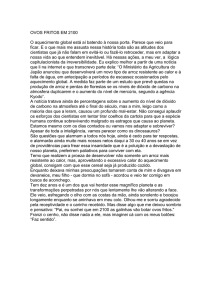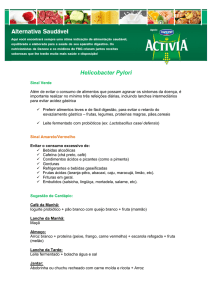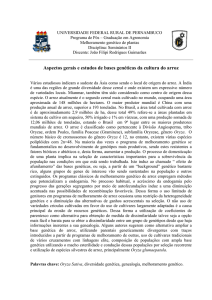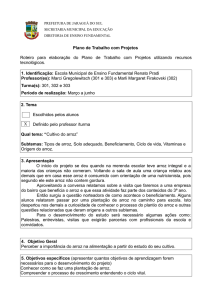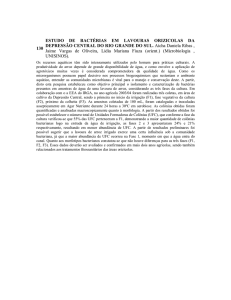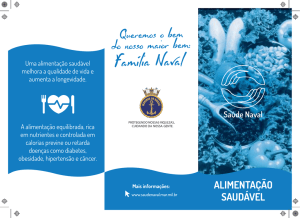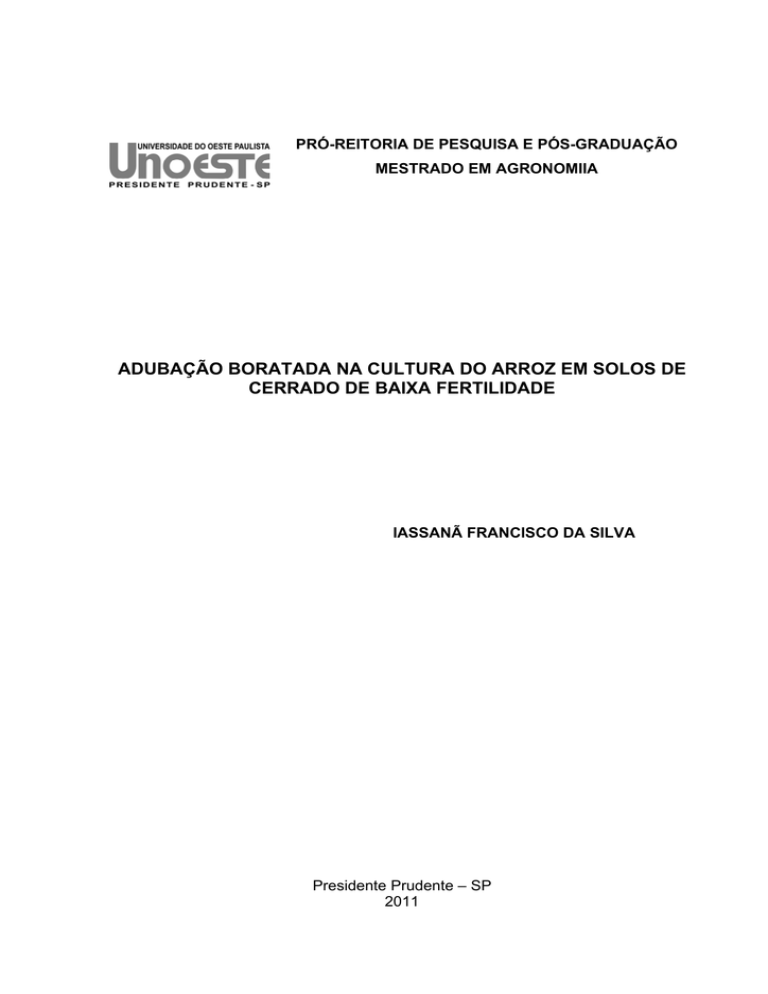
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM AGRONOMIIA
ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE
CERRADO DE BAIXA FERTILIDADE
IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA
Presidente Prudente – SP
2011
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO EM AGRONOMIIA
ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE
CERRADO DE BAIXA FERTILIDADE
IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA
Dissertação apresentada a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade
do Oeste Paulista, como parte dos
requisitos obtenção do título de Mestre em
Agronomia
Área de Concentração: Fertilidade do Solo
Orientador: Carlos Sérgio Tiritan
Presidente Prudente – SP
2011
FICHA CATALOGRÁFICA
633.181
S586a
Silva, Iassanã Francisco.
Adubação boratada na cultura do arroz em
solos de cerrado de baixa fertilidade / Iassanã
Francisco da Silva. – Presidente Prudente, 2010.
39 f.
Dissertação (Mestrado em Agronomia) –
Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE:
Presidente Prudente – SP, 2011.
Bibliografia
1. Oryza sativa. 2. Arroz -- Cultivo. 3. Solo
fertilidade. I. Título.
IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA
ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE CERRADO
DE BAIXA FERTILIDADE
Dissertação apresentada a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade
do Oeste Paulista, como parte dos
requisitos obtenção do título de Mestre em
Agronomia
Presidente Prudente, 25 de Janeiro 2011.
BANCA EXAMINADORA
________________________________________
Prof. Dr. Carlos Sérgio Tiritan
Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE,
Presidente Prudente – Orientador
________________________________________
Prof. Dr. José Eduardo Creste
Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE,
Presidente Prudente/SP
________________________________________
Dr. José Salvador Simoneti Foloni
Embrapa Soja
Londrina/PR
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho ao meu pai Livo Francisco da Silva e minha mãe
Maria Orli Grossi da Silva, e aos meus irmãos e amigos que nos momentos mais
difíceis me apoiaram e incentivaram a nunca desistir perante as dificuldades.
Dedico também ao meu avô Jorge Francisco da Silva e minha avó Ida
Ella Pseiser da Silva que se encontra hoje lá no céu ao lado de Deus.
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus.
Aos meus pais Livo Francisco da Silva e Maria Orli Grossi da Silva, a
meus irmãos que sempre me motivaram a não desistir nos percalços que tive
durante o curso.
Ao professor orientador, Dr. Carlos Sérgio Tiritan que, apoiou e deu toda
atenção necessária para a realização do trabalho.
Agradeço também aos companheiros Alexandrius, Lucas, Rodrigo,
Diogo, Jeferson, Marcos que foram amigos de horas boas e ruins.
.
“[...] nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha [...]”
Gaston Bachelard
RESUMO
Adubação boratada na cultura do arroz em solos de cerrado de baixa
fertilidade
O custo de produção de áreas novas no cerrado apresenta valores elevados devido
á maior quantidade de operações agrícolas, quando comparado a lavouras
convencionais. Os solos do cerrado apresentam baixa fertilidade natural e exigem
grandes quantidades de calcário para sua correção, aumentando significamente o
custo de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o Boro quando aplicado
na cultura do arroz de terras altas com baixo nível tecnológico, proporcionaria um
ganho de produtividade na cultura do arroz. O trabalho foi conduzido a campo no
município de Nova Xavantina – MT na safra 2009/10 em duas áreas (primeiro e
segundo ano de produção). Foram utilizados 6 tratamentos de boro na fonte de
ácido bórico (17% de B), sendo as doses de: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; e 2,5 kg de B por
ha. As parcelas tiveram 10 m de comprimento por 3,4 m de largura com 20 linhas de
plantio no espaçamento de 0,17 m. A adubação de 160 kg do adubo formulado 0828-16 foi em função dos resultados da análise do solo e utilizou-se a cultivar BRS
Sertaneja na quantidade de 115 kg de sementes por ha. Dentre as variáveis
avaliadas a produtividade da área de primeiro ano foi influenciada pela adubação
boratada, onde o tratamento que utilizou a dose de 2,5 kg de B atingiu a
produtividade de 2.677 kg/ha-1. A análise de custo foi positiva para as duas áreas,
onde na área de primeiro ano, o custo beneficio da adubação boratada foi de
R$169,44 (com a dose de 1 kg B/ha). Já para a área de segundo ano o maior custo
beneficio foi obtido com a dose de 2,5 kg de B, que proporcionou um aumento na
produtividade de 11,80 sacas (60 kg) e conseqüentemente um custo beneficio de
R$333,83 por hectare. O uso do boro em áreas novas do cerrado compensou o
baixo nível tecnológico que foi empregado na formação das lavouras,
proporcionando resultados positivos no custo beneficio da lavoura sem acréscimos
significativos no custo de produção.
Palavras chave: Oryza sativa. Terras altas. Micronutrientes. Custo
ABSTRACT
Adubation of boro in culture of rice in soils of savanna of low fertility
The production cost of new areas in the cerrado presents high values due to larger
amount of farming operations when compared to conventional crops. The cerrado
soils have low natural
fertility
and
require
large
quantities
of
limestone for its correction significantly increasing the cost of production. The
objective this study was to evaluate whether the Boro when applied in the cultivation
of upland rice with low technological level, increases the productivity rice.
The field work was conducted in the municipality of Nova Xavantina - MT in 2009/10
in two areas (first and second year of production). We used six treatments of boron in
the source of boric acid (17 % of B), with doses of 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5
kg B per ha. The plots were 10 m long and 3.4 m wide with 20-sowing rows, with
spaced at 0.17 m. The fertilization of 160 kg of 08-28-16 fertilizer was formulated
according to the results of soil analysis and used the cultivar BRS Sertaneja in
amount of 115 kg of seeds per ha. Among the variables analyzed the productivity in
the area of the first year was influenced by boron fertilization, whre the treatment
that used a dose of 2.5 kg B hit productivity of 2.677 kg/ha-1. The cost analysis
positive for both areas, where in the area of the first year, the cost benefit of boron
fertilization was R$169,44 (with a dose of 1 kg B/ha). As for the second year the area
of greatest cost benefit was obtained with a dose of 2.5 kg B, which resulted in na
increase in productivity of 11.80 bags (60 kg) and therefore a cost benefit
of R$333.83 per hectare. The use of boron into new areas of cerrado compensated
the low technological level that was used in the formation of the crops, providing
positive results in the cost benefit of the crop without significant increases
inproduction costs.
Keywords: Oryza sativa. Upland. Micronutrients. Cost
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1
- Distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do 22
arroz
FIGURA 2
- Altura de plantas de arroz, sobre diferentes doses de boro 24
e em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano
de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão
significativo.
FIGURA 3
- Número de panículas de arroz, sobre diferentes doses de
boro e em área de primeiro ano (área1) e área de segundo
ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão
significativo.
- Peso de 1.000 grãos de arroz, sobre diferentes doses de
boro e em área de primeiro ano (área 1) e área de
segundo ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a
1%, nsnão significativo.
- Produtividade do arroz, sobre diferentes doses de boro e
em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano
de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão
significativo.
- Grãos inteiros do arroz, sobre diferentes doses de boro e
em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano
de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão
significativo.
FIGURA 4
FIGURA 5
FIGURA 6
FIGURA 7
25
26
27
28
- Rendimento dos grãos arroz, sobre diferentes doses de 29
boro e em área de primeiro ano (área 1) e área de
segundo ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a
1%, nsnão significativo
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
11
2 REVISÃO DE LITERATURA
14
3 MATERIAL E MÉTODOS
19
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
24
CONCLUSÕES
33
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
34
11
1 INTRODUÇÃO
O arroz (Oryza sativa L.) é uma das mais antigas espécies cultivadas,
ocupando aproximadamente 10% do solo agricultável do planeta. (BARIGOSSI et
al., 2004). Em termos de alimentação humana, o arroz é a mais importante do
mundo, pois constitui a dieta básica de mais de 50% da população mundial
(FAGERIA et al., 2003). O continente asiático é o que possui a maior área plantada
e, também, o maior consumidor mundial de arroz. A China e a Índia são os maiores
produtores e consumidores de arroz no mundo. A importância da cultura do arroz
para o Brasil, junto com a de feijão, já é muito conhecida e aumenta à medida que
cresce o contigente populacional brasileiro (FAGERIA et al., 2008).
Para a safra 2010/11 estima-se que a área plantada com a cultura de
arroz no Brasil seja em torno de 2.74 a 2.78 milhões de hectares, e a produção deve
alcançar algo em torno de 12.24 milhões de toneladas nesta safra. A produtividade
média nacional na safra 2009/10 foi em torno de 4.073 kg/ha-1, sendo que em Santa
Catarina a produtividade ultrapassou os 7.000 kg/ha-1 e em Mato Grosso a média foi
de 3.008 kg/ha-1(CONAB, 2010).
Existem três tipos de ecossistemas de arroz: terras altas, várzeas
úmidas e irrigados por inundação. No Brasil o ecossistema de arroz inundado ocupa
60% da produção nacional e a sua produção é concentrada em regiões de baixios
(BARRIGOSSI et. Al., 2004), em que o arroz é cultivado em áreas sistematizadas
com irrigação por inundação. (FAGERIA et al., 2008). O arroz de várzeas úmidas
são encontrados nas planícies dos rios e lagos (KLAMT et al., 1985).
No Brasil, o cultivo do arroz de terras altas concentra-se na região do
cerrado. O arroz de terras altas, cultivada em áreas geralmente irrigadas, fica
totalmente dependente da precipitação pluvial para o suprimento de água
(CRUSCIOL et al., 1999), a irrigação por aspersão também tem-se apresentado
como uma alternativa eficiente para o cultivo do arroz de terras altas (CRUSCIOL et
al., 2000).
A região dos cerrado tem sido fundamental para a expansão da fronteira
agrícola brasileira, tornando irreal o antigo conceito sobre o potencial dessa área
12
com finalidades produtivas. Entretanto, os solos dessa região, em geral, apresentam
baixa fertilidade natural e elevada acidez (GOEDERT, 1989; FAGERIA; SOUZA,
1995). O cultivo do arroz na Região Centro-Oeste tem como um dos objetivos a
abertura de novas áreas agrícolas, em virtude da tolerância dessa cultura a solos
com baixos teores de nutrientes (CRUSCIOL et al., 1999), dentre eles o boro
(FAGERIA, 2000).
O boro (B) é um dos micronutrientes mais limitantes à produção vegetal
(BROWN; SHELP, 1997), sendo, na faixa de pH 4,0 a 8,0, absorvido como H3BO3 e
H2BO3. Sua disponibilidade no solo afeta significativamente as concentrações nos
tecidos vegetais, e seus teores extremamente baixos ou elevados permitem
observar nas folhas manifestações visíveis e características desses extremos
(MALAVOLTA et al., 1997). O B é exigido em pequenas quantidades pela cultura do
arroz, sendo a decisão para aplicar doses adequadas de boro vital para aumentar a
produtividade do arroz (FAGERIA, 1998).
Os solos do cerrado apresentam condições físicas adequadas para o
crescimento das plantas (LOPES, 1983; FAGERIA, 1994). Sua friabilidade,
porosidade e permeabilidade facilitam o crescimento das raízes. Por outro lado,
apresentam baixa capacidade de retenção de água, baixa fertilidade natural e às
vezes níveis tóxicos de alumínio (FAGERIA; BRESEGUELLO, 2004). A calagem é
uma das práticas menos dispendiosas e efetivas na correção da acidez e fornece Ca
e Mg (WERNER, 1986).
Uma agricultura moderna exige o uso de corretivos em quantidades
adequadas, a fim de atender a critérios racionais que permitam conciliar o resultado
econômico positivo com a preservação dos recursos naturais do solo e do ambiente
com a expressão máxima do potencial produtivo das culturas (FAGERIA, 1989;
RAIJ, 1991).
O custo de produção de áreas novas no cerrado apresenta valores elevados,
em vista de que o número de operações agrícolas (abertura do cerrado, limpeza da
área e sistematização da área) é maior quando comparado a áreas de produção já
consolidadas (plantio direto). A técnica da calagem ainda é prática mais difundida
para corrigir a acidez do solo (SANTOS et al.). Porém, em áreas de baixa fertilidade
(áreas novas), são exigidas grandes quantidades de calcário, e como as jazidas de
13
calcário geralmente são distantes das áreas de produção o custo da calagem (preço
da tonelada + transporte), aumenta ainda mais o custo de produção final da cultura,
e também, a cultura do arroz é bastante tolerante à acidez do solo e, por isso, a
prática da calagem deve ser considerada apenas quando o arroz for plantado em
sistema de rotação (FAGERIA, 2006).
Com base neste contexto, e visando diminuir o custo de produção e/ou evitar
custos de produção mais elevados, testou-se a hipótese do uso do boro em áreas
novas do cerrado de baixa fertilidade natural, sem a realização da calagem, como
uma tentativa de elevar a produção, sem elevar seu custo de produção, pois a
quantidade de boro utilizada na cultura do arroz é baixa, não sendo recomendadas
doses acima de 3,0 kg por hectare (FAGERIA et al., 2003). O preço do kg do ácido
bórico em dezembro de 2010, foi em torno de R$2,15 e o valor médio da tonelada do
calcário calcítico foi de R$82,00 (sem o transporte) (CONAB, 2010).
O objetivo deste trabalho foi avaliar se o Boro quando aplicado na cultura do
arroz de terras altas com baixo nível tecnológico, proporcionaria um ganho de
produtividade na cultura do arroz.
14
2 REVISÃO DE LITERATURA
O sistema de produção de arroz em terras altas que depende do
regime de chuva é chamado de arroz de terras altas, mais recentemente, de arroz
aeróbico. Este ecossistema é mais comum na América Latina e na África. O arroz de
terras altas é cultivado em aproximadamente, 17 milhões de hectares no mundo,
sendo 10,5 milhões de hectares na Ásia, 3,7 milhões na América Latina e 2,8
milhões de hectares na África. No Brasil a área plantada com arroz de terras altas é
de 1.8 milhões de hectares, concentrada nas regiões Centro-Oeste, Mato Grosso e
Goiás, representando 43,3% da área total cultivada com este produto; Nordeste,
Piauí e Maranhão (37%); e Norte, Pará e Rondônia (18,9%). Em nível mundial, a
média de produtividade do arroz de terras altas é inferior a 2.000 kg/ha-1, enquanto
a média de produtividade do arroz irrigado esta em torno de 4.500 kg/ha-1. A baixa
produtividade do primeiro pode ser atribuída a instabilidade dos fatores climáticos e
ao potencial produtivo das cultivares. A América Latina e a África são os continentes
que dispõem de mais área para expansão do cultivo do arroz de terras altas. Apesar
de sua produtividade ser inferior a do arroz irrigado, este sistema apresenta
vantagens devido ao seu baixo custo de produção e reduzido consumo de água
(BARIGOSSI et al., 2004).
A acidez do solo é um dos fatores mais importantes que limitam a
produção das culturas e solos tropicais altamente intemperizados, como os de
cerrado (GOEDERT, 1983; FAGERIA et al., 1991). A maior área de solos ácidos
esta localizada na América do Sul, onde ocupam 85% da área total e segundo
Cochrane (1989) aproximadamente 850 milhões de hectares são subutilizados para
a produção agrícola. No cerrado brasileiro, que ocupa cerca de 200 milhões de
hectares, o pH médio do solo esta em torno de 5 (FAGERIA et al., 1999). A
precipitação média anual na região é de aproximadamente 1.500 mm e a lixiviação
de bases a longo prazo é uma das principais razões do desenvolvimento de acidez
nos solos (GOEDERT, 1983). De acordo com Fageria et al. (1991), em condições de
clima tropical em que a precipitação é maior que a evaporação, a acidificação do
15
solo é um processo contínuo, que pode ser acelerado pela atividade das plantas,
animais e seres humanos, ou diminuído pelo manejo adequado.
De acordo com Malavolta e Kliemann (1985), os solos característicos
do Centro–Oeste brasileiro apresentam-se de maneira geral ácidos, altamente
dependentes de matéria orgânica (M.O.) e pobres em nutrientes, como o boro (B),
por exemplo.
Deficiências de B e Zn são as mais comuns nas culturas brasileiras
(MALAVOLTA et al., 1997). Nas culturas anuais a forma mais utilizadas para
prevenir ou corrigir a deficiência desses nutrientes é a adubação no sulco ou em
cova, e os micronutrientes incorporados aos macronutrientes da formulação de
plantio (LOPES, 1999).
O boro é exigido em pequenas quantidades pela cultura do arroz,
sendo a decisão para aplicar doses adequadas de boro vital para aumentar a
produtividade do arroz (FAGERIA, 1998), exigindo-se cautela por ser o intervalo de
deficiência e toxicidade bastante estreito (SCIVITTARO; MACHADO, 2004).
Marschner (1995) cita que a toxicidade de boro é mais comum em regiões áridas ou
semiáridas, ou ainda nas relacionadas com água de irrigação com altos teores de B.
O mesmo autor ainda cita que o gradiente entre os níveis crítico e tóxico é pequeno
e considera, também, que as concentrações tóxicas variam com a espécie vegetal.
O boro ocorre sob cinco formas no solo: minerais primários,
secundários, adsorvido aos colóides, em solução como ácido bórico (H3BO3) e
ânions borato (H2BO-3, HBO32- e BO3-), ou contido na matéria orgânica e biomassa
microbiana (SHORROCKS, 1997). De acordo com Cruz et al. (1987), quando se
adiciona B ao solo, parte permanece na solução do solo (disponível para as plantas)
e parte é adsorvida aos colóides. A variação do pH do solo é o fator que mais
influencia a disponibilidade de boro para as plantas, ou seja, em valores de pH mais
baixos a forma predominante é o H3BO3, que tendo pouca afinidade com os minerais
de argila e outros colóides, é pouco adsorvido e torna-se mais disponível para as
raízes. A medida que o pH é elevado, aumenta a concentração de boro na forma de
ânions borato, com conseqüente aumento na adsorção do elemento, resultando em
menor disponibilidade para as culturas (KEREN et al., 1985).
16
Dentre as fontes de boro, o borax (Na2B4O7.10H2O ou NaB4O7.5H2O),
o solubor (Na2B8O13.4H2O) e o ácido bórico (H3BO3) são solúveis em água,
enquanto a colemanita (Ca2B6O11.5H2O) é mediamente solúvel e a ulexita
(Na2Ca2B10O18.16H2O) é insolúvel em água (LOPES, 1999).
O contato B-raiz ocorre basicamente em razão do fluxo de massa que
é afetado pela taxa respiratória da planta. O boro é adsorvido via raízes nas formas
de H3BO3 (OERTLI; GRGURVIC, 1975), e como a absorção independe da
temperatura e não é afetada por inibidores de respiração, infere-se que seja
processo passivo (PRADO, 2008).
Desse modo o boro na forma de B (OH)3 parece ser o único nutriente
que tem alta permeabilidade e vence as membranas por processo passivo, sem a
necessidade de um processo intermediário mediado por uma proteína (WELCH,
1995). O processo passivo do boro ocorre por difusão, pois logo após a sua entrada
na célula é transformado em compostos que seriam presos na parede celular ou
citoplasma, ficando na forma não-trocável, e assim diminui sua concentração interna
nas células, favorecendo o gradiente de difusão do mesmo por meio externo para
interno (PRADO, 2008).
O local de aplicação do boro também pode afetar a quantidade do
nutriente absorvido (PRADO, 2008). Nesse sentido, Boaretto (2006) estudou a
aplicação de 1kg/ha-1 de boro no solo e na folha de citrus em produção, e verificou
que a quantidade absorvida foi de 65 e 17 g/ha-1 de boro, para aplicação de boro no
solo e na folha respectivamente. Assim concluiu que a eficiência de absorção de
boro pelas raízes é cerca de 3,5 vezes superior a eficiência de absorção de boro
pelas folhas.
A presença do boro afetando a atividade de componentes específicos
da membrana pode aumentar a capacidade da raiz para absorver P, CL e K
(MALAVOLTA, 1980).
A matéria orgânica do solo é a principal fonte de boro para as plantas.
Assim é importante controlar os fatores que afetam a disponibilidade do nutriente no
solo, a fim de manter a concentração de boro no solo em níveis adequado ás
culturas. Sempre que a concentração estiver baixa (<0,20mg/dm-3) ou até média
(0,20-0,60 mg/dm-3), (extrator de água quente) (RAIJ et al., 1996), existe potencial
17
de resposta das plantas em geral à aplicação desse micronutriente, que pode variar
em razão da exigência nutricional da cultura (PRADO, 2008).
O boro é considerado imóvel no floema, e nesses casos, o nutriente
não é transportado para as partes mais jovens da planta, locais onde normalmente
aparecem os sintomas de deficiência, exceto para espécies que produzem
quantidades expressivas de polióis, como ocorre para alguns grupos das famílias
Rosaceae, Rubiaceae e Celestraceae (HU et al., 1997).
O boro é um elemento ativador de enzimas que atuam em diversos
processos metabólicos, tais como transporte de carboidratos, metabolismo das
auxinas e formação das raízes por meio da divisão, alongamento e junção da parede
celular e atividade das membranas celulares (MARSCHNER, 1995; LUND et al.,
1996; ONO; RODRIGUES, 1996). Dentre suas funções, vale destacar a participação
no alongamento celular, por fazer parte dos polissacarídeos da parede celular,
sendo sua desordem nutricional prejudicial ao crescimento radicular (OBATA, 1995).
Os resultados dos trabalhos com boro na cultura do arroz tem
demonstrado redução no desenvolvimento vegetal e decréscimo no rendimento de
grãos (LOPES et al., 1985), em razão do efeito negativo do excesso de boro no solo
em determinadas circunstâncias (OBATA, 1995). Fageria et al. (2003) observaram
que teores acima de 3,0 mg/kg-1 de boro no solo tornam-se tóxicos a cultura.
É de fundamental importância o conhecimento de como o cultiar
comporta-se na absorção dos nutrientes no campo, em especial o boro, pois existem
diferenças interespecíficas para o arroz. Os mecanismos de resposta da cultura do
arroz ao boro dependem do genótipo, das diferentes classes de respostas a
adubação, pela capacidade genética diferente, mecanismos ativos e passivos e
absorção para o elemento (DORDAS; BROWN, 2001).
Rerkasem e Jamjod (1997) argumentam que a adubação boratada é
uma prática simples e de baixo custo para corrigir deficiências nutricionais de
culturas agrícolas como o girassol. Contudo Mortvedt e Woordruff (1993),
recomendam cautela na recomendação de adubos boratados, devido ao estreito
intervalo entre deficiência e toxicidade, ou seja, dependendo da fonte, da dose ou
das condições de uso, a aplicação de B para corrigir uma deficiência pode vir a ser
18
tóxica. A deficiência pode ser corrigida tanto por aplicações de boro visa solo como
foliar (DÍAZ-ZORITA, 2001).
Segundo Ungaro (2000), em solos que tenham recebido correções com
calcário, e teores de boro estiverem abaixo de 0,26 mg/dm-3, a suplementação pode
ser feita nas adubações de semeadura e cobertura, misturando-se doses de ácido
bórico aos fertilizantes formulados a serem aplicados na lavoura.
19
3 MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido a campo no município de Nova Xavantina –
MT na safra 2009/10 em duas áreas: primeiro ano de produção (abertura) situada na
latitude 14º40'24" sul , longitude 52º21'11" oeste e a na altitude de 299m; e segundo
ano de produção de arroz situada na latitude 14º 23’ 25.4” sul, longitude 51º52’ 9.96
oeste e na altitude de 311m. Essas áreas se encontravam a 4.000m de distância e
foram conduzidas no mesmo período. O clima da região de Nova Xavantina é do tipo
Aw na classificação de Köppen, com seis a oito meses de chuva, com precipitação
anual média de 1300 a 1500 mm e temperatura média mensal de 25°C
(COCHRAME et al., 1985 apud MARIMON, 2003).
Na área de primeiro ano foi realizado o desmatamento, o enleiramento
e a queima da leira. O preparo do solo foi feito no sistema convencional um mês
antes do plantio, com duas gradagens aradora e uma gradagem niveladora. Após o
preparo do solo foi realizada a catação manual de restos de raízes e tocos, após
isso a área ficou em repouso até a semeadura, não sendo realizada a calagem.
Já na área de segundo ano de cultivo de arroz, do período da colheita
até a semeadura do experimento, a área ficou em repouso, mantendo-se os restos
culturais da safra anterior e também realizou-se o pastoreio de gado sobre a
palhada, com o objetivo de o gado se alimentar desses restos culturais, após isso foi
realizada a dessecação das plantas daninhas existentes 15 dias antes da
semeadura com os herbicidas Glifosate (na dosagem de1,55 L/ha de i. a.),
Flumioxazim (na dosagem de 3,0 g/ha de i. a.) e 2,4-D (na dosagem de 25 ml/ha de
i.a.). Após a dessecação foi realizado o preparo do solo com uma gradagem
niveladora.
Nas duas áreas foi realizada a amostragem do solo na profundidade de
0 a 20 cm e os resultados obtidos foram os seguintes: Área de primeiro ano 4,2 pH
em CaCl2;; 5,2 pH em SMP; 105,0 H+Al mmolc/dm3; 10 Al mmolc/dm3; 42 M.O.
g/dm3; 4,0 Ca mmol/dm3; 3,0 Mg mmol/dm3; 1,8 K mmol/dm3; 6,0 P mg/dm3: 3,6 S
mg/dm3; 9,0 SB mmol/dm3; 53 M%; 114 CTC mmol/dm3; 8 V%; 19,0 Mn mg/dm3;
121,0 Fe mg/dm3; 0,9 Cu Mg/dm3; 3,0 Zn mg/dm3 e 0,21 de B mg/dm3.
20
Já os resultados para a área de segundo ano foram: 4,5 pH em CaCl2;;
5,6 pH em SMP; 66,0 H+Al mmolc/dm3; 7,0 Al mmolc/dm3; 38,0 M.O. g/dm3; 11,0 Ca
mmol/dm3; 4,0 Mg mmol/dm3; 0,7 K mmol/dm3; 11,0 P mg/dm3: 3,1 S mg/dm3; 16,0
SB mmol/dm3; 30 M%; 81 CTC mmol/dm3; 19 V%; 15,7 Mn Mg/dm3; 67,7,0 Fe
mg/dm3; 0,4 Cu mg/dm3; 3,8 Zn mg/dm3 e 0,21 de B mg/dm3.
A adubação N-P-K foi realizada de acordo com a análise do solo,
sendo recomendado 160 kg de 08-28-16 por ha-1, onde cada parcela recebeu 0,544
kg. E não foi realizada a calagem em nenhuma das áreas.
Para a semeadura foi utilizada a cultivar BRS Sertaneja, sendo ela uma
cultivar precoce, de grãos longofinos, caracterizada por plantas vigorosas,
moderadamente perfilhadoras, porte médio, folhas largas, e com mediana
resistência ao acamamento. Suas panículas são longas e com elevado número de
espiguetas. É uma cultivar de ampla adaptação, com bom comportamento nos
Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, etc. com ciclo de aproximadamente
120 dias. E antes da semeadura foi realizado o tratamento das sementes com
fungicida Carboxina (na dosagem de 5 mL de i.a. para 100 kg de semente) e
também teve o tratamento com inseticida Carbofuran (na dosagem de 3.5litros de
i.a. para cada 100 kg de semente).
A semeadura foi realizada em dezembro com trator CBT modelo 2105,
130CV e semeadora do modelo Baldan5000 com 20 linhas de plantio e 0,17 m no
espaçamento entrelinhas na quantidade de 115 kg de semente por ha, sendo que
para cada parcela foi utilizado a quantidade de 0,391 kg de semente, sendo que foi
utilizado em todo experimento 18,7 kg de sementes de arroz.
Aos 32 dias após a emergência (DAE) foi realizado a aplicação do
herbicida 2,4-D (na dosagem de 28,8 ml/ha de i.a.), com objetivo de controlar as
plantas daninhas de folhas largas e também foi realizada a aplicação do fungicida
tebuconazole (na dosagem de 0,5 L/ha de i.a.).
Aos 45 DAE foi realizada a adubação nitrogenada, utilizando a fonte
uréia (45% de N) na dose de 50 kg de N por ha, onde se aplicou 0,377 kg de uréia
por parcela após uma chuva de 11 mm. Aos 50 DAE foi realizada a segunda
aplicação do fungicida tebuconazole (na dosagem de 10L/ha de i.a.), com objetivo
de controlar a doença fungica bruzone. E aos 102 DAE foi realizada a colheita
21
manual dos tratamentos, quando os grãos apresentavam em média 16,7% de
umidade.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente
casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições em dois ambientes de produção
(área de primeira ano e área de segundo ano), perfazendo um total de 48 parcelas
de 34m2. Cada parcela teve 3,4 m de largura por 10 m de comprimento, onde cada
parcela teve 20 linhas de semeadura de arroz.
Foram utilizados 6 tratamentos de boro na fonte de ácido bórico (17%
de B), sendo as doses de: 0 kg de B por ha (testemunha), 0,5 kg de B por ha, 1 kg
de B por ha, 1,5 kg de B por ha, 2 kg de B por ha e 2,5 kg de B por ha.
A adubação com Boro foi realizada juntamente com a adubação de
plantio nos sulcos e a dose foi correspondente aos tratamentos testados como se
pode ver na tabela abaixo:
Tabela 1 - Doses de Boro
Dose de B
(kg/ha)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Dose de Ácido Dose Ácido Bórico
Bórico (kg/ha) por parcela (g/34m2)
0,00
2,95
5,90
8,85
11,80
14,75
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Durante e após o experimento 6 itens foram avaliados, sendo:
quantidade de panículas, altura média das plantas, produtividade, peso de 1.000
grãos, qualidade dos grãos (inteiros) e qualidade dos grãos (rendimento). Para a
avaliação de todos os itens foram descartadas as bordaduras, coletando-se os
dados apenas as 10 linhas centrais de 6 m de comprimento. Totalizando 10,2 m2 de
cada tratamento.
Aos 83 DAE foi realizada a avaliação de altura das plantas e número
de panículas, onde a cultura se encontrava no estádio fonológico R2. A avaliação de
22
altura de plantas foi realizada através de amostragem, onde 20 plantas foram
selecionadas ao acaso e a partir dessas plantas foi feita uma média para cada
parcela. Sendo que a altura considerada foi da base do solo até ao ápice da
panícula.
Para avaliação de produtividade, coletou-se todas as panículas de
cada parcela, essas panículas foram debulhadas manualmente. Realizou-se a
secagem dos grãos ao sol e depois foi realizada a limpeza manualmente através do
peneiramento dos grãos com passagem de ar e esses grãos foram coletados,
pesados e armazenados em sacos de papel.
Para avaliação do peso de 1.000 grãos foram coletados 1.000 grãos ao
acaso de cada parcela e foi realizada a pesagem. E para a avaliação da qualidade
de grãos inteiros e rendimento, foram coletados 100 gramas de sementes de arroz
de cada parcela, essas sementes passaram pela máquina de teste de arroz MT
onde ele faz o teste de rendimento e qualidade do arroz.
A distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do arroz nos dois
ambientes de produção avaliados pode ser vista na figura 1.
FIGURA 1 - Distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do arroz
23
Os dados originais foram submetidos à análise de regressão, em que
foi ajustada a equação linear significativa até 1% de probabilidade pelo teste Tukey.
24
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
FIGURA 2 - Altura de plantas de arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de
primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área 2).
**significativo a 1%, nsnão significativo.
Analisando a altura das plantas de arroz, na área de primeiro ano (área
1), em relação a diferentes doses de boro, pode-se notar que a altura das plantas
aumentaram de acordo com que se aumentou as doses de B. Onde a maior dose de
B avaliada (2,5 kg de B), obteve-se os melhores resultados em relação a altura da
planta, sendo que as plantas nessa dose, tiveram um crescimento médio de 95 cm
de altura (figura 2).
Já a área de segundo ano (área 2) de cultivo de arroz, a altura das
plantas não respondeu as doses avaliadas, onde a altura média das plantas de arroz
foi de 79,1 cm de altura como se pode ver na figura 2. Do fato da área de segundo
ano sofrer um período de estiagem de 10 dias e ter um menor volume pluviométrico
durante o seu ciclo, contribuiu para que as plantas desenvolvessem menos.
25
Em experimento realizado por KAPPES et al. (2008), mostrou que a
altura de plantas de soja respondeu significativamente a adubação boratada, onde
os melhores resultados foram alcançados quando se utilizou a dose de 200 a 300 g
de B/ha-1 via foliar.
FIGURA 3 - Número de panículas de arroz, sobre diferentes doses de boro e em
área de primeiro ano (área1) e área de segundo ano de cultivo de arroz
(área 2).
**significativo a 1%, nsnão significativo.
O número de panículas de arroz na área de primeiro ano, não foi
significativo, não havendo variação entre as doses avaliadas (figura 3)
O número de panículas respondeu significativamente as doses de B
estudadas na área de segundo ano, onde a dose de 2,0 kg de boro proporcionou o
desenvolvimento de 2.872 panículas (figura 3). Como essa área teve menor altura
das plantas e também sofreu uma estiagem, estimulou o perfilhamento das plantas
de arroz, tendo assim um maior número de panículas. Se observar a área de
primeiro ano, que teve um ambiente melhor de produção e assim, tendo um estande
26
mais uniforme, o maior resultado alcançado foi o de 2.022 panículas, 29,6%
panículas a menos que a área de segundo ano.
FIGURA 4. Peso de 1.000 grãos de arroz, sobre diferentes doses de boro e em área
de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área
2).
**significativo a 1%, nsnão significativo.
O peso de 1.000 grãos tanto para área de abertura de cerrado (área 1)
como para área de segundo ano de cultivo de arroz não foi influenciado pelas doses
de B avaliadas (figura 4). Silvestrin et al. (2010) e Kappes et al. (2007), também não
obtiveram resultados significativos em relação a massa de 1.000 grãos em relação a
adubação boratada nas culturas de milho e soja respectivamente.
A produtividade foi significativa para área de primeiro ano (área 1), isso
pode ter ocorrido devido ao
fato de que essa área apresentou melhor
desenvolvimento vegetativo, conforme confirmado nos valores obtidos com a altura
das plantas, e ainda menor quantidade de panículas, no qual conseqüentemente,
essas plantas aproveitaram melhor os nutrientes disponíveis no solo durante a
27
formação de grãos (figura 5). A produtividade respondeu linearmente a adubação
boratada, onde a maior dose de B avaliada (2,5 kg) alcançou a produtividade de
2.677 kg por hectare. Foloni et al. (2010) observou que o B aplicado no sulco de
semeadura, promoveu incremento de fitomassa e produção de grãos na cultura do
girassol. Valores esses também confirmados por Silvestrin et al. (2010), onde a
produtividade do milho aumentou quando se aplicou a dose de 3 kg de B/ha-1.
FIGURA 5 - Produtividade do arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de
primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área
2).
**significativo a 1%, nsnão significativo.
A adubação boratada não foi significativa na produtividade do arroz na
área de segundo ano de cultivo (figura 5).
28
FIGURA 6 - Grãos inteiros do arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de
primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área 2).
**significativo a 1%, nsnão significativo.
A porcentagem de grãos inteiros expressa a quantidades de grãos de
arroz que se mantiveram inteiros (intactos após o beneficiamento na máquina de
teste de arroz). Como se pode ver na figura 6 a variável grãos inteiros na área de
primeiro ano apresentou resultado significativo, corroborando com as variáveis altura
de plantas, número de panículas e produtividade. No qual a área de primeiro ano
teve um ambiente de produção mais favorável (figura 1), tendo assim menos falhas
durante o desenvolvimento inicial da cultura do arroz, o que é comprovado na
variável número de panículas, pois, quando há uma falha no crescimento inicial da
cultura, as plantas de arroz tendem a perfilhar mais. Com uma quantidade menor de
perfilhos, há uma melhor relação entre a quantidade de nutrientes disponível no solo
com o número de panículas, ou seja, se tem menos panículas competindo pela
mesma quantidade de nutrientes e conseqüentemente, proporcionando um melhor
desenvolvimento e qualidade dos grãos. Sendo assim, com panículas mais bem
formadas, se tem mais grãos inteiros, havendo menores perdas durante o processo
de colheita e beneficiamento da cultura do arroz. A área de primeiro apresentou 74%
de grãos inteiros.
29
A porcentagem de grãos inteiros não respondeu a adubação boratada
(figura 6) na área de segundo ano de cultivo de arroz. Observando a variável
número de panículas (figura 3) que respondeu a adubação boratada, pode-se
concluir que devido ao maior perfilhamento que se teve nessa área, o boro
disponível no solo, foi utilizado durante o desenvolvimento das plantas e na
formação das panículas.
O rendimento de grãos de arroz expressa a porcentagem do
rendimento (arroz puro, sem impureza) dos grãos de arroz em relação a
porcentagem dos grãos inteiros, ou seja, dos grãos de arroz que foram aproveitados
após a primeira seleção (grãos inteiros). O rendimento de grãos foi significativo em
relação às doses de B avaliadas (figura 7).
FIGURA 7 - Rendimento dos grãos arroz, sobre diferentes doses de boro e em área
de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área
2).
**significativo a 1%, nsnão significativo
30
O rendimento dos grãos aumentou linearmente de acordo com que se
utilizou maiores quantidades de B no solo. Observando a variável peso de 1000
grãos (figura 4), mesmo não podendo fazer uma comparação entre as duas áreas
estudadas, pois essas áreas apresentaram diferentes teores de nutrientes no solo e
ainda tiveram ambientes totalmente distintos de produção, percebe-se, que o peso
de 1.000 grãos da área de segundo ano, teve uma ligeira queda em relação a área
de abertura de cerrado, cerca de 3,1 gramas por 1.000 grãos. Sendo assim, a área
de segundo ano, teve grãos menos desenvolvidos, conseqüentemente grãos
menores, o que provoca uma menor porcentagem de quebra durante a colheita e o
beneficiamento do arroz, proporcionando um melhor rendimento. Onde a maior dose
avaliada de 2,5 kg/ha-1 alcançou o valor máximo do rendimento dos grãos (78% de
rendimento).
Ainda observando a figura 7, notou-se que o rendimento de grãos da
área de abertura de cerrado, não respondeu as doses de B no solo. Isso se deve ao
fato de que, como essa área apresentou uma maior porcentagem de grãos inteiros
(figura 6), havia grãos mais saudáveis, e por isso, houve menor variação durante o
processo de beneficiamento do arroz.
TABELA 2 - Relação Custo/Beneficio da adubação boratada da área de primeiro ano
(ha)
Produtividade1
(sc 60 kg)
Receita2
Custo/Beneficio3
R$ 0,00
R$ 6,34
R$ 12,69
R$ 19,03
R$ 25,37
R$ 31,71
-8,13
5,88
1,63
0,04
1,08
-R$ 251,00
R$ 182,13
R$ 50,38
R$ 1,29
R$ 33,33
-R$ 257,34
R$ 169,44
R$ 31,35
-R$ 24,08
R$ 1,62
Tratamento
Custo
(Kg de B/ha)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Valores baseados no preço do kg do ácido bórico a R$2,15 e a saca de 60 kg de
arroz a R$31,00 (CONAB, 2011). 1Produtividade superior em relação a testemunha
(Saca 60 Kg); 2Receita com base na produtividade (há); 3Custo/Beneficio =(Receita
– Custo).
31
Analisando a tabela 2, pode-se notar que a maior relação custo
beneficio na área de primeiro ano, foi alcançada quando se utilizou a dose de 1 kg
de boro, onde essa dose proporcionou um incremento de 5,88 sacas de arroz (60
kg) em relação a dose zero (testemunha). Considerando o preço da saca de arroz a
R$ 31,00 (CONAB, 2011), o custo beneficio do aumento da produtividade foi de
R$169,00 por hectare. Percebe-se também valores positivos no custo beneficio nas
doses de 1,5 e 2,5 kg de B, onde obtiveram a receita liquida de R$31,35 e R$1,62
respectivamente. A dose de 0,5 kg foi a que obteve o pior resultado, onde a
produtividade obtida com o uso desta dose foi de 8,13 sacas de arroz a menos que a
testemunha.
TABELA 3 - Relação Custo/Beneficio da adubação boratada da área de segundo
ano
(ha)
Produtividade1
(sc 60 kg)
Receita2
Custo/Beneficio3
R$ 0,00
R$ 6,34
R$ 12,69
R$ 19,03
R$ 25,37
R$ 31,71
5,13
1,30
1,00
10,00
11,80
R$ 154,04
R$ 164,04
R$ 41,33
R$ 308,71
R$ 365,54
R$ 147,70
R$ 151,35
R$ 22,30
R$ 283,34
R$ 333,83
Tratamento
Custo
(Kg de B/ha)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Valores baseados no preço do kg do ácido bórico a R$2,15 e a saca de 60 kg de
arroz a R$31,00 (CONAB, 2011). 1Produtividade superior em relação a testemunha
(Saca 60 Kg); 2Receita com base na produtividade (há); 3Custo/Beneficio =(Receita
– Custo).
Todas as doses de boro utilizadas na área de segundo ano
proporcionaram resultados positivos na receita e no custo beneficio quando
comparados a dose que não utilizou boro. A maior receita e conseqüentemente o
maior custo beneficio foi alcançado com a dose de 2,5 kg de boro, que proporcionou
um ganho de R$333,83 por hectare (11,80 sacas de arroz). O menor custo beneficio
foi obtido com a dose de 1,5 kg de boro por hectare, que proporcionou o ganho de 1
32
saca de arroz por hectare, e sendo assim, tirando o custo da adubação que foi de
R$19,03 a receita liquida deste tratamento foi de R$22,30 (Tabela 3).
Esses resultados demonstram que o uso do boro em áreas novas de
cerrado, pode compensar o baixo nível tecnológico que é empregado na formação
de lavouras comerciais. Tanto para a área de primeiro ano como para a área de
segundo ano, o uso do boro proporcionou valores positivos no custo benefício
mesmo sem a calagem. O uso do boro em áreas novas, em hipótese alguma é uma
técnica que visa substituir a calagem, mas sim, é uma técnica que visa obter
produtividades maiores, quando não se faz a calagem (devido ao custo), e
conseqüentemente se tem receitas maiores, não elevando o custo de produção, em
vista de que, o custo dessas novas áreas já são elevados devido as grandes
operações agrícolas que são necessárias para implantar essas lavouras.
33
5 CONCLUSÕES
O uso do boro em áreas novas do cerrado compensou o baixo nível
tecnológico que foi empregado na formação das lavouras, proporcionando
resultados positivos no custo beneficio da lavoura sem acréscimos significativos no
custo de produção.
34
BIBLIOGRAFIA
BARRIGOSSI, J; LANNA, A; FERREIRA, E. Agrotóxicos no cultivo do arroz no
Brasil: análise do consumo e medidas para reduzir o impacto ambiental negativo.
Santo Antônio de Goias – GO: Embrapa, 2008.
BOARETTO, R. Boro em Laranjeira: absorção e mobilidade. 2006. 120 p. Tese
(Doutorado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo.
Piracicaba.
BROWN, P; SHELP, B. Boron mobility in plants. The Hague, Plant and Soil, v.
193, p. 85-101, 1997.
COCHRANE, T. Chemical properties of native savanna and forest soils in central
Brazil. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 53, p. 139-141,
1989.
CRUSCIOL, C. et al. Produtividade do arroz irrigado por aspersão em função do
espaçamento e da densidade de semeadura. Pesq. Agropec. Bras., v. 35, p. 10931100, 2000.
CRUSCIOL, C. et al. Matéria seca e absorção de nutrientes em função do
espaçamento e da densidade de emeadura em arroz de terras alta. Scientia
Agricola, v. 5, p. 63-70, 1999.
CRUZ, M. C. P.; NAKAMURA, A. M.; FERREIRA, M. E. Adsorção de boro pelo solo:
efeito da concentração e do pH. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 22,
p. 621-626, 1987.
DÍAZ-ZORITA, M. Manejo de la nutricion mineral de cultivos de girasol. In: XIV
REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE GIRASSOL, XIV, SIMPÓSIO NACIONAL
SOBRE A CULTURA DO GIRASSOL, II., 2001, Rio Verde. Anais... Rio Verde:
FESURV/IAM, 2001. p. 5-13.
ENGLER, M; BUZETTI, S. et al. Ways of applying boron and zinc to two upland rice
cultivars. Científica, Jaboticabal, v. 34, n. 2, p. 129-135, 2006.
35
FAGERIA, A. S. Solos tropicais e aspectos fisiológicos das culturas. Brasília,
DF:Embrapa-DPU, 1989. 425 p. (EMBRAPA-CNPAF. Documentos.18).
FAGERIA, N. K. Soil acidity affects availability of nitrogen, phosphorus, and
potassium. Better Crops International, v. 10, p. 8-9, 1994.
FAGERIA, N. Níveis adequados e tóxicos de boro na produção de arroz, feijão,
milho, soja e trigo em solo de cerrado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola
e Ambiental, v. 4, p. 57-62, 2000.
FAGERIA, N. K. A cultura do arroz no Brasil. 2.ed. Santo Antônio de Goiás :
Embrapa Arroz e Feilão, 2006.
FAGERIA, N. Manejo da calagem e adubação do arroz. In: BRESEGHELLO, F.;
STONE, L. Tecnologia para o arroz de terras altas. Santo Antônio de Goiás:
Embrapa Arroz e Feijão, 1998. p. 67-78.
FAGERIA, N. Níveis adequados e tóxicos de boro na produção de arroz, feijão,
milho, soja e trigo em solo de cerrado. R. Bras. de Eng. Agr. e Amb., v. 4, p. 57-62,
2000.
FAGERIA, N. et al. Response of upland rice and common bean to liming on an
Oxisol. In: WRIGHT, R. J.; BALIGAR, V. C.; MURRMAN, R. P. (eds.). Plant-soil
interactions at low pH. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
1991. p. 519-525.
FAGERIA, N; SOUZA, N. Resposta das culturas de arroz e feijão em sucessão à
adubação em solo de cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 30,
n. 3, p. 359-368, mar. 1995.
FAGERIA, N; GHEYI, H. Efficient crop production. Campina Grande: UFPB,
1999. 547 p.
FAGERIA, N. K.; STONE, L. F. Manejo da acidez dos solos de cerrado e de
várzea do Brasil. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 1999. 42 p.
(Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 92).
36
FAGERIA, N; BARBOSA M; STONE, L. Doses e teores adequados e tóxicos de
micronutrientes no solo e plantas de culturas anuais. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 19., Ribeirão Preto, 2003. Resumos...
Ribeirão Preto, 2003. CD-ROM
FAGERIA, N. K.; BRESEGUELLO, F. Nutritional dignostic in upland rice production
in some munipalities of state of Mato Grosso, Brazil. Journal of Plant Nutrition, v.
27, n. 15-28, 2004.
FAGERIA, N; FILHO, M; SOARES, D. Nutrição de plantas: diagnose foliar em
grandes culturas. Jaboticabal-SP: Funep, 2008. 331 p.
FOLONI, J. et al. Desenvolvimento de grãos e produção de fitomassa do girassol
em função de adubações boratadas. Biosci. J., Uberlândia, v. 26, n. 2, p. 273-280,
Mar./Apr. 2010
GOEDERT, W. Região dos cerrados: potencial agrícola e política para seu
desenvolvimento. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 24, n. 1, p. 1-17,
jan. 1989.
GOEDERT, W. Management of the cerrado soils of Brazil: A review. Journal of
Soil Science, Oxford, v. 34, p. 405-428, 1983.
HU, H. et al. Isolation and characterization of soluble boron complexes in higher
plants: the mechanism of phloem mobility of boron. Plant Physiology, Waterbury, v.
113, p. 649-655, 1997.
KAPPES, C; GOLO, A; CARVALHO, M. Doses e épocas de aplicação foliar de boro
nas características agronômicas e na qualidade de sementes de soja. Scientia
Agraria, Curitiba, v. 9, n. 3, p. 291-297, 2008.
KEREN, R.; BINGHAM, F. T.; RHOADES, J. D. Effect of clay mineral content in soil
on boron uptake and yield of wheat. Soil Science Society of America Journal,
Madson, v. 49, p. 1466-1470, 1985.
KLAMT, E; KAMPF, N; SCHENEIDER, P. Solos de várzea no Estado do Rio
Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1985. (Boletim Técnico de Solos, 4).
37
LOPES, A. S. Micronutrientes: filosofias de aplicação e eficiência agronômica.
São Paulo: ANDA, 1999, 72 p. (ANDA. Boletim Técnico, 8).
LOPES, M. et al. Efeito de micronutrientes sobre o rendimento de grãos de arroz
irrigado. In: REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 14., Pelotas, 1985.
Anais... Pelotas, Embrapa – CPATB, 1985. 226-234 p.
LOPES, A. Micronutrientes filosofias de aplicação e eficiência agronômica.
São Paulo: Associação Nacional para Difusão de Adubos, 1999. 70 p. (Boletim
Técnico, 8).
LUND, S; SMITH, A; HACKETT, W. Cuttings of tabacco mutant, rac, undergo cell
divisions but do not initiate adventitious roots inresponse to exogenous auxina.
Physiol. Plant, v. 97, p. 372-380, 1996.
MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição de plantas. São Paulo: Agronômica
Ceres, 1980. 251 p.
MALAVOLTA, E.; KLIEMANN. Desordens nutricionais no cerrado. Piracicaba:
Potafós, 1985. 136p.
MALAVOLTA, E; VITTI, G; OLIVEIRA, S. Avaliação do estado nutricional das
plantas: princípios e aplicações. 2.ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 319 p.
MARIMON, B. S. et al. Padrões de distribuição de espécies na mata de galeria do
córrego Bacaba, Nova Xavantina, Mato Grosso, em relação a fatores ambientais. B.
Herb. Ezechias Paulo Heringer, Brasília, v. 12, p. 84-100, 2003.
MARINHO, J. et al. Crescimento vegetativo do algodoeiro submetido a adubação de
boro em região de cerrado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 7.,
2009, Foz do Iguaçu. Sustentabilidade da cotonicultura Brasileira e Expansão dos
Mercados: Anais... Campina grande: Embrapa Algodão, 2009. p. 1885-1891.
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. New York: Academic Press,
1995. 674 p
38
MORTVEDT, J. J.; WOODRUFF, J. R. Technology and application of boron
fertilizers for crops. In: GUPTA, U. C. (Ed.). Boron and its role in crop production.
Boca Raton: CRC Press Inc., 1993. p. 157-176.
OBATA, H. Micro essential elements. In: MATSUO, T. et al. (eds.). Science of the
rice plant. Tokyo: Food and Agriculture Police Research Center, 1995. 402-417 p.
OERTLI, L; GRGURVIC. Effect of pH on the absorption of boron by excised barley
roots. Agron. J., v. 67, p. 278-80, 1975.
ONO, E.; RODRIGUES, J. Aspecto da fisiologia do enraizamento de estacas
caulinares. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 1996. 83 p.
PRADO, R. Nutrição de Plantas. 1.ed. São Paulo, 2008. p. p. 213-215.
RAIJ, B. VAN, et al. Recomendações de adubação e calagem para o estado de
São Paulo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996. 285 p.
RERKASEM, B.; JAMJOD, S. Genotypic variation in plant response to low boron
and implications for plant breeding. Plant and Soil, Dordrecht, v. 193, p. 169-180,
1997.
ROSOLEM, C; ZANCANARO, L; BISCARO, T. Boro disponível e resposta da soja
em latossolo vermelho-amarelo do Mato Grosso. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa ,
v. 32, n. 6, dez. 2008 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010006832008000600016&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 16 jul. 2010.
SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. A. (Editores). A cultura do arroz no
Brasil. 2.ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feilão, 2006. 1000 p.
SCIVITTARO, W; MACHADO, O. Adubação e calagem para a cultura do arroz
irrigado. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2004. p. 259-297.
SILVESTRIN, V. et al. Produção de grãos de milho em função de níveis de
adubação de boro no solo, região dos campos gerais, Reunião Brasileira de
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas Guarapari, 29., 2010, Guarapari, Anais...
Guarapari, 2010.
39
SHORROCKS, V. M. The ocorrence and correction of boron deficiency. Plant and
Soil, Dordrecht, v. 193, p. 121-148, 1997.
UNGARO, M. R. G. Cultura do girassol. Campinas: Instituto agronômico, 2000. 36
p.
WELCH R. Micronutrient nutrition of plants. Plant Science, v. 14, n. 1, p. 49-82,
1995.
WERNER, J. C. Calagem para plantas forrageiras. In: SIMPÓSIO SOBRE
MANEJO DE PASTAGENS, 8., Piracicaba, 1986. Anais... Piracicaba, FEALQ, 1986.
p. 191-198.