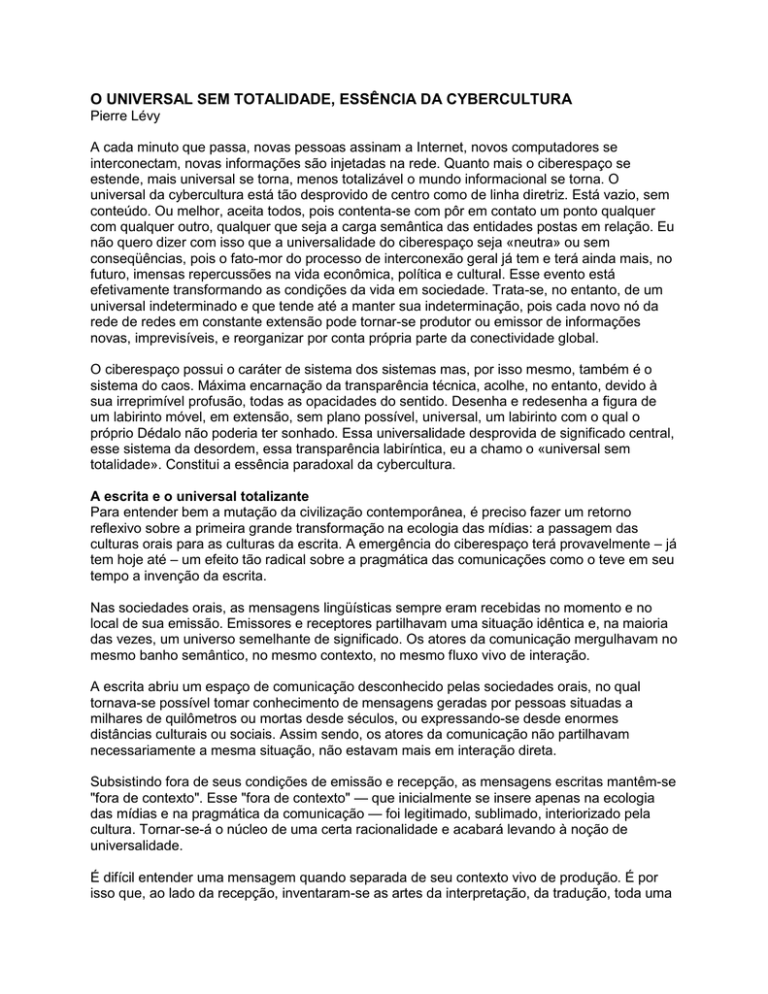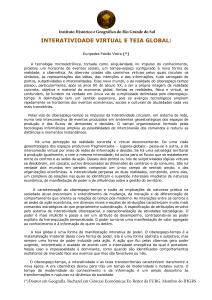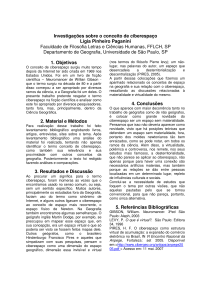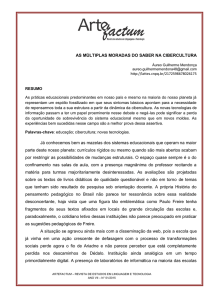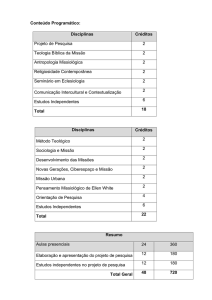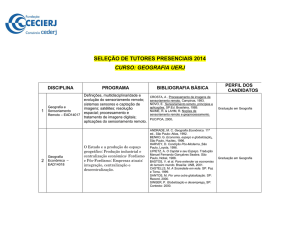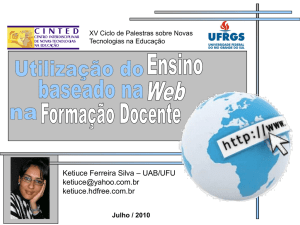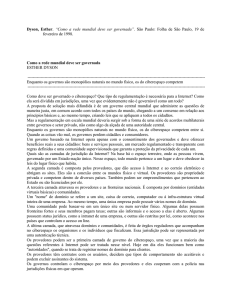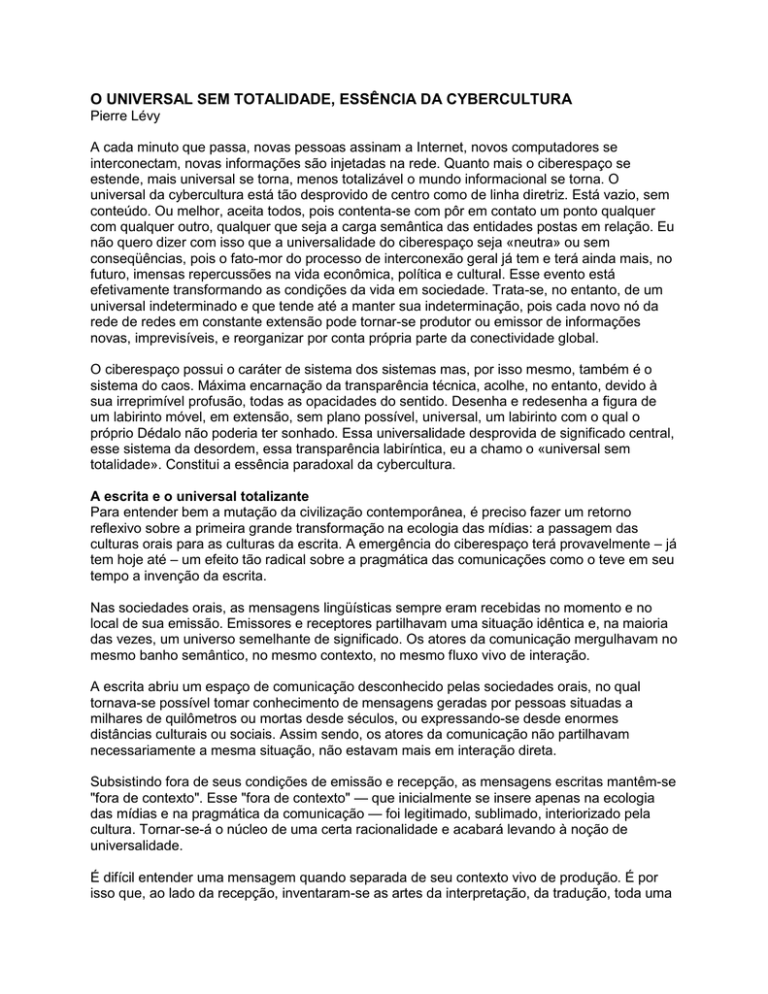
O UNIVERSAL SEM TOTALIDADE, ESSÊNCIA DA CYBERCULTURA
Pierre Lévy
A cada minuto que passa, novas pessoas assinam a Internet, novos computadores se
interconectam, novas informações são injetadas na rede. Quanto mais o ciberespaço se
estende, mais universal se torna, menos totalizável o mundo informacional se torna. O
universal da cybercultura está tão desprovido de centro como de linha diretriz. Está vazio, sem
conteúdo. Ou melhor, aceita todos, pois contenta-se com pôr em contato um ponto qualquer
com qualquer outro, qualquer que seja a carga semântica das entidades postas em relação. Eu
não quero dizer com isso que a universalidade do ciberespaço seja «neutra» ou sem
conseqüências, pois o fato-mor do processo de interconexão geral já tem e terá ainda mais, no
futuro, imensas repercussões na vida econômica, política e cultural. Esse evento está
efetivamente transformando as condições da vida em sociedade. Trata-se, no entanto, de um
universal indeterminado e que tende até a manter sua indeterminação, pois cada novo nó da
rede de redes em constante extensão pode tornar-se produtor ou emissor de informações
novas, imprevisíveis, e reorganizar por conta própria parte da conectividade global.
O ciberespaço possui o caráter de sistema dos sistemas mas, por isso mesmo, também é o
sistema do caos. Máxima encarnação da transparência técnica, acolhe, no entanto, devido à
sua irreprimível profusão, todas as opacidades do sentido. Desenha e redesenha a figura de
um labirinto móvel, em extensão, sem plano possível, universal, um labirinto com o qual o
próprio Dédalo não poderia ter sonhado. Essa universalidade desprovida de significado central,
esse sistema da desordem, essa transparência labiríntica, eu a chamo o «universal sem
totalidade». Constitui a essência paradoxal da cybercultura.
A escrita e o universal totalizante
Para entender bem a mutação da civilização contemporânea, é preciso fazer um retorno
reflexivo sobre a primeira grande transformação na ecologia das mídias: a passagem das
culturas orais para as culturas da escrita. A emergência do ciberespaço terá provavelmente – já
tem hoje até – um efeito tão radical sobre a pragmática das comunicações como o teve em seu
tempo a invenção da escrita.
Nas sociedades orais, as mensagens lingüísticas sempre eram recebidas no momento e no
local de sua emissão. Emissores e receptores partilhavam uma situação idêntica e, na maioria
das vezes, um universo semelhante de significado. Os atores da comunicação mergulhavam no
mesmo banho semântico, no mesmo contexto, no mesmo fluxo vivo de interação.
A escrita abriu um espaço de comunicação desconhecido pelas sociedades orais, no qual
tornava-se possível tomar conhecimento de mensagens geradas por pessoas situadas a
milhares de quilômetros ou mortas desde séculos, ou expressando-se desde enormes
distâncias culturais ou sociais. Assim sendo, os atores da comunicação não partilhavam
necessariamente a mesma situação, não estavam mais em interação direta.
Subsistindo fora de seus condições de emissão e recepção, as mensagens escritas mantêm-se
"fora de contexto". Esse "fora de contexto" — que inicialmente se insere apenas na ecologia
das mídias e na pragmática da comunicação — foi legitimado, sublimado, interiorizado pela
cultura. Tornar-se-á o núcleo de uma certa racionalidade e acabará levando à noção de
universalidade.
É difícil entender uma mensagem quando separada de seu contexto vivo de produção. É por
isso que, ao lado da recepção, inventaram-se as artes da interpretação, da tradução, toda uma
tecnologia lingüística (gramáticas, dicionários…). Do lado da emissão, houve um esforço para
compor mensagens que fossem capazes de circular por toda a parte, independentemente de
suas condições de produção, as quais contêm em si, na medida do possível, suas chaves de
interpretação ou sua "razão". A esse esforço prático corresponde a Idéia do Universal. Em
princípio, não há a necessidade de recorrer a um testemunho vivo, a uma autoridade externa, a
hábitos ou a elementos de um determinado ambiente cultural, para compreender e admitir as
proposições enunciadas nos Elementos de Euclides. Esse texto inclui em si as definições e os
axiomas a partir dos quais decorrem necessariamente os teoremas. Os Elementos são um dos
melhores exemplos do tipo de mensagem auto-suficiente, auto-explicativa, englobando suas
próprias razões, que não teria pertinência alguma numa sociedade oral.
Cada uma à sua maneira, a filosofia e a ciência clássicas almejam a universalidade. Eu formulo
a hipótese de que é porque elas não podem ser separadas do dispositivo de comunicação
instaurado pela escrita. As religiões "universais" (não estou falando apenas dos monoteísmos:
pensemos no Budismo) são todas elas apoiadas em textos. Se eu quiser converter-me ao
Islamismo, posso fazê-lo em Paris, em Nova Iorque ou na Meca. Mas se eu quiser praticar a
religião bororo (supondo-se que esse projeto tenha um sentido), não tenho outra solução que
não ir viver com os bororos. Os rituais, os mitos, as crenças e os modos de vida bororo não são
"universais", mas sim contextuais ou locais. De maneira alguma apóiam-se numa relação com
os textos escritos. Evidentemente, essa constatação não implica nenhum julgamento de valor
etnocêntrico: um mito bororo pertence ao patrimônio da humanidade e pode virtualmente
comover qualquer ser pensante. Por outro lado, religiões particularistas também têm seus
textos – a escrita não determina automaticamente o universal, ela o condiciona (não há
universalidade sem escrita).
Assim como os textos científicos ou filosóficos que supostamente contêm suas próprias razões,
seus próprios fundamentos e trazem consigo suas condições de interpretação, os grandes
textos das religiões universalistas englobam por construção a fonte de sua autoridade. Com
efeito, a origem da verdade religiosa é a revelação. Ora, a Tora, os Evangelhos, o Alcorão são
a própria revelação ou o relato autêntico da revelação. O discurso não está mais no fio de uma
tradição cuja autoridade vem do passado, dos ancestrais ou da evidência partilhada de uma
cultura. Somente o texto (a revelação) fundamenta a verdade, fugindo, assim, de qualquer
contexto condicionante. Graças ao regime de verdade que se apóia num texto-revelação, as
religiões do livro libertam-se da dependência de um meio particular e tornam-se universais.
Observemos, de passagem, que o «autor» (típico das culturas escritas) é, originalmente, a
fonte da autoridade, enquanto o que o «intérprete» (figura central das tradições orais) faz é
apenas atualizar ou modular uma autoridade que vem de outro lugar. Graças à escrita, os
autores, demiúrgicos, inventam a autoposição do verdadeiro.
No universal fundamentado pela escrita, o que deve manter-se inalterado pelas interpretações,
traduções, translações, difusões, conservações, é o sentido. O significado da mensagem deve
ser o mesmo aqui e acolá, hoje e outrora. Esse universal é indissociável de um alcance de
fechamento semântico. Seu esforço de totalização luta contra a pluralidade aberta dos
contextos atravessados pelas mensagens, contra a diversidade das comunidades que os
fazem circular. Da invenção da escrita decorrem as exigências muito especiais da
descontextualização dos discursos. Desde esse evento, o domínio englobante do significado, a
pretensão do "tudo", a tentativa de instaurar o mesmo sentido (ou, para a ciência, a mesma
exatidão) em cada lugar está, para nós, associado ao universal.
Meios de comunicação de massa e totalidade
Os meios de comunicação de massa (imprensa, rádio, cinema, televisão) seguem, ao menos
em sua configuração clássica, a linha cultural do universal totalizante iniciada pela escrita.
Dado que a mensagem mediática será lida, ouvida, vista por milhares ou milhões de pessoas
mundo afora, é composta de maneira que encontre o «denominador comum» mental de seus
destinatários. Seu alvo são os receptores, no mínimo, de sua capacidade interpretativa. Não
cabe desenvolver aqui tudo quanto distingue os efeitos culturais da mídia eletrônica dos da
prensa. Só queria ressaltar uma semelhança. Por circular num espaço desprovido de interação,
a mensagem mediática não pode explorar o contexto particular que envolve o receptor, ignora
sua singularidade, suas aderências sociais, sua microcultura, seu momento e sua situação
especial. Tal dispositivo, ao mesmo tempo redutor e conquistador, é que fabrica o "público"
indiferenciado, a "massa" dos meios de comunicação de massa. Universalizante por vocação, a
mídia totaliza de maneira frouxa sobre o atrativo emocional e cognitivo mais baixo, para o
«espetáculo» contemporâneo, ou de maneira muito mais violenta, sobre a propaganda do
partido único, para os totalitarismos clássicos do século XX: fascismo, nazismo e estalinismo. A
mídia eletrônica, por exemplo, o rádio ou a televisão, trazem uma segunda tendência,
complementar da primeira. Paradoxalmente, a descontextualização que eu acabo de
mencionar estabelece outro contexto, holístico, quase que tribal, porém numa escala maior do
que nas sociedades orais. Interagindo com os outros meios de comunicação, a televisão traz à
tona um plano emocional de existência que reúne os membros da sociedade numa espécie de
macrocontexto flutuante, sem memória e de rápida evolução. Percebe-se isso mais
especialmente nos fenômenos do "ao vivo" e em geral quando a «atualidade» se torna quente.
É preciso reconhecer a McLuhan o fato de ter sido o primeiro a descrever esse caráter das
sociedades mediáticas. A principal diferença entre o contexto mediático e o contexto oral é que
os telespectadores, embora emocionalmente implicados na esfera do espetáculo, jamais
podem sê-lo praticamente. Por construção e no plano mediático de existência, jamais são
atores.
A verdadeira ruptura com a pragmática da comunicação estabelecida pela escrita não pode vir
à luz com o rádio ou a televisão, pois esses instrumentos de difusão em massa não permitem
nenhuma verdadeira reciprocidade, tampouco interações transversais entre os participantes.
Em vez de emergir das interações vivas de uma ou mais comunidades, o contexto global
instaurado pela mídia fica fora do alcance dos que consomem apenas sua recepção passiva,
isolada.
Complexidade dos modos de totalização
Muitas formas culturais derivadas da escrita têm a universalidade por vocação; porém, cada
uma totaliza com base num atrativo diferente: as religiões universais sobre o sentido, a filosofia
(inclusive a filosofia política) sobre a razão, a ciência sobre a exatidão reprodutível (os fatos), a
mídia sobre uma captação num espetáculo siderante batizado como "comunicação". Em todos
os casos, a totalização opera-se sobre a identidade do significado. Cada uma à sua maneira,
essas máquinas culturais procuram reproduzir, no plano de realidade que inventam, uma sorte
de coincidência com eles mesmos dos coletivos que reúnem. O Universal? Uma espécie de
aqui e agora virtual da humanidade. Ora, embora desemboquem numa reunião por um aspecto
de sua ação, tais máquinas de produzir o universal decompõem, por outro lado, uma multidão
de micrototalidades contextuais: paganismos, opiniões, tradições, saberes empíricos,
transmissões comunitárias e artesanais. Por sua vez, essas destruições de local são
imperfeitas, ambíguas, pois por contragolpe os produtos das máquinas universais são
fagocitados, relocalizados, misturados aos particularismos que eles gostariam de transcender.
Embora o universal e a totalização (a totalização, isto é, o fechamento semântico, a unidade da
razão, a redução do denominador comum, etc.) tenham sempre estado ligados, sua conjunção
oculta fortes tensões, dolorosas contradições que talvez a nova ecologia da mídia polarizada
pelo ciberespaço permita desvelar. Essa resolução, digamô-lo com força, não está em absoluto
garantida, nem é automática. A ecologia das técnicas de comunicação propõe, os atores
humanos dispõem. Eles são quem decide em última instância, deliberadamente ou na semiinconsciência dos efeitos coletivos, do universal cultural que juntos estão construindo. E, para
isso, devem ter percebido a possibilidade de novas escolhas.
A cybercultura ou o universal sem totalidade
Com efeito, o maior evento cultural anunciado pela emergência do ciberespaço é o
desatrelamento entre esses dois operadores sociais ou máquinas abstratas (muito mais do que
conceitos!) que a universalidade e a totalização são. A causa é simples: o ciberespaço dissolve
a pragmática de comunicação que, desde a invenção da escrita, havia conjuntado o universal e
a totalidade. Com efeito, leva-nos de volta a essa situação anterior a escrita — porém, numa
outra escala e em outra órbita — na medida em que a interconexão e o dinamismo em tempo
real das memórias em linha faz os parceiros da comunicação partilharem novamente o mesmo
contexto, o mesmo imenso hipertexto vivo. Qualquer que seja a mensagem abordada, ela está
conectada com outras mensagens, com comentários, com gloses em constante evolução, com
pessoas que se interessam por elas, com os fóruns onde são debatidas, aqui e agora.
Qualquer texto é o fragmento que se ignora talvez do hipertexto móvel que o envelopa, que o
conecta com outros textos e serve como mediador ou meio para uma comunicação recíproca,
interativa, ininterrupta. Sob o regime clássico da escrita, o leitor está condenado a reatualizar
dispendiosamente o contexto, ou então a aceitar o trabalho das Igrejas, das instituições ou
Escolas, obstinadas a ressuscitar e fechar o sentido. Hoje, porém, tecnicamente e devido à
iminente colocação em rede de todas as máquinas do planeta, quase não existem mais
mensagens "fora de contexto", separadas de uma comunidade ativa. Virtualmente, todas as
mensagens mergulham num banho comunicacional borbulhante de vida, incluindo as próprias
pessoas, e do qual o ciberespaço vai progressivamente sendo o coração.
Os correios, o telefone, a imprensa, as editoras, as rádios, as incontáveis redes de televisão
formam doravante a franja imperfeita, os apêndices parciais e diferentes, todos eles de um
espaço de interconexão aberto, animado por comunicações transversais, caótico, turbilhonante,
fractal, movido por processos magmáticos de inteligência coletiva. É verdade que jamais nos
banhamos duas vezes no mesmo rio informacional, mas a densidade dos vínculos e a
velocidade das circulações são tais que os atores da comunicações não sentem mais nenhuma
grande dificuldade para partilhar o mesmo contexto, ainda que essa situação seja algo
movediça e ocasionalmente confusa.
Utopia minimal e motor primário do crescimento da Internet, a interconexão generalizada
emerge como forma nova do Universal. Atenção! O processo de interconexão mundial em
curso realiza mesmo uma forma do Universal, mas essa não é a mesma do que com a escrita
estática. Aqui, o Universal deixa de articular-se no fechamento semântico chamado pela
descontextualização. Muito pelo contrário. Esse Universal não totaliza mais o sentido, mas sim
liga pelo contato, pela interação geral.
O Universal não é o planetário
Dir-se-á, talvez, que não se trata propriamente do Universal, mas do planetário, do fato
geográfico bruto, da extensão das redes de transporte material e informacional, da constatação
técnica do crescimento exponencial do ciberespaço. Pior ainda, sob o pretexto de universal,
não se tratará apenas do puro e simples "global, o da "globalização" da economia ou dos
mercados financeiros? Está certo que esse novo Universal contém uma alta dose de global e
planetário, mas ele não se limita a isso. O «Universal por contato» ainda é universal, no sentido
mais profundo, pois ele é indissociável da idéia de humanidade. Até os mais ferrenhos
desprezadores do ciberespaço rendem homenagem a essa dimensão quando eles lamentam,
com razão, que a maioria esteja excluída ou que a África ocupe tão pouco lugar nele. O que é
que a reivindicação do "acesso para todos" revela? Mostra que a participação nesse espaço
que lega cada ser humano com qualquer outro, que pode fazer as comunidades comunicaremse entre si e consigo, que suprime os monopólios de difusão e autoriza cada um a emitir para
quem estiver interessado ou implicado, esse reivindicação revela que a participação nesse
espaço funda-se num direito e que sua construção se aparenta com uma espécie de imperativo
moral.
Em suma, a cybercultura dá forma a uma nova espécie de Universal: o Universal sem
totalidade. E, repetimos, ainda se trata de Universal, acompanhado de todas as ressonâncias
que se quiser com a filosofia das luzes, por ele manter uma profunda relação com a idéia de
humanidade. O ciberespaço, com efeito, não gera uma cultura do Universal por estar de fato
em toda a parte, mas sim porque sua forma ou idéia implica direito à totalidade dos seres
humanos.
Quanto mais universal, menos totalizável
Por intermédio dos computadores e das redes, as pessoas mais diversas podem entrar em
contato, apertar a mão no mundo inteiro. Antes do que se construir sobre a identidade do
sentido, o novo universo prova-se por imersão. Estamos todos no mesmo banho, no mesmo
dilúvio de comunicação. Ou seja, não é mais uma questão de fechamento semântico ou de
totalização.
Uma nova ecologia dos meios de comunicação está organizando-se em torno da extensão do
ciberespaço. Posso agora enunciar seu paradoxo central: quanto mais universal (extenso,
interconectado, interativo), menos totalizável. Cada conexão suplementar acrescenta mais
heterogeneidade, novas fontes de informação, novas linhas de fuga, de maneira que o sentido
global fica cada vez menos legível, cada vez mais difícil de circunscrever, de encerrar, de
dominar. Esse Universal dá acesso a um gozo do mundial, à inteligência coletiva em ato da
espécie. Faz-nos participar mais intensamente da humanidade viva, mas sem que isso seja
contraditório, ao contrário, com a multiplicação das singularidades e a ascensão da desordem.
De novo: quanto mais o Universal se concretizar ou se atualizar, menos totalizável fica. Existe a
tentação de dizer que se trata, enfim, do verdadeiro Universal, pois ele não se confunde mais
com uma dilatação de local, e, tampouco, com a exportação forçada dos produtos de uma
determinada cultura. Anarquia? Desordem? Não. Tais palavras refletem apenas a nostalgia do
fechamento. Aceitar perder uma certa forma de domínio, é dar-se uma chance de encontrar o
real. O ciberespaço não está desordenado, mas exprime a diversidade do humano. Que seja
necessário inventar os mapas e os instrumentos de navegação desse novo oceano, sobre isso
cada um pode concordar. Não é necessário, porém, fixar, estruturar a priori ,engessar uma
paisagem fluida e variada por natureza, uma vontade excessiva de domínio não prende o
ciberespaço de maneira durável. As tentativas de fechamento tornam-se quase impossíveis ou
por demais evidentemente abusivas.
Por que inventar um «Universal sem totalidade», quando já dispomos do rico conceito de pósmodernidade? É que, precisamente, não se trata da mesma coisa. A filosofia pós-moderna
descreveu bem a dispersão da totalização. A fábula do progresso linear e garantida não tem
mais vigência, nem na arte, nem na política, nem em campo algum. Ao não haver mais »um»
sentido da história, mas sim uma multidão de pequenas proposições que lutam pela sua
legitimidade, como organizar a coerência dos eventos, em que tudo é «a vanguarda»? Quem é
que está «na frente»? Quem é que é «progressista»? Em três palavras, e para retomar a feliz
expressão de Lyotard, a pós-modernidade proclama o fim dos «grandes relatos» totalizantes. A
multiplicidade e o emaranhamento radical das épocas, dos pontos de vista e das legitimidades,
traço distintivo do pós-moderno, vê-se claramente acentuada e encorajada, aliás, na
cybercultura. Mas a filosofia pós-moderna tem confundido o Universal e a totalização. Seu erro
foi o de jogar o bebê do Universal junto com a água suja da totalidade.
O que é o Universal? É a presença (virtual) para si da humanidade. Quanto à totalidade,
podemos defini-la como o agrupamento estabilizado do sentido de uma pluralidade (discurso,
situação, conjunto de eventos, etc.). Essa identidade global pode encerrar-se no horizonte de
um processo complexo, resultar do desequilíbrio dinâmico da vida, emergir das oscilações e
contradições do pensamento. Mas qualquer que seja a complexidade de suas modalidades, a
totalidade ainda continua abaixo do horizonte do mesmo.
Ora, a cybercultura mostra precisamente que existe outra maneira de instaurar a presença
virtual para si da humanidade (o Universal) que não pela identidade do sentido (a totalidade).
Estará a cybercultura em ruptura com os valores fundadores da modernidade européia?
Em contraste com a idéia pós-moderna do declínio das idéias das luzes, afirmo que a
cybercultura pode ser considerada como herdeira legítima (embora distante) do projeto
progressista dos filósofos do século XVIII. Com efeito, ela valoriza a participação em
comunidades de debate e argumentação. Na linha direta das morais da igualdade, ela incentiva
uma maneira de reciprocidade essencial nas relações humanas. Desenvolveu-se a partir de
uma prática assídua dos intercâmbios de informações e conhecimentos, que os filósofos das
luzes consideravam como o principal motor do progresso. E, se alguma vez tivéssemos sido
modernos (1), a cybercultura não seria pós-moderna, mas estaria realmente na continuidade
dos ideais revolucionários e republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que, na
cybercultura, tais "valores" encarnam-se em dispositivos técnicos concretos. Na era da mídia
eletrônica, a igualdade se realiza em possibilidade para cada um emitir para todos; a liberdade
se objetiva em softwares de codificação e em acesso transfronteiriço para múltiplas
comunidades virtuais; a fraternidade, quanto a ela, se converte em interconexão mundial.
Assim, longe de ser resolutamente pós-moderno, o ciberespaço pode aparecer como uma
espécie de materialização técnica dos ideais modernos. Em particular, a evolução
contemporânea da informática constitui uma surpreendente realização do objetivo marxista de
apropriação dos meios de produção pelos próprios produtores. Hoje em dia, a "produção"
consiste essencialmente em simular, processar informação, em criar e divulgar mensagens, em
adquirir e transmitir conhecimentos, em coordenar-se em tempo real. Assim sendo, os
computadores pessoais e as redes numéricas colocam efetivamente nas mãos dos indivíduos
as principais ferramentas da atividade econômica. Mais ainda, se o espetáculo (o sistema
mediático), de acordo com os situacionistas, é o máximo da dominação capitalista (2), o
ciberespaço então está realizando uma verdadeira revolução, pois permite — ou permitirá, em
breve — a cada um dispensar o editor, o produtor, o transmissor, os intermediários em geral,
para dar a conhecer seus textos, sua música, seu mundo virtual ou qualquer outro produto de
sua mente. Em contraste com a impossibilidade de responder e o isolamento dos
consumidores de televisão, o ciberespaço oferece as condições de uma comunicação direta,
interativa e coletiva.
A realização quase técnica dos ideais da modernidade coloca imediatamente em evidência seu
caráter, não irrisório, mas parcial, insuficiente. Pois está claro que nem a informática pessoal,
nem o ciberespaço, por mais generalizada que seja a totalidade dos seres humanos, resolvem
com sua mera existência os principais problemas de vida em sociedade. É verdade que
realizam praticamente formas novas de universalidade, de fraternidade, de estar juntos, de
reapropriação pela base dos instrumentos de produção e comunicação. Mas, no mesmo
movimento, desestabilizam, em alta velocidade e freqüentemente de maneira violenta, as
economias e as sociedades. Ao mesmo tempo em que arruinam os antigos, participam da
criação de novos poderes, menos visíveis e mais instáveis, mas nem por isso menos virulentos.
A cybercultura aparece como a solução parcial de problemas da época anterior, embora
constitua, por sua vez, um imenso campo de problemas e conflitos para os quais não se está
desenhando ainda nenhuma perspectiva de resolução global. A relação com o saber, o
trabalho e o emprego amoedam a democracia, o Estado precisa ser reinventado, para citarmos
apenas algumas das formas sociais mais brutalmente questionadas.
Num sentido, a cybercultura perpetua a grande tradição da cultura européia. Noutro, ela
transmuda o conceito de cultura.
A cybercultura ou a tradição simultânea
Longe de ser uma subcultura dos fanáticos da rede, a cybercultura exprime uma grande
mutação da própria essência da cultura. Conforme a tese que desenvolvi neste relatório, a
chave da cultura do futuro é o conceito de Universal sem totalidade. Nessa proposição, «o
Universal» significa a presença virtual da humanidade para si. O Universal abriga o aqui e
agora da espécie, seu ponto de encontro, um aqui e agora paradoxal, sem lugar nem tempo
claramente atribuível. Por exemplo, uma religião universal dirige-se supostamente a todos os
homens e os reúne virtualmente em sua revelação, sua escatologia, seus valores. Da mesma
maneira, a ciência exprime supostamente (e vale por) o progresso intelectual da totalidade sem
homens, sem exclusão. Os cientistas são os delegados da espécie e os triunfos do
conhecimento exato são os da humanidade em seu conjunto. Da mesma maneira, o horizonte
de um ciberespaço que consideramos universalista é o de interconectar todos os bípedes
falantes e fazê-los participar da inteligência coletiva da espécie no seio de um meio
onipresente. De maneira totalmente diferente, a ciência e as religiões universais abrem lugares
virtuais onde a humanidade encontra a si mesma. Embora exercendo uma função análoga, o
ciberespaço reúne as pessoas de maneira muito menos «virtual» do que a ciência ou as
grandes religiões. A atividade científica implica cada um e dirige-se a todos pelo intermédio de
um sujeito transcendental do conhecimento, no qual cada membro da espécie participa. A
religião agrupa por transcendência. Para sua operação em que põe o homem em presença de
si, ao contrário, o ciberespaço lança mão de uma tecnologia real, imanente, ao alcance da
mão.
Agora, o que é a totalidade? Trata-se, na minha linguagem, da unidade estabilizada do sentido
de uma diversidade. Quer essa unidade ou identidade seja orgânica, dialética, ou complexa,
antes do que simples ou mecânica, não muda em nada a questão; trata-se ainda de totalidade,
isto é, de um fechamento semântico englobante. Ora, a cybercultura inventa outra maneira de
fazer advir a presença virtual para si do humano somente impondo uma unidade do sentido.
Essa é a principal tese defendida aqui.
À luz das categorias que acabo de expor, podemos distinguir três grandes etapas da história:
a das pequenas sociedades fechadas, de cultura oral, que viviam uma totalidade sem
Universal; a das sociedades «civilizadas», imperiais, que usam a escrita, que fizeram surgir um
Universal totalizante e, por fim, a da cybercultura, que corresponde à mundialização concreta
das sociedades, que inventa um Universal sem totalidade.
Ressaltemos que os estágios dois e três não fazem desaparecer os que os antecedem, mas
relativizam-nos ao acrescentar dimensões suplementares.
Numa primeira época, a humanidade é composta de uma multidão de totalidades culturais
dinâmicas ou de «tradições», mentalmente fechadas sobre si, o que evidentemente não
impede nem os encontros, nem as influências. «Os homens» por excelência são os membros
da tribo. São raras as proposições das culturas arcaicas que supostamente concernem a todos
os seres humanos sem exceção. Nem as leis (nenhum «direito humano»), nem os deuses
(nenhuma religião universal), nem os conhecimentos (nenhum procedimento de
experimentação ou raciocínio reprodutível em toda a parte), nem as técnicas (nenhuma rede,
nem padrões mundiais) são universais por construção.
É verdade que o registro estava ausente. Mas a transmissão cíclica de geração para geração
garantia a perenidade no tempo. As capacidades da memória humana limitavam, no entanto, o
tamanho do tesouro cultural às lembranças e aos saberes de um grupo de idosos. Totalidades
vivas, porém fechadas, sem Universal.
Numa segunda época, «civilizada», as condições de comunicação instauradas pela escrita
levam à descoberta prática da universalidade. A escrita, a seguir o impresso, trazem uma
possibilidade de extensão indefinida da memória social. A abertura universalista efetua-se
paralelamente no tempo e no espaço. O Universal totalizante traduz a inflação dos sinais e a
fixação do sentido, a conquista dos territórios e a sujeição dos homens. O primeiro Universal é
imperial, estatal. Impõe-se sobre a diversidade das culturas. Tende a cavar uma camada do ser
em toda a parte e sempre idêntica, pretensamente independente de nós (assim como o
universo criado pela ciência) ou apegada a tal definição abstrata (os direitos humanos). Sim,
nossa espécie existirá futuramente como tal. Encontra-se, comunga dentro de estranhos
espaços virtuais: a revelação, o fim dos tempos, a razão, a ciência, o direito… Do Estado às
religiões do livro, das religiões às redes da tecnociência, a universalidade afirma-se e
corporifica-se, porém, quase sempre pela totalização, pela extensão e pela manutenção de um
sentido único.
Ora, a cybercultura, terceiro estágio da evolução, mantém a universalidade ao mesmo tempo
em que dissolve a totalidade. Corresponde ao momento em que nossa espécie, com a
planetarização econômica, com a densificação das redes de comunicação e transporte, tende a
formar apenas uma comunidade mundial, mesmo que essa comunidade seja — e como é! —
desigual e conflituosa. Única de seu gênero no reino animal, a humanidade reúne toda a sua
espécie numa única sociedade. Mas, ao mesmo tempo e paradoxalmente, a unidade do
sentido surge, talvez porque começa a realizar-se praticamente, pelo contato e pela interação
efetiva. Noé está voltando feito multidão. Flotilhas espalhadas e dançantes de arcas que
abrigam a precariedade de um sentido problemático, reflexos confusos de um tudo fugidio,
evanescente, conectadas com o universo, as comunidades virtuais constroem e dissolvem
constantemente suas micrototalidades dinâmicas, emergentes, submersas, que derivam entre
as correntes cheias de turbilhões do novo dilúvio.
As tradições se expandiam na diacronia da história. Os intérpretes, operadores do tempo,
transmissores das linhas de evolução, pontes entre o futuro e o passado, reatualizavam a
memória, transmitiam e inventavam no mesmo movimento as idéias e as formas. As grandes
tradições intelectuais ou religiosas construíram, com paciência, bibliotecas-hipertextos, às quais
cada nova geração acrescentava seus nós e laços. Inteligências coletivas sedimentadas, a
Igreja ou a universidade costuravam os séculos um com o outro. O Talmude gera uma profusão
de comentários nos quais os sábios de ontem dialogam com os de anteontem.
Longe de desarticular o motivo da «tradição», a cybercultura inclina-o num ângulo de 45º, para
arranjá-lo na ideal sincronia do ciberespaço. A cybercultura encarna a forma horizontal,
simultânea, puramente espacial da transmissão. Só liga no tempo como acréscimo. Sua
principal operação está em conectar no espaço, construir e estender os rizomas do sentido.
Eis o ciberespaço, o pulular de suas comunidades, a ramificação entrelaçada de suas obras,
como se toda a memória dos homens se abrisse no instante: um imenso ato de inteligência
coletiva síncrona, convergindo para o presente, raio silencioso, divergente, explodindo como
uma cabeleira de neurônios.
(1) Ver a obra de Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes. La Découverte, Paris,
1991.
(2) Ver La société du spectacle de Guy Debord, primeira edição: Buchet-Chastel, Paris, 1967