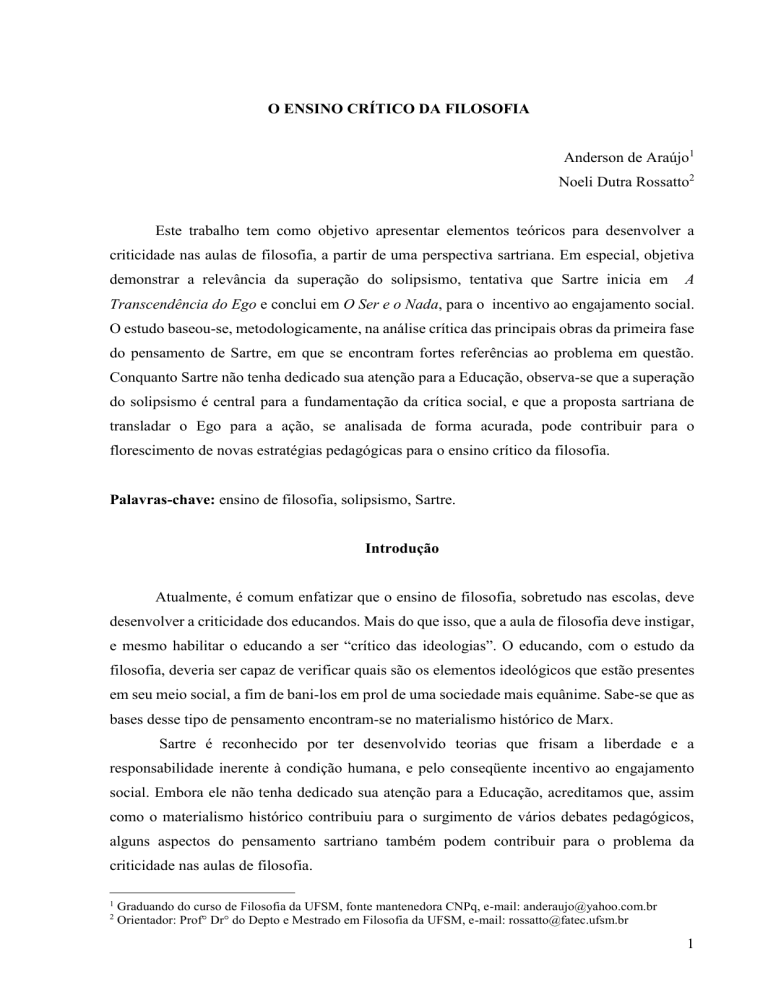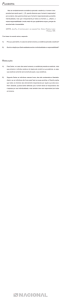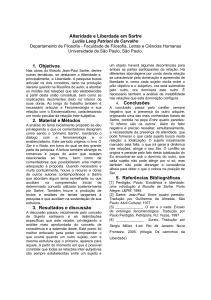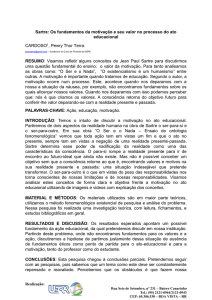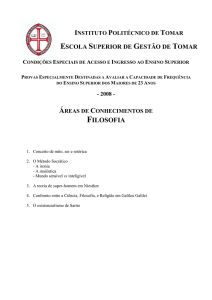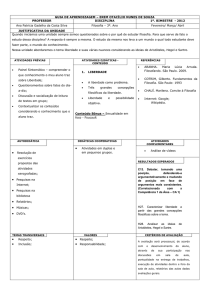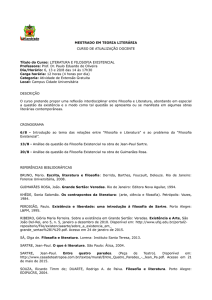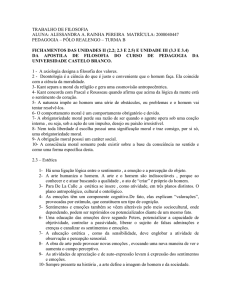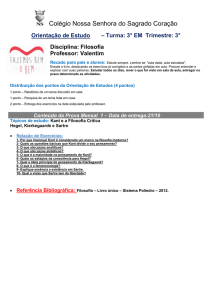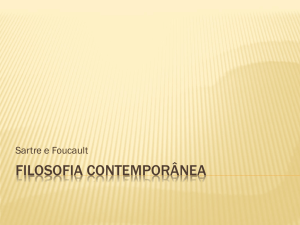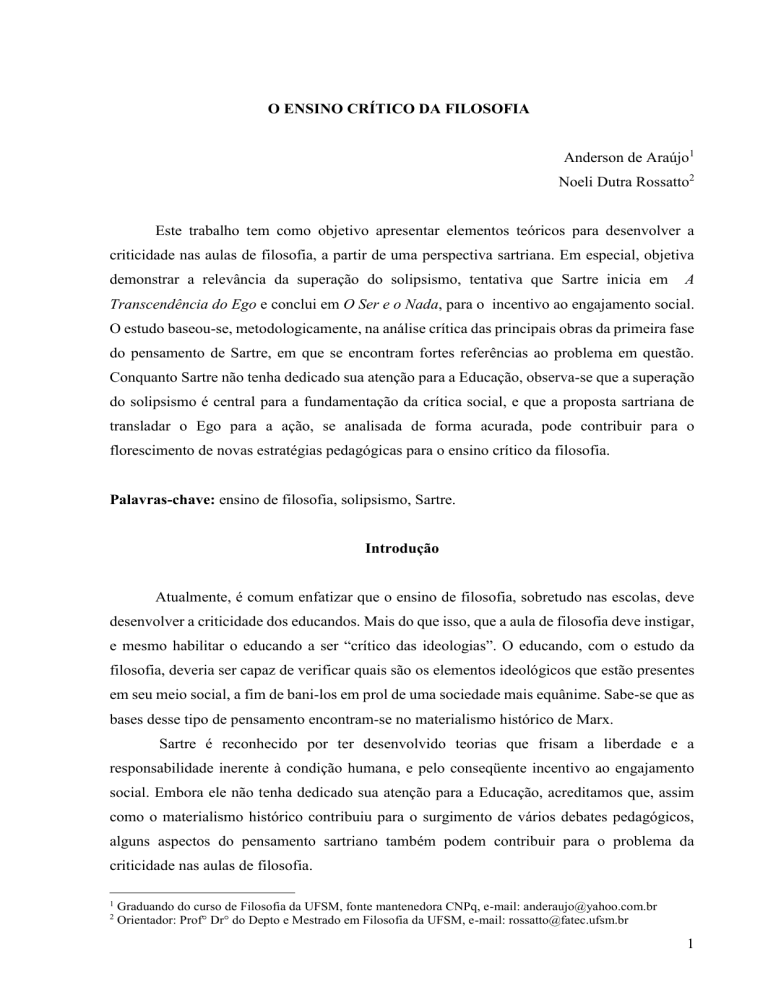
O ENSINO CRÍTICO DA FILOSOFIA
Anderson de Araújo1
Noeli Dutra Rossatto2
Este trabalho tem como objetivo apresentar elementos teóricos para desenvolver a
criticidade nas aulas de filosofia, a partir de uma perspectiva sartriana. Em especial, objetiva
demonstrar a relevância da superação do solipsismo, tentativa que Sartre inicia em
A
Transcendência do Ego e conclui em O Ser e o Nada, para o incentivo ao engajamento social.
O estudo baseou-se, metodologicamente, na análise crítica das principais obras da primeira fase
do pensamento de Sartre, em que se encontram fortes referências ao problema em questão.
Conquanto Sartre não tenha dedicado sua atenção para a Educação, observa-se que a superação
do solipsismo é central para a fundamentação da crítica social, e que a proposta sartriana de
transladar o Ego para a ação, se analisada de forma acurada, pode contribuir para o
florescimento de novas estratégias pedagógicas para o ensino crítico da filosofia.
Palavras-chave: ensino de filosofia, solipsismo, Sartre.
Introdução
Atualmente, é comum enfatizar que o ensino de filosofia, sobretudo nas escolas, deve
desenvolver a criticidade dos educandos. Mais do que isso, que a aula de filosofia deve instigar,
e mesmo habilitar o educando a ser “crítico das ideologias”. O educando, com o estudo da
filosofia, deveria ser capaz de verificar quais são os elementos ideológicos que estão presentes
em seu meio social, a fim de bani-los em prol de uma sociedade mais equânime. Sabe-se que as
bases desse tipo de pensamento encontram-se no materialismo histórico de Marx.
Sartre é reconhecido por ter desenvolvido teorias que frisam a liberdade e a
responsabilidade inerente à condição humana, e pelo conseqüente incentivo ao engajamento
social. Embora ele não tenha dedicado sua atenção para a Educação, acreditamos que, assim
como o materialismo histórico contribuiu para o surgimento de vários debates pedagógicos,
alguns aspectos do pensamento sartriano também podem contribuir para o problema da
criticidade nas aulas de filosofia.
1
2
Graduando do curso de Filosofia da UFSM, fonte mantenedora CNPq, e-mail: [email protected]
Orientador: Prof° Dr° do Depto e Mestrado em Filosofia da UFSM, e-mail: [email protected]
1
Formula-se, então, uma primeira questão: que princípios filosóficos devem nortear a
ação pedagógica do ensino de filosofia para que ele consiga desenvolver a criticidade social dos
educandos?
Ninguém discordará que para uma pessoa efetuar uma ação de ordem social - a crítica
certamente envolve uma sociabilidade -, ela tem que de alguma forma sentir-se em condições
de relacionar-se com as outras pessoas. A relação entre o Eu e o Outro deve ser possível. Mas
este é justamente o problema do solipsismo! Não o solipsismo exagerado, aquele da “solidão
ontológica” (Sartre, 1943, p. 298), que consiste em pensar que só existe o sujeito pensante; mas
um solipsismo, mais ou menos no sentido em que Sartre formulou em O Ser e o Nada, no qual
tudo se reduz ao conjunto de minhas vivências, e no máximo o Eu pode constituir o Outro, mas
nunca encontra-lo. Ora, o solipsismo, nesse último sentido, é um obstáculo ao engajamento
social, pois se o sujeito não consegue entrar em “comunhão” com o Outro, a crítica social é vã.
Deste modo, podemos dizer que, por princípio, o educando, para chegar a desenvolver
uma atitude crítica perante a sociedade, deve ser capaz de relacionar-se com os outros que
compõem a coletividade. Portanto é necessário, ainda que não seja suficiente, que o solipsismo
seja superado. Os estudos da primeira fase de Sartre dão uma boa base para isso, principalmente
A Transcendência do Ego, A Náusea, O Ser e o Nada e a conferência Consciência de si e
Conhecimento de si.
O Eu transladado para a ação
O problema do solipsismo em Sartre remonta a sua obra publicada em 1937: A
Transcendência do Ego. Nela Sartre aborda o problema da relação do Ego e da Consciência;
temática muito discutida pelos seus predecessores teóricos, principalmente por Descartes, Kant
e Husserl.
Segundo Sartre, em relação ao problema da transcendência do Ego, a tese predominante
é a de que o Eu (Ego) “habita” a consciência. Para uns, o Ego têm uma presença formal na
consciência, tal como “um princípio de unificação”; para outros, sua presença é material,
constitui os momentos da vida psíquica. Sartre, por sua vez, defende a tese de que o Ego, seja
ele entendido formal ou materialmente, não está na consciência, mas fora dela. Está no mundo.
Habita o mundo como o Ego de uma outra pessoa qualquer.
Por isso, primeiramente, Sartre examina a teoria da presença formal do Eu. Aqui entra
em pauta a tese de Kant, de que por uma questão de direito, isto é, para que a experiência fosse
possível, deveria haver um Eu transcendental que conferisse unidade às diversas consciências
2
empíricas; neste tópico também é avaliada a tese de Husserl, de que haveria um Eu
transcendental de fato junto à consciência, acessível por meio da intuição.
Sartre confere plausibilidade à tese de Kant, visto que o Eu transcendental kantiano é, na
verdade, um conjunto de regras que dá unidade à experiência; trata-se, conclui Sartre, de uma
consciência transcendental. Contudo, no que respeita a questão de fato nada fica decidido.
Sartre argumenta que a existência de um Eu por trás da consciência, como pensava
Husserl, anularia o próprio projeto husserliano, por que se houvesse um Eu regulando a
consciência, ela já não seria completamente intencional, pura, transparente, e assim não
poderia haver uma fenomenologia da consciência. Na realidade, a unidade das consciências
refletidas deve-se ao próprio fluxo da consciência, não sendo necessário um pólo para
unifica-las.
Num segundo momento, é avaliada a tese da presença material do Eu na consciência;
tese muito comum entre os psicólogos, mas fruto de um erro, diz Sartre. O erro deve-se à
confusão entre os atos reflexivos e irreflexivos. Segundo Sartre, existem duas formas possíveis
de existência da consciência: irrefletida e reflexiva. A consciência irrefletida é a consciência do
objeto, que por natureza lhe é transcendente, sem a presença de um Eu; a consciência refletida é
a consciência de si mesma, que põe o Eu como objeto intencionado. O erro das teorias da
presença material do Eu é colocar uma estrutura reflexiva (o Eu) por detrás das consciências
irrefletidas dos objetos.
A proposta que Sartre apresenta é a de que o Eu somente aparece com o ato reflexivo: a
consciência irreflexiva intenciona a consciência refletida, que por sua vez torna-se objeto da
consciência refletinte e, assim, ao mesmo tempo, surge um objeto novo que não está ao nível da
consciência irrefletida e nem no plano do objeto da consciência irreflexiva. O Eu seria então
este objeto transcendente ao ato reflexivo, pólo unificador dos estados e das ações psíquicas.
Desta forma, Sartre acredita que não é necessário recorrer ao materialismo histórico
para superar o solipsismo, “basta que o Eu (Moi) seja contemporâneo do mundo” (Sartre, 1937,
p. 83). Com isto, pretende demonstrar que a superação do solipsismo não se dá ao nível do
conhecimento, mas sim, em um nível pré-reflexivo, ou seja, em um nível ontológico. E mais:
que não pode haver um “Eu transcendental” que fique atrás da consciência, porque isso
corromperia a intencionalidade da consciência e faria com que o “Eu” do sujeito fosse algo
totalmente inacessível.
Com o Eu fora da consciência, transladado para a ação mundana, surge a possibilidade
de uma interação social, uma vez que o meu Eu e o Eu do outro coabitam, igualmente, o mundo.
3
A descrição das estruturas do outro
Assim como na vida, em filosofia, a mudança é muito comum. E quanto a isso, Sartre
não é exceção. Em O Ser e o Nada ele aprofunda a problemática do Ego, e muda de
posicionamento com respeito a sua obra anterior, À transcendência do Ego. Nesse sentido, ela
afirma:
Anteriormente, supus poder escapar ao solipsismo recusando o
conceito de Husserl sobre a existência de um ‘Ego transcendental’.
Parecia-me, então, que nada mais restava na minha consciência que
fosse privilegiado com relação ao outro, já que a tinha esvaziado de seu
sujeito. Mas, na verdade, embora continue convicto de que a hipótese
de um sujeito transcendental é inútil e prejudicial, o fato de
abandonarmos tal hipótese não faz avançar um só passo à questão da
existência do outro” (Sartre, 1943, p. 305).
Não obstante a observação de Sartre, parece que ele diz isso para reiterar que a
superação do solipsismo não se dá pela via do conhecimento. Destarte, Sartre propõe um
diálogo com Hegel, por acreditar que, embora este seja cronologicamente anterior a Husserl, ele
já teria tratado de forma mais acurada o problema do outro. Hegel consegue a superação do
distanciamento entre o Eu e o Outro, afirmando que o Eu deve “passar” pelo Outro para poder
constituir-se enquanto ser, ou melhor, o Eu depende do Outro em seu ser.
Contudo, segundo Sartre, Hegel ao unificar Ser e Conhecer, não conseguiu dar uma
resposta para além dos ditames epistemológicos. Hegel voou muito alto! Deu uma resposta que
prescinde a singularidade do homem e falou segundo uma visão da totalidade. Mas, para Sartre,
o problema do Outro deve ser posto a partir do próprio sujeito (Sartre, 1943, p. 316).
Neste momento, Sartre começa a expor a posição de Heidegger sobre o assunto. Ele
teria, segundo Sartre, tocado o problema da forma adequada, uma vez que situa a solução do
solipsismo no nível ontológico, ou seja, em um plano anterior ao conhecimento. Isso significa
dizer que, antes mesmo de nós conhecermos o Outro, já estamos em comunhão com ele:
estamos aí, jogados no mundo. Habitamos o mundo e temos relações de solidariedade uns para
com os outros, tendo em vista a realização de nossos fins.
Mesmo a resposta de Heidegger, segundo Sartre, não esgota o problema, pois ainda é
uma resposta abstrata. O Eu estaria a priori em relação com o Outro, o ser-com-o-outro (ser do
sujeito) quando em contato com o Outro o constitui, não o encontra. Sartre diz que Heidegger,
neste ponto, não supera o idealismo (Sartre, 1943, p. 317-323).
Não nos deteremos nos detalhes da exposição sartriana. O importante para o presente
trabalho é perceber que, embora Sartre tenha direcionado a sua atenção para o problema do
4
Outro, e que isto tenha trazido novas formulações a respeito da estrutura do Eu, o que fora dito
sobre o Ego em A Transcendência do Ego persiste. Isto por que, Sartre não abre mão da
transparência da consciência e, além disso, requer que não haja um Eu por detrás dela. E é por
isso que ele afirma: não é necessário dar uma prova para a existência do outro, posto que nós
afirmamos a existência do Outro. O que se deve fazer é explicitar a estrutura do cogito que
afirma o Outro enquanto aquele que não é o Eu.
Conclusão
Mas, afinal, após este exame da teoria sartriana, que podemos dizer sobre o ensino de
filosofia?
Tentou-se demonstrar que para o desenvolvimento da criticidade dos educandos,
deve-se ter em vista que o solipsismo é um problema fundamental nas reflexões sociais, e não
se deve prescindir a sua abordagem. Antes disso, deve-se enfatizar que a sua superação é
pressuposta em qualquer pensamento critico sobre a sociedade. Deu-se maior atenção a tese de
Sartre para superar o solipsismo, por que é ela que lhe permite enfatizar que o seu humano é
livre e responsável por suas ações, algo que é totalmente condizente com as atuais perspectivas
do ensino de filosofia.
E isso é tudo? Espera-se que não. Espera-se maiormente que o interlocutor chegue às
mesmas conclusões que o atormentado personagem do romance A Náusea, Antoine Roquentin,
sem precisar passar pelas experiências traumáticas que ele passou. Roquentin sofre de fortes
vertigens até perceber que não existe um Eu na consciência, que o sentido de sua vida é ele
mesmo quem dá, que a náusea é ele mesmo, que o absoluto é ele próprio: sem sentido, sem
fundamento, totalmente livre e, portanto, responsável por suas ações. Diz Roquentin:
E, de repente o Eu esmaece, esmaece e, pronto, se apaga.” (...)
“Lúcida, imóvel, deserta, a consciência se encontra às paredes;
perpetua-se. Já ninguém a habita.” (...) “O Eu brota na consciência, sou
Eu, Antoine Roquentin, que parto para Paris (Sartre, 1938, p. 247 249).
Espera-se enfim, que o educador, assim como Roquentin, decida-se por agir, pois,
afinal, estamos todos aí, e é preciso gerar novas estratégias de ensino que despertem o interesse
dos alunos pelo pensamento crítico: cabe a nós desenvolve-las.
5
Bibliografia
SARTRE, Jean Paul, 1943. L`être et le néant. Essai d`ontologia phénoménologique. Paris:
Gallimard. (O ser e o nada. Ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão,
Petrópolis: Vozes, 1997)
____ 1937. La Transcendance de l’Ego: esquisse d’une description phénoménologique.
Paris: Recherches Philosophiques. (A transcendência do ego. Seguido de Consciência de si e
Conhecimento de si. Tradução de Pedro M. S. Alves, Lisboa: Edições Colibri, 1994.)
____ 1938. La nausée. Paris: Gallimard. (A Náusea.Tradução de Rita Braga. Rio de
Janeiro/São Paulo: Record, 1996.)
____ 1946. L’Éxistentialime est um Humanisme. Paris: Éditions Nagel. (O existencialismo é
um humanismo. São Paulo: Nova Cultura, Coleção ‘Os Pensadores’, 1987.)
____ 1967. Question de Méthode. Paris: Gallimard. (Questão de método. São Paulo: Nova
Cultura, Coleção ‘Os Pensadores’, 1987.)
BORNHEM, Gerd Antonio. Sartre. Metafísica e existencialismo. 2ª ed., São Paulo:
Perspectiva, 1984.
PERDIGÃO, Paulo. Existência e liberdade. Uma introdução à filosofia de Sartre. Porto
Alegre: L&PM, 1995.
6