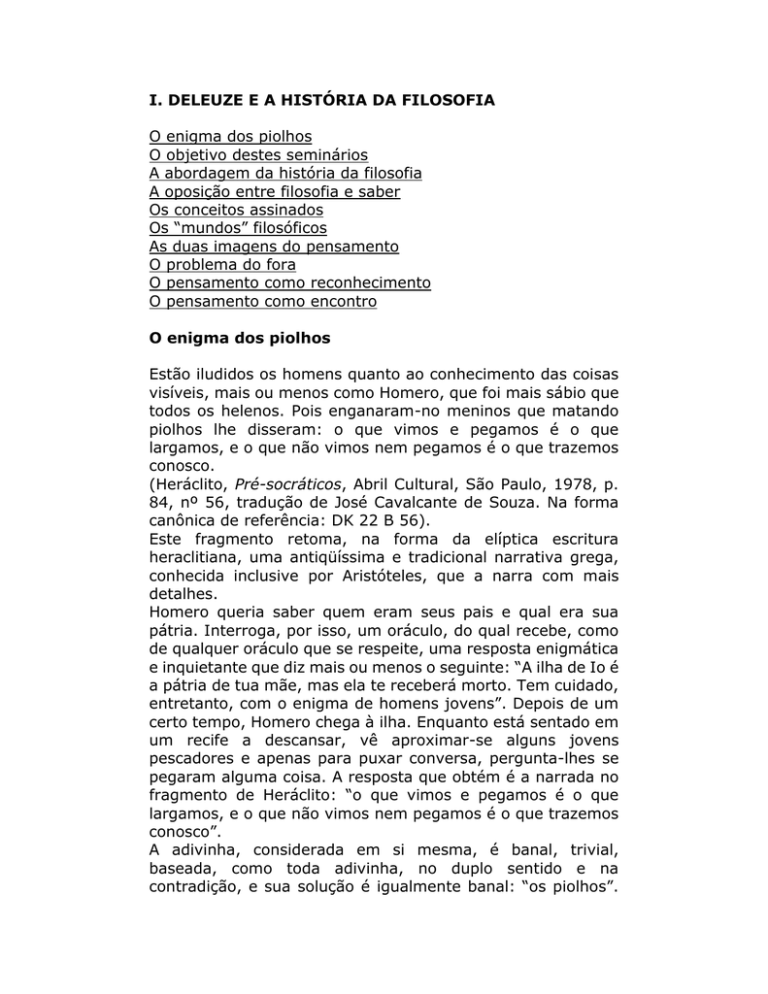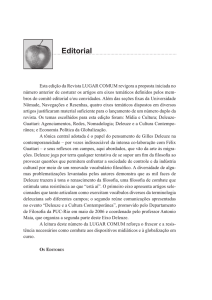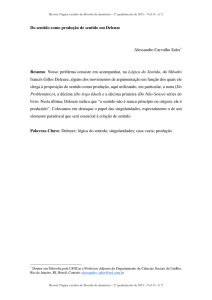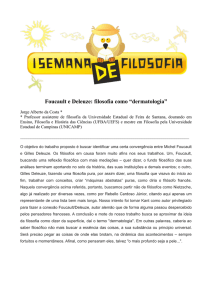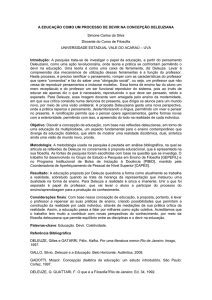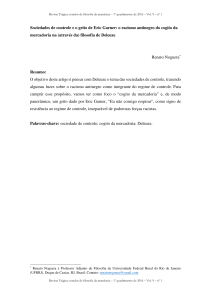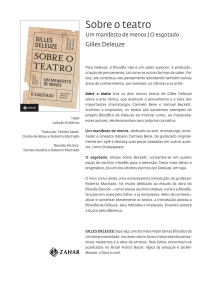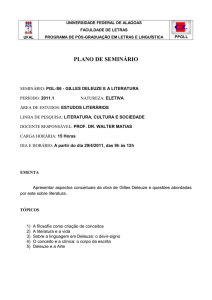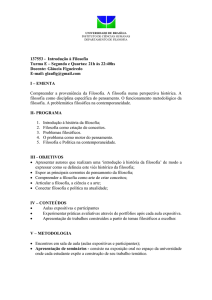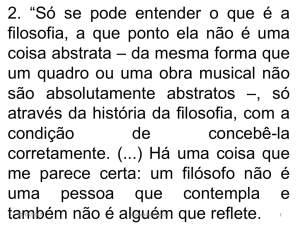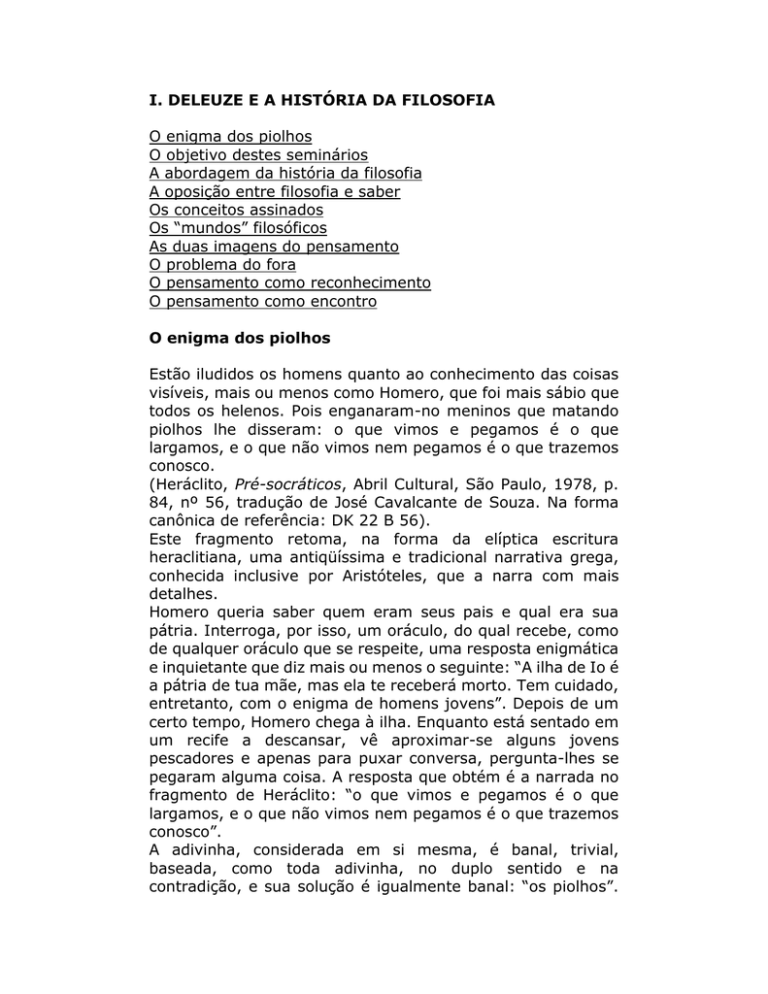
I. DELEUZE E A HISTÓRIA DA FILOSOFIA
O enigma dos piolhos
O objetivo destes seminários
A abordagem da história da filosofia
A oposição entre filosofia e saber
Os conceitos assinados
Os “mundos” filosóficos
As duas imagens do pensamento
O problema do fora
O pensamento como reconhecimento
O pensamento como encontro
O enigma dos piolhos
Estão iludidos os homens quanto ao conhecimento das coisas
visíveis, mais ou menos como Homero, que foi mais sábio que
todos os helenos. Pois enganaram-no meninos que matando
piolhos lhe disseram: o que vimos e pegamos é o que
largamos, e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos
conosco.
(Heráclito, Pré-socráticos, Abril Cultural, São Paulo, 1978, p.
84, nº 56, tradução de José Cavalcante de Souza. Na forma
canônica de referência: DK 22 B 56).
Este fragmento retoma, na forma da elíptica escritura
heraclitiana, uma antiqüíssima e tradicional narrativa grega,
conhecida inclusive por Aristóteles, que a narra com mais
detalhes.
Homero queria saber quem eram seus pais e qual era sua
pátria. Interroga, por isso, um oráculo, do qual recebe, como
de qualquer oráculo que se respeite, uma resposta enigmática
e inquietante que diz mais ou menos o seguinte: “A ilha de Io é
a pátria de tua mãe, mas ela te receberá morto. Tem cuidado,
entretanto, com o enigma de homens jovens”. Depois de um
certo tempo, Homero chega à ilha. Enquanto está sentado em
um recife a descansar, vê aproximar-se alguns jovens
pescadores e apenas para puxar conversa, pergunta-lhes se
pegaram alguma coisa. A resposta que obtém é a narrada no
fragmento de Heráclito: “o que vimos e pegamos é o que
largamos, e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos
conosco”.
A adivinha, considerada em si mesma, é banal, trivial,
baseada, como toda adivinha, no duplo sentido e na
contradição, e sua solução é igualmente banal: “os piolhos”.
De fato, aqueles que os pescadores conseguiram pegar, eles os
mataram e deixaram cair; aqueles que não conseguiram pegar
ainda carregavam nas vestes. Banal e, entretanto, suficiente
para lançar no desânimo o grande sábio, ao ponto de morrer
disso.
Colli, que comenta essa narrativa, tanto na sua edição dos
fragmentos de Heráclito (La sapienza greca, III, Adephi),
quanto no seu breve ensaio sobre o nascimento da filosofia
(Giorgio Colli, La nascita della filosofia, Adelphi), observa que
nenhum homem comum morreria pelo desânimo de não saber
resolver um enigma. Para Homero, em contraste, que não é
um homem comum, o enigma se transforma em um desafio
mortal.
Aristóteles define o enigma como a formulação de uma
impossibilidade racional, que exprime, entretanto, um objeto
real. Surge, nessa definição, a ameaça de um estranhamento
recíproco entre o pensamento (a impossibilidade racional) e a
realidade (o objeto expresso, que, entretanto, é real).
Na narrativa citada, o enigma representa a irrupção, nas águas
calmas, seguras, navegáveis, da sabedoria adquirida, de
alguma coisa de imprevisto, de incompreensível, de
inassimilável. É a violência do “fora” (o fora como outro do
pensamento, não o fora tal como refletido, representado, no
pensamento), uma violência que se abate, destrutiva, sobre o
mundo dos saberes consolidados.
Para além das intenções de Heráclito, que não são o objeto
deste seminário, é oportuno observar como a anedota nos
oferece uma imagem eficaz da áspera estranheza com a qual
um problema (porque este, no fundo, é o enigma) se
apresenta e se opõe ao saber.
Um problema, se é um verdadeiro problema, é alguma coisa
que, pela própria natureza, não nasce nunca do mundo do
sábio; é uma solicitação que é colocada por aquilo que é
radicalmente um outro do sábio (neste caso, dos garotos
pescadores, maltrapilhos e piolhentos). Não se apresenta
quase nunca com contornos reconhecíveis, nem com
características particulares que o tornem espetacular, notável.
Não é, na verdade, a ênfase, a espetacularidade, a
grandiloqüência que o torna um problema, mas o seu caráter
surpreendente, inesperado, novo, involuntário. Muito
freqüentemente, considerado na sua mera dimensão de
realidade, é francamente banal, um simples fato, para o
homem comum. Para o sábio, entretanto, constitui um
encontro imprevisto, porque o coloca inesperadamente frente
à inutilidade do seu saber.
Deleuze observa que o problema se distingue da pergunta
porque não é, nunca, como essa última, um artifício retórico,
no qual a resposta está já pressuposta (pensemos nas
perguntas de um exame, cujo objetivo é sempre o de testar e
validar um saber, nunca o de colocá-lo em causa).
O problema, em suma, é uma urgência, uma necessidade, um
choque, uma violência, que coloca o pensador frente ao seu
verdadeiro risco, que não é nunca a ignorância, o erro, o
reconhecimento faltante, mas o torpor, a estupidez, a bêtise
estrutural, pesada, lerda, calmante, confortante, fundamento
de todo conformismo de opinião.
Por razões que surgirão mais adiante, espero, esta narrativa
me pareceu uma boa introdução a este ciclo dos seminários.
O objetivo destes seminários
Nestes seminários apresentarei conceitos filosóficos próprios
de Deleuze, conceitos com a assinatura “Deleuze”, falarei de
filósofos amigos de Deleuze (Leibniz e Espinoza), de filósofos
inimigos de Deleuze (Platão), de filósofos que não são nem
amigos nem inimigos e que, entretanto, são, para ele,
relevantes (Kant), mas também de filósofos que parecem
ter-lhe sido substancialmente irrelevantes (Descartes).
Trata-se de uma tarefa fascinante e, ao mesmo tempo,
assustadora e que, além disso, parece também insólita na sua
própria enunciação: o que significa “conceitos com a
assinatura ‘Deleuze’” ou “filósofos amigos, inimigos,
indiferentes”? Não são categorias usuais em filosofia, na qual
estamos mais habituados a nos preocupar com a verdade, com
a falsidade, com o erro, com a essência, com o ser, com o
bem... Podemos questionar Platão, considerando sua doutrina
das idéias um grande erro, assim como podemos
cuidadosamente juntar elementos que confirmem a filosofia de
Espinoza. Mas que sentido tem afirmar-se de alguém que é
hostil a Platão e amigo de Espinoza? Podemos falar do conceito
de “devir” ou do conceito de “acontecimento”, buscando todas
as variadas acepções com que esses conceitos têm sido
utilizados na história da filosofia, ou ao menos os mais
relevantes entre eles; podemos, enfim, colocar em evidência
as características que Deleuze, por sua vez, atribuiu a esses
conceitos. Parece um bom modo de proceder, filologicamente
correto, preferível àquela estranha história de “conceitos com
assinatura”, quase como se fossem produto da alta moda.
Entretanto, é o próprio Deleuze que fala de “assinatura” e,
algumas vezes, até mesmo de “grife”.
Fornecer uma coleção de conceitos, fazer um belo excursus,
embora parcial, da história da filosofia: tudo isso seria
adequado à leitura de Deleuze. Não parece difícil: basta que eu
recupere essas noções na minha bagagem cultural, que as
depure
do
que
têm
de
acidental
e
irrelevante,
concentrando-me no essencial, e que me esforce por
apresentá-las, tanto quanto eu seja capaz, de modo eficaz, e
está feito. Um pouco de história da filosofia propedêutica a
Deleuze: não há problema. Exatamente! Não há problema. E
quando não há problema não há nem mesmo interesse.
Seria uma espécie de traição para um filósofo como Deleuze,
que sempre opôs filosofia e saber, filosofia e conhecimento.
A abordagem da história da filosofia
Ser
deleuziano
não
significa,
obviamente,
repetir
mecanicamente o pensamento de Deleuze, não quer dizer
fazer parte dos epígonos entusiasmados de Deleuze, assim
como ser antideleuziano não significa fazer parte dos inimigos
jurados de Deleuze, dos epígonos ressentidos e rancorosos.
Ser deleuziano, kantiano ou espinoziano significa literalmente
saber fazer um retrato do filósofo do qual se fala e é sabido que
um retrato é uma coisa muito diferente de uma foto três por
quatro, como mostra muito bem Deleuze em O que é a
filosofia?
A história da filosofia é comparável à arte do retrato. Não se
trata de “fazer parecido”, isto é, de repetir o que o filósofo
disse, mas de produzir a semelhança, desnudando ao mesmo
tempo o plano de imanência que ele instaurou e os novos
conceitos que crio. São retratos mentais noéticos, maquínicos
(p. 74).
E, inspirando-se nos retratos de filósofos feitos por Tinguely,
nos
dá
um
esplêndido
exemplo
com
o
retrato
mental-maquínico de Kant, completo, com todos os seus
componentes (nove), com as interconexões entre as partes e
com seu movimento.
Mas podemos fazer retratos noéticos-maquínicos de filósofos
apenas se soubermos nos encontrar ou desencontrar com
esses filósofos. Deleuze está pouco interessado em refutar
Platão; ele quer, em vez disso, revirá-lo, pervertê-lo, tanto que
escreve:
Reverter o platonismo deve significar tornar manifesta à luz do
dia a motivação do platonismo, encurrá-la - assim como Platão
encurrala o sofista (Lógica do sentido, p. 259).
Não são, sem dúvida, palavras de quem se dispõe a estudar
objetivamente um filósofo; são palavras hostis, de quem se
prepara para uma batida de caça. Veremos poucas palavras de
amor.
Deleuze é impiedoso para com um certo modo de entender a
história da filosofia:
A história da filosofia sempre foi o agente de poder na filosofia,
e mesmo no pensamento. Ela desempenhou o papel de
repressor: como você quer pensar sem ter lido Platão,
Descartes, Kant e Heidegger, e o livro de fulano ou sicrano
sobre eles? Uma formidável escola de intimidação que fabrica
especialistas do pensamento. (...) Uma imagem do
pensamento, chamada filosofia, constituiu-se historicamente e
impede perfeitamente as pessoas de pensarem (Diálogos, p.
21).
E ainda:
Não suportava nem Descartes, os dualismos e o Cogito, nem
Hegel, as tríades e o trabalho do negativo. Gostava dos autores
que pareciam fazer parte da história da filosofia, mas que
escapavam dela por um lado ou por todas as partes: Lucrécio,
Espinoza, Hume, Nietzsche, Bergson (Diálogos, p. 22).
Quais são as verdadeiras motivações de um filósofo? Porque
diz essas coisas? A que coisas visa? Que tipo de mundo fica de
fora se aceitamos seus conceitos? Esses são os problemas a
serem resolvidos quando lemos um filósofo. Nenhum
interesse, ao contrário, pela coerência ou a verdade do que diz
um filósofo ou, Quando muito, um interesse secundário,
marginal. Ir atrás de um filósofo: nenhum historiador da
filosofia ousa fazer tanto, a menos que seja, por sua vez, um
filósofo. O modo como Deleuze lê um filósofo é eficazmente
descrito nesta passagem:
(...) concebendo a história da filosofia como uma espécie de
enrabada, ou, o que dá no mesmo, de imaculada concepção.
Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe
fazendo um filho, que seria seu, e no entanto seria
monstruoso. Que fosse seu era muito importante, porque o
autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que eu lhe
fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso também
representava uma necessidade, porque era preciso passar por
toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões
secretas que me deram muito prazer. Meu livro sobre Bergson
me parece exemplar nesse gênero (Conversações, p. 14).
O encontro de um filósofo com outro filósofo não poderá nunca
levar a uma discussão na qual se trocam idéias ou se
confrontam opiniões. O encontro com um filósofo é sempre
irrelevante de um ponto de vista cognitivo ou moral, porque,
na realidade, é um evento ético, que implica a elevação dos
problemas daquele filósofo e o seu deslocamento a um novo
plano. Em Nietzsche e a filosofia, Deleuze afirma que é preciso
saber fundir os conceitos de um filósofo como se funde o
bronze de um canhão para obter novas armas.
Em conclusão desta parte, é bom ler estas formidáveis
palavras com as quais Deleuze confia uma enorme
responsabilidade a Qualquer um que se disponha a falar de um
autor, escritor, filósofo, artista, músico, cientista, não
importa... São palavras de amor.
Meu ideal, quando escrevo sobre um autor, seria não escrever
nada que pudesse afetá-lo de tristeza, ou, se ele estiver morto,
que o faça chorar em sua tumba: penar no autor sobre o qual
escrevemos. Pensar nele de modo tão forte que ele não possa
ser mais um objeto, e tampouco possamos nos identificar com
ele. Evitar a dupla ignomínia do erudito e do familiar. Levar a
um autor um pouco da alegria, da força, da vida amorosa e
política que ele soube dar, inventar (Diálogos, p. 137).
É por isso que minha tarefa, que partilho com qualquer um que
fale de filosofia, é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora.
A oposição entre filosofia e saber
Como pudemos ver, em Deleuze, a oposição entre filosofia e
saber é radical, tão radical que se pode dizer que só se pensa
verdadeiramente sem o saber, até mesmo contra o saber. Mas
que significa pensar? Em quê o pensamento é diferente do
conhecimento e da reflexão?
Antes de mais nada, na consciência que se tem dele e do
caráter voluntário do conhecimento e da reflexão em relação
ao pensamento, sempre involuntário no seu surgir e no seu
criar. Não nos damos conta que pensamos, pensamos sempre
sem querê-lo. Posso dizer “eu reflito”, mas não estou seguro
que se possa dizer “eu penso”. É uma experiência que todos
tivemos na vida, talvez apenas uma vez (será triste se jamais
ocorreu), a de perceber de repente, com grande surpresa, que
tivemos uma idéia. Utilizo aqui a palavra “idéia” como termo
geral e genérico aplicável a toda forma de criação do
pensamento (conceitos, perceptos e functivos), como faz
Deleuze no verbete “Idéia”" do Abecedário.
É apenas na presença de uma idéia que nos damos conta de
haver pensado, tanto que não há maneira mais segura de não
ter uma idéia do que procurar ter uma. E a involuntariedade da
idéia não diz respeito apenas ao seu “vir à mente”, momento
de enorme gratificação para o pensador, mas diz respeito
também à sua “perda”, à sua absoluta precariedade.
Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do
caos. Nada é mais doloroso, mais angustiante do que um
pensamento que escapa a si mesmo, idéias que fogem, que
desaparecem
apenas
esboçadas,
já
corroídas
pelo
esquecimento ou precipitadas em outras, que também não
dominamos. São variabilidades infinitas cuja desaparição e
aparição coincidem. São velocidades infinitas, que se
confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso que
percorrem, sem natureza nem pensamento. (...) Perdemos
sem cessar nossas idéias (O que é a filosofia, p. 259).
Bem diferente da persistência, das certezas do saber adquirido
e consolidado, aquele que às vezes exibimos com mal
disfarçada satisfação como a nossa “bagagem cultural”. É
explícita e não contida a impaciência de Deleuze para com a
“bagagem cultural”, não apenas a dos outros, mas também a
sua própria, como testemunham estas palavras que podem ser
lida no verbete “Cultura” do Abecedário:
Os eruditos possuem um saber espantoso, conhecem tudo, são
capazes de falar de tudo. Eu, ao contrário, me dou conta de
não ter qualquer bagagem cultural. Tudo que aprendo está
relacionado com uma tarefa particular, e toda vez que a tarefa
acaba, esqueço tudo e devo recomeçar do zero. (...) Umberto
Eco é espantoso, é como apertar um botão, ele pode falar de
qualquer coisa.
Os conceitos assinados
Se a bagagem cultural é a pesada e necessária reprodução dos
saberes, a idéia é, em vez disso, sempre um ato de criação. Se
a bagagem cultural é aquilo que todos podem adquirir, sendo
suficientes aplicação e boa vontade, e é saber partilhado e
próximo dos contos anônimos, a idéia, em vez disso, é sempre
firmada: o conceito é sempre o conceito de um filósofo, o
percepto é sempre o percepto de um artista. O que significa
isto?
Significa que faz pouco sentido perguntar-se genericamente o
que é a substância, porque, se a substância da qual se fala não
é a substancia de Aristóteles ou de Espinoza, para dar
exemplos, é sempre uma noção banal, trivial, indefinida. É
bom esclarecer, obviamente, esse aspecto da firma: não é, de
modo algum, uma coisa da subjetividade psicológica do
filósofo. A substância de Espinoza não é a opinião de Espinoza
sobre a substância; se assim fosse, seria extraordinariamente
entediante e pouco interessante.
Mas há uma razão mais profunda que nos impede de confundir
a substância com assinatura “Espinoza” com a opinião do
Senhor Benedito de Espinoza sobre a substância. Constitui um
erro fundamental considerar a substância (ou qualquer outro
conceito filósofico) como um significado genérico qualquer, em
si já dado, sobre o qual pudéssemos, então, ter pontos de
vista, uma espécie de substância genérica, em suma, sobre a
qual todo filósofo pudesse tomar posição. Não é nunca assim:
há a substância anônima, trivial, a substância da opinião, e
sobre essa nenhum filósofo tem qualquer coisa a dizer, e
depois há a substância com assinatura (ou melhor, as
substâncias com assinatura), conceito extremamente
equívoco. E isso vale para todo conceito filosófico.
Não utilizei por acaso o termo “equívoco”. Os conceitos
filosóficos, de fato, são intrinsecamente equívocos; eles o são
por natureza, não porque a sua definição dependa, de algum
modo, do ponto de vista de quem o considera. Trata-se de uma
equivocidade intrínseca, não extrínseca, e por isso, Idéia,
Contingência, Substância, etc., tal como o Ser, se dizem de
muitas maneiras. Mas, à diferença do ser aristotélico, cuja
equivocidade se dilui na analogia, porque existe um significado
primeiro ao qual todos os outros estão referidos, os conceitos
filosóficos são, em vez disso, democraticamente equívocos,
sem referentes identitários ou privilegiados: a substância de
Aristóteles não é uma substância melhor que a de Espinoza (ou
vice-versa); é um conceito de substância que responde a um
problema diferente, um problema que é possível no mundo
aristotélico, mas não no espinosiano. Para jogar um pouco com
o leibnizianismo, podemos dizer que as duas substâncias são,
entre si, incompossíveis, mas não contraditórias. É como dizer
que os conceitos filósoficos não são idéias abstratas, universais
e necessárias, porque, se assim fosse, teríamos um significado
unívoco e todo outro significado seria, em última análise,
contraditório, mas são, em vez disso, realidade concreta. Por
isso os filósofos, embora falando da mesma coisa de forma
muito diferente e às vezes oposta, não se contradizem jamais,
não podem fazê-lo. Como afirma Deleuze em um de seus
seminários sobre Leibniz, dizer que o conceito de verdade de
Kant contradiz o de Leibniz é tão estúpido quanto dizer que
Velasquez contradiz Giotto. Puro nonsense.
Os mundos filosóficos
A filosofia opera no campo do concreto, não do abstrato, em
um campo no qual o verdadeiro e o falso não reinam como
instâncias primárias. A verdade, efetivamente, não é um
critério válido para selecionar as idéias; é válido para os
saberes, para as noções, não para as idéias.
Crer que a terra é plana ou que o sol gira em torno da terra é
plenamente falso, enquanto o “cogito” cartesiano, o
“fenômeno”
kantiano
ou
a
“diferença
ontológica”
heideggeriana não são nem verdadeiros nem falsos. Isso não
significa dizer, obviamente, que todos os conceitos se
equivalham. Há um critério de seleção e, referindo-se a
Nietzsche, Deleuze o caracteriza no alto e no baixo, no
interessante e no banal. Há trabalhos desenvolvidos por alunos
diligentes que estão plenos de verdade, mas absolutamente
banais, insignificantes, entediantes. Há, por outro lado, erros
que, pelo único fato de terem sido trabalhados por pessoas de
gênio, abrem campos de pensamento e colocam novos e
autênticos problemas.
Uma idéia deve ser interessante, isto é, deve representar
sempre a solução de um verdadeiro problema. Qual é, por
exemplo, o problema de Descartes? O de assegurar-se, de
modo incontroverso, que todas as suas certezas coincidam
com as da verdade. Enganado a maioria das vezes (pelos
sentidos, pela tradição, pela autoridade), Descartes não confia
mais em nada e em ninguém e está convencido de que
nenhum conhecimento é seguro se as raízes que alimentam
esse conhecimento não são, por sua vez, seguras. A prima
philosophia, então, nada mais é do que essa “obsessão” pela
pureza das raízes, pela segurança dos fundamentos, da qual
qualquer outro conhecimento depende. Descartes é um dos
que vê o mundo deste modo: filosófico
Se tiveres um cesto de maçãs e perceberes que uma é podre,
o que farás? Ficarás satisfeito em apenas removê-la para
evitar que corrompa as sãs? Seria um comportamento
imprudente. É necessário, em vez disso, esvaziar o cesto,
examinar as maçãs uma a uma e colocar no cesto apenas as
sãs, descartando as outras (Descartes, em “Respostas ao
Grupo VII de Objeções às Meditações metafísicas”).
Descartes quer que o mundo seja uma cesta de maçãs
absolutamente sãs e quer certificar-se disso pessoalmente,
armado de um método incontestável. Todos os conceitos que
criou, poucos, na verdade, segundo Deleuze, porque Descartes
é um filósofo sóbrio, pretendem resolver o problema da
distância entre certeza e verdade.
E, então, que significa pensar sob a urgência desse problema?
Apenas se colocarmos perguntas desse tipo encontraremos
verdadeiramente Descartes, não se nos envolvemos com
críticas miúdas, capciosas e eruditas, as quais podem,
inclusive, serem justamente feitas apenas em um outro
contexto, não filosófico, mas historiográfico. É verdade que
Descartes, que duvidou de tudo, se “esqueceu” de duvidar se a
distinção entre interno e externo é lícita. E então? Sob esse
aspecto, há muitas outras “omissões” em Descartes. Mas vale
a pena perder uma viagem no seu mundo porque o seu método
e o seu cogito não são, pois, coisas puras e sãs como ele
acreditava?
Podemos sempre confiar num filósofo, podemos sempre
confiar nele. Só assim poderemos amá-lo, se a viagem no seu
mundo nos entusiasmou, ou detestá-lo, se nos decepcionou ou
no entristeceu. Se o confrontamos com a carranca arrogante
do professor, só nos arriscamos a nos entediar e a entediar os
outros.
Qual é o problema de Platão? Um reflexo automático erudito
nos leva a responder de modo errado ou ao menos superficial:
o dualismo entre mundo verdadeiro e mundo das sombras. Na
realidade, Platão quer encontrar um critério seletivo que seja
capaz de distinguir os verdadeiros pretendentes dos falsos, os
verdadeiros amigos da verdade dos simuladores, um critério
que saiba caracterizar com certeza quem tem legitimidade em
pretender o verdadeiro e quem não tem. E é com os conceitos
criados para resolver esse problema que Platão, segundo
Deleuze, comete o pecado capital e original da filosofia, a
introdução da transcendência. Por isso, contra Platão e o
platonismo, Deleuze mobilizará toda a fileira de seus filósofos,
não por acaso todos filósofos da imanência.
Eis aí, muito esquematicamente, o modo pelo qual Deleuze lê
os filósofos: não lhe interessa refutar ou certificar o que
disseram; ele quer ver se lhe agrada ou não, ele quer amar e,
se for o caso, até detestar um pensador, porque também
Deleuze é um filósofo e conhece, por isso, os filósofos, sabe
que Platão e Hegel, se odiados, não chorarão em suas tumbas,
enquanto seguramente o farão se forem reduzidos a
opinadores, ainda que importantíssimos.
As duas imagens do pensamento
O problema do fora
Grande parte da tradição filosófica ou ao menos a sua linha
dominante, é orientada, segundo Deleuze, por um pressuposto
pre-filosófico, que compromete de modo radical a possibilidade
mesma de pensar. Trata-se do pressuposto que o filósofo
francês chama de imagem dogmática do pensamento, ao
desmascaramento da qual ele dedicará páginas intensas e
apaixonadas.
Qual é esse pressuposto pre-filosófico? Trata-se do
pressuposto que afirma que entre o pensamento e a verdade
haveria uma natural afinidade, ao menos em termos de direito,
porque de fato todo mundo tem a experiência de quanto os
erros e a falsidade estão difundidos e não param nunca de
fraudar, e freqüentemente de tornar inútil, o esforço do
pensamento para alcançar a verdade. Em termos de direito,
portanto, o pensamento estaria naturalmente voltado para a
verdade, porque a verdade é alguma coisa que o pensador
formalmente já possui, alguma coisa para a qual ele está bem
apetrechado e que poderá obter graças ao método e à boa
vontade, alguma coisa, em suma, que só falta conquistar
materialmente.
Pensar não pode nunca ser uma operação reflexiva; o
pensamento não pode se pensar a si mesmo, sem tornar-se
vão. Pensar as próprias representações significa aprisionar-se
em uma estéril interioridade. Se o pensamento tem como
objeto alguma coisa que depende de si e somente de si, ele se
condena ao subjetivismo, ao relativismo, à impotência.
Portanto, o verdadeiro problema do pensamento é o de como
pensar a exterioridade e, além disso, a necessidade dessa
exterioridade. E é isso que o torna diferente da mera reflexão.
A resposta a esse problema determina a imagem do
pensamento à qual uma certa tradição filosófica faz referência.
Pensemos, por exemplo, na tradicionalíssima definição de
verdade como adaequation intellectus et rei: não é, talvez,
uma resposta à exterioridade? De um lado, há o intelecto,
como faculdade do pensamento; do outro, há a coisa, objeto
externo, correlato do intelecto e a solução do problema dá-se
em termos de adequação: a verdade é a correspondência entre
a coisa, naquilo que ela essencialmente é, e a representação
da coisa. Como se compreende essa relação? As aporias e as
tentativas de sua superação, à qual esse dualismo entre uma
interioridade pura e uma exterioridade indiferente tem dado
lugar, representam uma parte notável da história da filosofia.
Mas que significa para o pensamento pensar o seu “fora”, o
diferente de si, o seu outro? Exatamente sobre esse problema,
segundo
Deleuze,
encontram-se
duas
imagens
do
pensamento, entre si radicalmente diferentes, uma baseada
no modelo do reconhecimento (fora de si o pensamento
reconhece materialmente o que formalmente já possui), a
outra baseada no modelo do encontro.
O pensamento como reconhecimento
Para a primeira, pensar significa substancialmente conhecer. O
pensador é aquele que, graças a (e por força de) um ato
fundador, graças às individuações de um ou mais conceitos
fundadores, sabe romper com a doxa, com a opinião, e pode,
assim, dispor-se a acolher as coisas na sua essência.
Pensemos nas duas vias de Parmênides, a via da verdade e a
via da opinião; ou em Platão e sua luta contra os sofistas, em
nome de uma verdade certa e não sujeita à opinião; ou ainda
em Descartes e em sua posição do cogito-sum como garantia
de uma verdade colocada ao abrigo das dúvidas e dos erros da
opinião. É sempre uma rejeição das coisas como aparecem, em
favor das coisas como elas verdadeiramente são.
Pensar, portanto, significa haver realizado o gesto fundador
que nos subtrai à doxa, significa saber responder corretamente
à pergunta “o que é?”, significa conhecer as coisas, os objetos,
os entes, todo ente, o mundo, na sua verdadeira natureza, de
modo que o pensamento possa se encontrar no ser das coisas.
Se corretamente orientado, se eficazmente ajudado por todas
as outras faculdades (sensação, imaginação, memória),
operando em harmonioso concerto, o pensamento pode
reconhecer-se fora de si, naquilo que em si já havia
pre-figurado, comprazendo-se nisso. É por acaso que as idéias
fundamentais, aquelas que nos fazem verdadeiramente
conhecer a essência das coisas, a trama da realidade, não
sejam nunca idéias que o homem produziu no seu encontro
com o fora, mas sejam sempre idéias que são já
preliminarmente possuídas pelo homem? Pensemos na
anamnese platônica: o homem já viu as idéias antes de nascer,
com os olhos da mente, conhecer significa, no contato com as
coisas reais, saber perguntar à mente aquelas visões ideais
esquecidas. Ou pensemos em Descartes: as idéias
fundamentais não são nunca as dos fatos, mas sempre as
idéias inatas.
No início do capítulo 3 de Diferença e repetição, dedicado à
imagem do pensamento, Deleuze mostra como a necessidade
de começar, de fundar (momento essencial para a imagem
dogmática do pensamento), é, na realidade, uma ilusão,
porque todo fundamento, todo início, é pre-filosófico em um
sentido bem preciso, desde o momento em que não pode
senão referir-se à opinião, diretamente ou sob alguma forma
disfarçada (Urdoxa). Qual filosofia parece ser mais radical que
o cartesianismo na sua busca de um fundamento puro e livre
de pressupostos? O que há de mais original no cogito? Não é
difícil responder: pressupõe-se tacitamente que qualquer um
conhece espontaneamente e sem conceito o que significa
“pensamento”, “ser”, “eu”, só para dar alguns exemplos.
Trata-se de lugares comuns dos quais se tem uma
pre-compreensão, que nada mais é que a opinião que se tem
desses conceitos.
A esse respeito, antes de discutir a outra imagem do
pensamento, comentemos brevemente um “exemplo”
(exemplo 5, O que é a filosofia) que se encontra no início do
capítulo dedicado aos personagens conceituais.
O cogito - escreve Deleuze - tem certos pressupostos, mas não
da maneira pela qual um conceito pressupõe outros (por
exemplo, o conceito de homem pressupõe o de animal e de
racional). Os verdadeiros pressupostos de um conceito não são
outros conceitos, são opiniões e Deleuze os lista: todos sabem
o que significa pensar, todos são dotados da capacidade de
pensar (o bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo,
como escreve Descartes no Discurso sobre o método); todos
querem o verdadeiro, etc. Antes do cogito, como conceito
fundador, há essa seqüência de lugares-comuns.
Mas, ao lado do cogito e de seus pressupostos conceituais, há
também os intermediários entre esses dois planos, os
personagens conceituais. O personagem conceitual que
interpreta o papel do cogito é o idiota (em grego idiótes era o
cidadão privado, sem cargos públicos; vem de ídios, que
significa próprio, particular, que está sozinho), que, de um
lado, não deixa de usar o pronome “eu” e, de outro, se junta ao
senso comum. Reconhecemos, por certos versos, o sujeito das
Meditações: é o pensador privado que se opõe aos eruditos,
aos escolásticos, aos professores, todas pessoas portadoras de
conceitos adquiridos e, por isso, pessoas, portanto, que,
quando falam, não podem mais dizer “eu penso”, porque o que
dizem já foi pensado por outros. O idiota, ao contrário,
enquanto pensador privado, oposto ao especialista público e
reconhecido, é “aquele que forma um conceito com aquela
força inata que todo mundo, de direito, possui por conta
própria”.
Por isso, o idiota é um precursor e não um pressuposto do
cogito e, como todo personagem, tem as suas metamorfoses.
Nas suas versões clássicas, o idiota quer o verdadeiro, busca o
fundamento das coisas e quer que seja ele, não um professor,
que determine o que é compreensível, o que é verdadeiro.
Mas, observa Deleuze, o idiota reaparece em uma outra época
e em um outro contexto, o do cristianismo russo: pensemos no
romance de Dostoiveski de título homônimo, e as suas buscas
são radicalmente transformadas, mesmo que um tênue fio una
os dois personagens.
O antigo idiota queria evidências, às quais ele chegaria por si
mesmo: nessa expectativa, duvidaria de tudo, mesmo de 3 + 2
= 5; colocaria em dúvida todas as verdades da Natureza. O
novo idiota não quer, de maneira alguma, evidências, não se
“resignará” jamais a que 3 + 2 = 5, ele quer o absurdo - não é
a mesma imagem do pensamento. O antigo idiota queria o
verdadeiro, mas o novo quer fazer do absurdo a mais alta
potência do pensamento, isto é, criar. O antigo idiota queria
não prestar contas à razão, mas o novo idiota, mais próximo de
Jó que de Sócrates, quer se lhe preste conta de “cada vítima da
história (...) (O que é a filosofia, pp. 84-5).
Não quer mais resolver sozinho a questão do que é
compreensível e do que não é, do que é razoável ou não, do
que está perdido ou do que está salvo. Quer alguma coisa de
muito mais radical, alguma coisa de radicalmente diferente,
quer reapropriar-se do perdido, do incompreensível, do
absurdo.
O pensamento como encontro
À imagem do pensamento como reconhecimento Deleuze opõe
uma outra imagem, a do pensamento como encontro: pensar
não é, de forma alguma, reconhecer, não tem nada a ver com
um exercício de boa vontade e com a correta aplicação de um
método, não tem a ver com a verdade e com a pergunta sobre
a essência das coisas. É uma exterioridade suspeita aquela na
qual reconheço essências que correspondem às minhas
perguntas, às minhas definições. Na realidade, trata-se de
uma efetivação da minha interioridade, que já contém tais
essências como puras possibilidades de ser.
Pensar, na realidade, significa encontrar signos que me
forçam, me constrangem, me obrigam, a pensar.
Não foi nunca suficiente uma boa vontade, nem um método
elaborado, para aprender a pensar (...). (...) o espírito não
engendra mais do que o possível. Faltam, às verdades da
filosofia, a necessidade e a garra da necessidade. (...) a
verdade não se entrega, ela se trai; ela não se comunica, ela se
interpreta; ela não é resultado da vontade, ela é involuntária.
(...) Mais importante que o pensamento é o aquilo que “dá o
que pensar” (...). (...) o essencial está fora do pensamento,
naquilo que força a pensar. O leitmotiv de O tempo perdido é a
palavra “forçar”: impressões que nos forçam a olhar,
encontros que nos forçam a interpretar expressões que nos
forçam a pensar (Proust et les signes, pp. 116-7).
Não é a essência, pois, mas o signo a ser dotado da violência
da exterioridade, o signo que é capaz de arrancar o
pensamento de seu natural torpor (a bêtise), da vacuidade das
possibilidades meramente abstratas. É a violência do signo que
impele o homem a fabricar conceitos, mas também perceptos,
afectos, funções, em uma singular luta contra o caos, que
esconde, na realidade, uma secreta aliança com ele, contra
aquilo que é o inimigo comum, os lugares-comuns da opinião,
as idées reçues. Essa significativa metáfora, que Deleuze
encontra no escritor D. H. Lawrence, exprime com grande
eficácia essa aliança do pensamento com o caos, contra a
opinião.
(...) os homens não deixam de fabricar um guarda-sol que os
abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem
suas convenções, suas opiniões; mas o poeta, o artista abre
uma fenda no guarda-sol, rasta até o firmamento, para fazer
passar um pouco do caos livre e tempestuoso e enquadrar
numa luz brusca, uma visão que aparece através da fenda,
primavera de Wordsworth ou maçã de Cézanne, silhueta de
Macbeth ou de Ahab. Então, segue a massa dos imitadores,
que remendam o guarda-sol, com uma peça que parece
vagamento com a visão; e a massa dos glosadores que
preenchem a fenda com opiniões: comunicação. Será preciso
sempre outros artistas para fazer outras fendas, operar as
necessárias destruições, talvez cada vez maiores, e restituir
assim, a seus predecessores, a incomunicável novidade que
não mais se podia ver. Significa dizer que o artista se debate
menos contra o caos (que ele invoca em todos os seus votos,
de uma certa maneira), que contra os “clichês” da opinião (O
que é a filosofia, pp. 261-2).
Nota do tradutor:
As citações de Deleuze (& Guattari) são feitas de acordo com
as seguintes edições brasileiras:
Gilles Deleuze e Félix Guattari. O que é a filosofia. Rio: Editora
34, 1997. 2ª ed. Trad. de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso
Muñoz.
Gilles Deleuze e Claire Parnet. Diálogos. São Paulo: Escuta,
1998. Trad. de Eloisa Araújo Ribeiro.
Gilles Deleuze. Conversações. Rio: Editora 34, 1998. Trad. de
Peter Pál Pelbart.
Gilles Deleuze. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva,
1998. 4ª ed. Trad. de Luiz Roberto Salinas Fortes.
A citação extraída de Proust et les signes foi traduzida
diretamente da edição francesa desse livro:
Gilles Deleuze. Proust et les signes. Paris: Presses
Universitaires de France, 1998. 2ª ed.