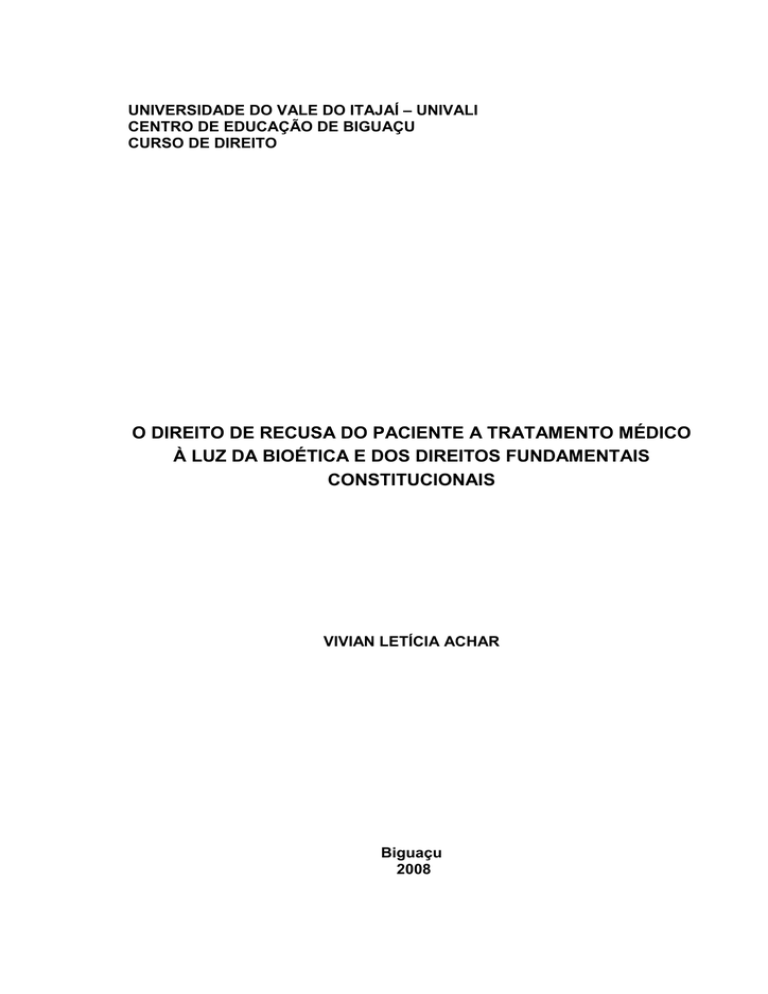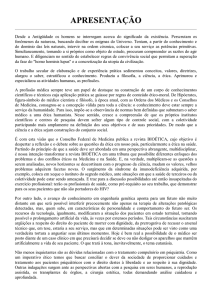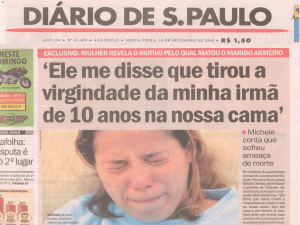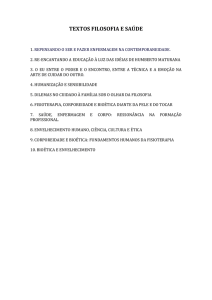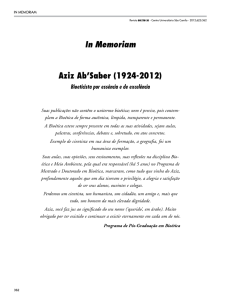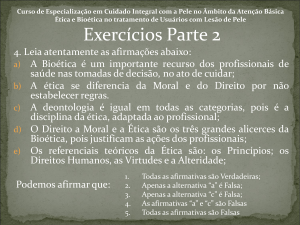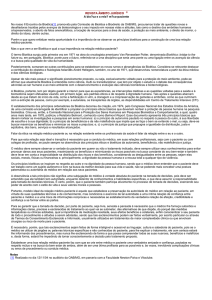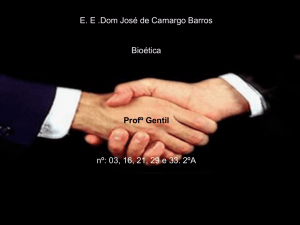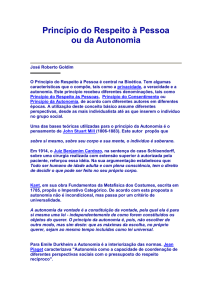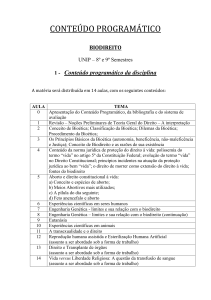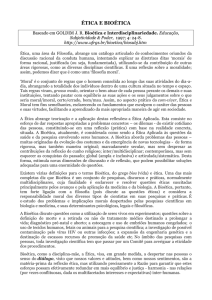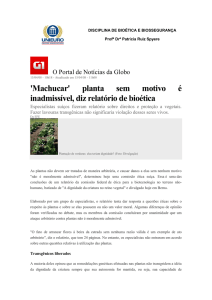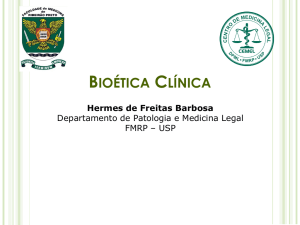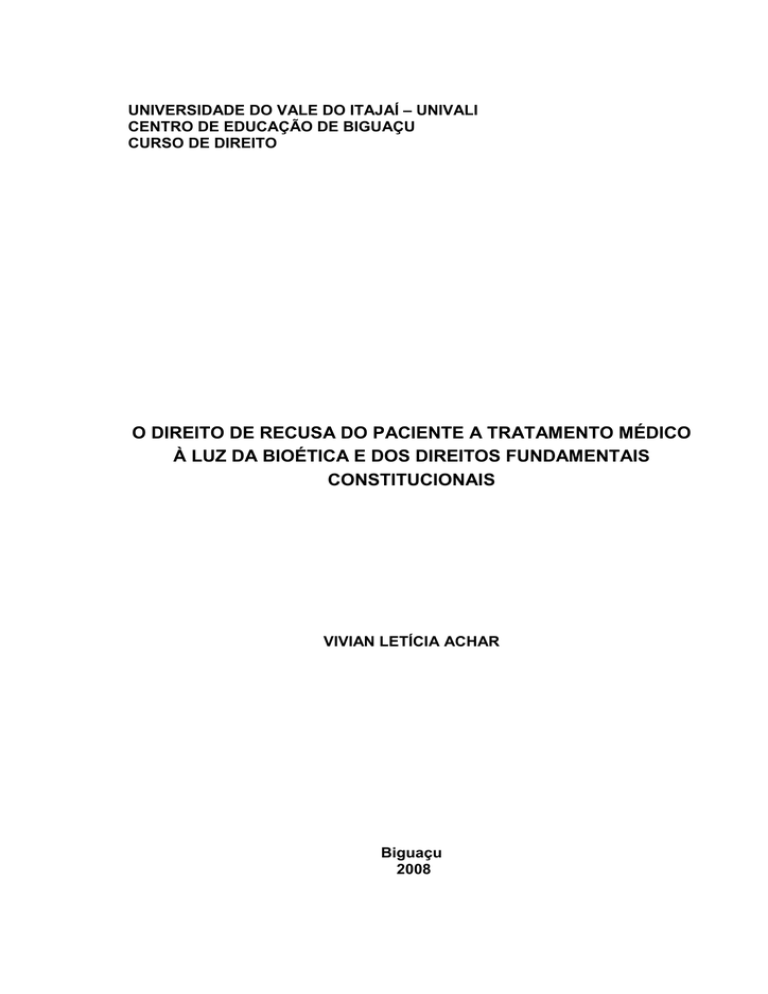
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE BIGUAÇU
CURSO DE DIREITO
O DIREITO DE RECUSA DO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO
À LUZ DA BIOÉTICA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CONSTITUCIONAIS
VIVIAN LETÍCIA ACHAR
Biguaçu
2008
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE BIGUAÇU
CURSO DE DIREITO
O DIREITO DE RECUSA DO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO
À LUZ DA BIOÉTICA E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CONSTITUCIONAIS
VIVIAN LETÍCIA ACHAR
Monografia submetida à Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI, como
requisito parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Direito.
Orientador: Professor Dr. Marcos Leite Garcia
Biguaçu
2008
AGRADECIMENTOS
Acima de tudo ao meu Deus, responsável por
minha vida, motivação, coragem e força.
Ao meu orientador, Professor Marcos Leite
Garcia, pelo admirável conhecimento, paciência e
apoio prestados.
Às minhas primas Luciana e Soraia, pela corrida à
biblioteca em busca de livros e mais livros.
Às minhas amigas, Raphaela e Priscila pelo
companheirismo e ajuda que fizeram os últimos
cinco anos ainda melhores.
DEDICATÓRIA
Pai, Mãe, Irmãzinhas e Cunhado, pelo simples
fato de existirem e fazerem justificável também a
minha existência.
Bruno, que mesmo a 1.100km de distância motiva
meu amor e alegria.
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo
aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do
Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e o
Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo.
Biguaçu, novembro de 2008.
Vivian Letícia Achar
Graduanda
PÁGINA DE APROVAÇÃO
A presente monografia de conclusão do Curso de Direito da Universidade do Vale
do Itajaí – UNIVALI, elaborada pela graduanda Vivian Letícia Achar, sob o título
“O direito de recusa do paciente a tratamento médico à luz da bioética e dos
direitos fundamentais constitucionais”, foi submetida, em 13 de novembro de
2008, à banca examinadora composta pelos seguintes professores: Dr. Marcos
Leite Garcia, Dra. Maria da Graça dos Santos Dias, Carlos Alberto Gonçalves
Luz, e aprovada.
Biguaçu, novembro de 2008.
Professor Dr. Marcos Leite Garcia
Orientador e Presidente da Banca
Professora Dra. Maria da Graça dos Santos Dias
Membro da Banca Examinadora
Professor Carlos Alberto Gonçalves Luz
Membro da Banca Examinadora
i
SUMÁRIO
RESUMO ........................................................................................... III
ABSTRACT .......................................................................................IV
INTRODUÇÃO.................................................................................... 5
CAPÍTULO 1....................................................................................... 7
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS EM FACE À NOVA ERA
DE DIREITOS ..................................................................................... 7
1.1 CONCEITO E FINALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS .................... 7
1.1.1 PROBLEMÁTICA CONCEITUAL ............................................................................ 7
1.1.2 FINDALIDADE ................................................................................................... 8
1.1.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ............................................................................ 10
1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ...................... 11
1.2.1 PRECEDENTES PRÉ-HISTÓRICOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ......................... 11
1.2.2 ANTECEDENTES DAS DECLARAÇÕES DE DIREITOS ............................................. 14
1.2.3 DAS DECLARAÇÕES E CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE DIREITOS.............................. 15
1.2.4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO .............. 17
1.2.4.1 Acensões e retrocessos no constitucionalizar pátrio......................... 17
1.2.4.2 Os Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988.............. 20
1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB A METÓDICA
DIMENSIONAL .................................................................................................... 23
1.3.1 CRÍTICAS À SUBDIVISÃO GERACIONAL DE DIREITOS ........................................... 24
1.3.2 GERAÇÕES DE DIREITOS ................................................................................. 26
CAPÍTULO 2..................................................................................... 31
OS DIREITOS DO PACIENTE À LUZ DA BIOÉTICA ...................... 31
2.1 BIOÉTICA: EVOLUÇÃO, CONCEITO E PERSPECTIVAS ........................... 31
2.1.1 OS DIREITOS DO PACIENTE .............................................................................. 36
2.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA BIOÉTICA............................................. 38
2.2.1 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ............................................................................... 39
2.2.2 PRINCÍPIOS DA BENEFICÊNCIA E DA NÃO-MALEFICÊNCIA .................................... 49
2.2.3 PRINCÍPIO DA JUSTIÇA .................................................................................... 57
ii
CAPÍTULO 3..................................................................................... 59
OS DIREITOS DO PACIENTE E A ESCOLHA DE TRATAMENTO
MÉDICO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL............................. 59
3.1 DIREITO À LIBERDADE INDIVIDUAL .......................................................... 59
3.1.1 LIBERDADE E LEGALIDADE .............................................................................. 61
3.1.2 LIBERDADE RELIGIOSA .................................................................................... 64
3.2 DIREITO À VIDA............................................................................................ 68
3.2.1 O DIREITO À VIDA: SOB O ENFOQUE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ............. 69
3.2.2 O DIREITO À VIDA PRIVADA .............................................................................. 74
3.2.3 O DIREITO À VIDA E À RECUSA ESCLARECIDA: NÃO APOLOGIA AO DIREITO DE
MORRER ................................................................................................................ 75
3.3 PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE DA CLASSE MÉDICA .............................. 77
3.4 POSSÍVEL CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS ............................. 79
CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................. 84
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS ........................................ 87
iii
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo analisar os Direitos do
Paciente
em
recusar
determinados
tratamentos
médicos
que
impute
inconvenientes, quer à sua saúde física quer ao seu bem estar moral. Tal questão
imprescinde a análise em especial de dois direitos fundamentais diretamente
envolvidos: a vida e a liberdade. Outrossim, a aniquilação da situação conflituosa
que se instaura nesta relação entre médicos e pacientes conta hoje ainda com
outra disciplina, a Bioética, empenhada em regular as situações éticas envoltas às
ciências médicas e jurídica. Para tal, o trabalho foi elaborado sob o método
dedutivo de pesquisa e divide-se em três capítulos: o primeiro analisa a
generalidade e evolução dos direitos fundamentais até que se chegue aos direitos
do paciente com os quais se preocupa a Bioética. O segundo destina-se a
aprofundar o estudo sobre o direito de recusa com base nos princípios bioéticos
e, ainda, avaliar se há possibilidade deste direito do paciente ser suprimido. O
terceiro, por fim, pretende demonstrar se à luz dos direitos fundamentais
constitucionais, teria o paciente direito de exercer sua recusa.
Palavras-chaves: direitos do paciente, bioética, direitos
fundamentais.
iv
ABSTRACT
The present study has as objective to analyze the rights of
the patient in refusing some medical treatments that impute inconveniences to the
patient’s health, desires or well-being. The analysis of two basic rights involved in
such question is essential: the right to life and the right to freedom. Likewise, the
bioethics is still another discipline engaged in alleviating the discordant situation
that arises between doctors and patients; it is interested in regulating the ethical
situations in which both, medical and legal sciences, are involved. For such, the
work was elaborated under the deductive method of researching and it is divided
into three chapters: the first one analyzes the generality and the evolution of the
basic rights until it arrives as the rights of the patient, which is one of the main
concerns of bioethics. The second one intends to scrutinize the refusal right on the
basis of bioethics’ principles, and if exists the possibility of suppressing patient’s
rights. Third, it intends to demonstrate, on the light of the basic constitutional
rights, if it is possible for the patient to exert its right to refusal a medical treatment.
Key words: patients’ rights, bioethics, fundamental rights.
5
INTRODUÇÃO
Freqüentemente, a classe médica depara-se com situações
em que pacientes, veementemente e por diferentes – porém importantes –
razões, opõem-se a determinadas intervenções médicas.
É, pois, a este delicado tema que se dedica a presente obra
de conclusão de Curso, à medida que se pretende analisar juridicamente os
direitos
dos
enfermos
em
recusarem
certas
terapêuticas
que
julguem
inconvenientes, quer física, quer moralmente.
Para tal, serão verificados os direitos fundamentais de modo
geral – dos quais originam-se os direitos do enfermo –, bem como princípios da
Bioética, disciplina ocupada com os conflitos éticos da vida humana, tanto mais
quando em questão as ciências médica e jurídica.
Assim, no Capítulo Primeiro, abordar-se-á a origem e o
processo evolutivo a que foram submetidos os direitos fundamentais, analisandose inclusive a existência de uma provável quarta geração de direitos de onde
emerge a Bioética e, conseqüentemente, as questões envoltas aos direitos do
enfermo.
É, pois, à Bioética, que se dedica o Segundo Capítulo,
analisando-se à luz de seus princípios – principalmente de autonomia e
beneficência – se teria o paciente o direito de recusar determinadas terapias
médicas às quais não deseja se submeter.
Por fim, preocupa-se o Terceiro e último Capítulo em
desvendar se os direitos fundamentais do homem, à vida e à liberdade, conferemlhe o direito de objeção, tanto mais quando aparentemente conflitam estes dois
direitos.
6
Destaca-se, por oportuno, que o presente estudo analisa tão
somente o direito de pessoas maiores, não adentrando ao cerne da questão
pessoas menores e outros legalmente incapazes.
Finalizando a exposição, têm-se as considerações finais,
onde se esboçam as conclusões desta pesquisa e a pugna para que, cada vez
menos, tenham os pacientes seus direitos suprimidos quando em questão tão
preciosos valores como sua vida física e sua dignidade como expressão de sua
consciência.
Quanto à Metodologia empregada, registra-se que foi
utilizado o método dedutivo.
7
CAPÍTULO 1
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS EM FACE À NOVA ERA
DE DIREITOS
Dado que a matéria objeto de análise deste estudo – os
Direitos do Paciente – relaciona-se diretamente com os Direitos Fundamentais,
haja vista serem mero reflexo deles e se inserirem, atualmente, no contexto dos
“novos direitos”, faz-se prudente buscar, num primeiro momento, importantes
pontos que permeiam os Direitos Fundamentais do Homem, a saber: sua origem,
evolução, constitucionalização e perspectivas sob a nova era de direitos.
É, pois, o que se pretenderá doravante.
1.1 CONCEITO E FINALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
1.1.1 Problemática Conceitual
Acerca das dificuldades envolvidas em limitar os direitos
fundamentais a uma simplista definição que provavelmente não os exprimiria em
sua completude, declara Alexandre de Moraes:
inúmeros e diferenciados são os conceitos de direitos humanos
fundamentais, no que concordamos com Tupinambá Nascimento,
que, ao analisar esse conceito, afirma que não é fácil a definição
de direitos humanos, concluindo que qualquer tentativa pode
significar resultado insatisfatório e não traduzir para o leitor, à
exatidão, a especificidade de conteúdo e a abrangência (2007, p.
21).
Acerca do tema, José Afonso da Silva acrescenta que
a ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem
no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e
preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se
8
empregarem várias expressões para designá-los, tais como:
direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos
individuais, direitos públicos, subjetivos, liberdades fundamentais,
liberdades públicas e direitos fundamentais do homem1 (2001, p.
179).
É, contudo, à expressão direitos fundamentais do homem,
que confere o jurista maior adequação, porquanto “reservada para designar, no
nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em
garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas” (SILVA,
2001, p. 182).
Tratam-se, portanto, de um
conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano
que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio
de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o
estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento
da personalidade humana (MORAES, 2007, p. 20).
1.1.2 Finalidade
Não obstante as inúmeras definições existentes na tentativa
de melhor representar os direitos fundamentais, aufere-se que, direta ou
indiretamente, visam eles proteger a pessoa humana, conferindo-lhe, assim, a
consagração de sua dignidade perante os poderes estatais. Assumem, por tal
entendimento, caráter de direitos de defesa, sob os quais o cidadão à medida que
exerce sua liberdade, impõe ao poder público a proibição de censura
(CANOTILHO, 2003, p. 408).
Porém, não só à limitação da potestade estatal prestam-se
os direitos fundamentais, uma vez que, não raro, clamam eles pelo agir
1
Ingo Wolfgang Sarlet sustenta prudente, ainda que por meras questões didáticas, a diferenciação
dos termos direitos fundamentais, direitos humanos, e direitos do homem, comumente utilizados
como sinônimos. Alega, entretanto, tratarem-se, os primeiros, dos direitos do ser humano
positivamos no âmbito do direito constitucional de cada Estado; os segundos, de direitos que
emergem do direito internacional, e os terceiros, por fim, de direitos naturais ainda não positivados
(2006, p. 35-36).
9
governamental, tal qual é o caso dos direitos de prestação, em que o indivíduo
reclama à direção pública providências positivas no respeitante à saúde, à
educação e à segurança social.
Salienta-se, outrossim, que dentre as garantias individuais
que pugnam o agir do Estado encontram-se ainda os direitos de proteção perante
terceiros que atribuem ao ente público “o dever de proteger o direito à vida [de
seus cidadãos] perante eventuais agressões de outros indivíduos” (CANOTILHO,
2003, p. 409).
Ao melhor exprimir esta função, sustenta J. J. Gomes
Canotilho:
[...] da garantia constitucional de um direito resulta o dever do
Estado adoptar medidas positivas destinadas a proteger o
exercício dos direitos fundamentais perante actividades
perturbadoras ou lesivas dos mesmos praticadas por terceiros.
Daí o falar-se da função de proteção perante terceiros.
Diferente do que acontece com a função de prestação, o esquema
relacional não se estabelece aqui entre o titular do direito
fundamental e o Estado [...] mas entre o indivíduo e outros
indivíduos (2003, p. 409).
Se assim não o bastasse, vai além a doutrina, mormente a
norte americana, ao conferir serventia às garantias fundamentais, quando a elas
atribui também a função de não discriminação, produto do princípio da igualdade,
cujo objetivo é
que o Estado trate os seus cidadãos como cidadãos
fundamentalmente iguais. Esta função de não discriminação
abrange todos os direitos. Tanto se aplica aos direitos, liberdades
e garantias pessoais (ex: não discriminação em virtude de religião)
[...]. É ainda com uma acentuação-radicalização da função
antidiscriminatória dos direitos fundamentais que alguns grupos
minoritários defendem a efectivação plena da igualdade de
direitos numa sociedade multicultural e hiperinclusiva (“direitos
dos homossexuais”, “direitos das mães solteiras” “direitos das
pessoas portadoras de HIV”). (CANOTILHO, 2003, p. 410).
10
Ressalta-se, todavia, que os sobrepujantes encargos aos
direitos fundamentais atribuídos não lhes ofusca seu âmago existencial, qual seja:
“a defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante os poderes do Estado (e
de outros esquemas políticos coactivos)” (CANOTILHO, 2003, p. 407), fim a que
indubitavelmente destinam-se todos os direitos do homem, como melhor se verá à
frente.
1.1.3 Características Essenciais
Em abordagem aos direitos fundamentais, José Afonso da
Silva traz à tona importantes características que os permeiam e são responsáveis
por distingui-los das demais classes de direitos. Detalhadamente, enuncia-os
(2001, p. 185) como direitos imprescritíveis, porquanto não se perdem pelo
decurso do tempo; irrenunciáveis, já que não passíveis de renúncia - e aí se
entende o porquê, por exemplo, de serem inadmissíveis o aborto e a eutanásia; e
inalienáveis, haja vista a completa impossibilidade de serem transferidos a
outrem, quer a título gratuito, quer oneroso.
Acrescentam-se, a estas, no entendimento de Moraes: a
inviolabilidade, por não tolerarem desrespeito advindo de determinações
infraconstitucionais; a universalidade, porque destinados a todos os indivíduos,
sem quaisquer exceções; interdependência, uma vez que não obstante
autônomos, convergem às mesmas finalidades; e, por fim, complementaridade,
no sentido de que devem ser interpretados conjuntamente (2007, p. 22).
Importa esclarecer, no entanto, tratar-se de rol meramente
exemplificativo, porque demasiadamente simplístico a caracterizar direitos que,
não bastasse de imensurável significância a seus titulares, encontram-se sob
constantes variações e melhoramentos que, diretamente ou não, podem afetar
suas peculiares especificações.
11
1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
1.2.1 Precedentes pré-históricos dos Direitos Fundamentais
Ao nortear no tempo o momento inicial da doutrina dos
direitos humanos, Manoel Gonçalves Ferreira Filho a define como “nada mais [...]
do que uma versão da doutrina do direito natural2 que já desponta da
Antiguidade” (2008, p. 9).
Neste passo, visando melhor precisar o momento inicial dos
direitos fundamentais, a doutrina jusnaturalista
fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior
universal, imutável e inderrogável. Por essa teoria, os direitos
humanos fundamentais não são criação dos legisladores, tribunais
ou juristas, e, conseqüentemente, não podem desaparecer da
consciência dos homens (MORAES, 2007, p. 15)
Certo é, no entanto, que o propósito de atribuir a um Ser
Superior ou à natureza a procedência dos direitos do homem nem a todos
contenta, tal qual é o caso, a título exemplificativo, de Renan Lotufo, para quem
“os direitos [fundamentais] da personalidade têm natureza de direito positivo3”
(2003 apud BORGES, 2005, p. 23).
Sob idêntico pensar, Pontes de Miranda afirma que os
direitos fundamentais da personalidade
“não são impostos por ordem sobrenatural, ou natural, aos
sistemas jurídicos; são efeitos de fatos jurídicos, que só se
produziram nos sistemas jurídicos, quando, a certo grau evolução,
a pressão política fez os sistemas jurídicos darem entrada aos
2
Ao passo que para alguns os direitos fundamentais originam-se do Direito Natural porque
estabelecidos pela vontade Divina; para outros, este principiar justifica-se pela simples razão de
pertencer o homem à natureza, o que, conseqüentemente, o submete às leis naturais que dela
emanam (BORGES, 2005, p. 22).
3
Os positivistas, de sua parte, fundamentam a existência dos direitos humanos na ordem
normativa, enquanto legítima manifestação da soberania popular. Desta forma, somente seriam
direitos humanos fundamentais aqueles expressamente previstos no ordenamento jurídico
positivado (MORAES, 2007, p. 15). Esta última concepção trata-se, à bem da verdade, de “uma
noção estadista de direito, que [o reduz] ao fenômeno estatal legislativo” (BORGES, 2005, p.23).
12
suportes fáticos que antes ficavam de fora, na dimensão moral ou
na dimensão religiosa” (MIRANDA apud BORGES, 2005, p. 24)
Todavia, não obstante preserve o jurista a origem positivista
das mais importantes garantias fundamentais, confessa ele a existência de
“‘princípios superiores que têm de ser atendidos pelos legisladores estatais’”
(MIRANDA apud BORGES, 2005, p.24), entendimento este, bem se sabe,
compatível àquele esboçado pelos defensores do direito natural.
Em apoio à teoria naturalista do direito e em alusão ao
ensinamento de Carlos Alberto Bittar, Roxana C. B. Borges aduz que
os direitos [fundamentais] da personalidade são direitos inatos,
“cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los, o que
não significa que os direitos de personalidade sejam apenas
aqueles reconhecidos pelo ordenamento. Para Bittar, os direitos
de personalidade antecedem o direito positivo e dele independem,
embora sua positivação possibilite uma tutela mais específica e
eficaz. Entende que não é o Estado que cria os direitos, mas que
estes existem na consciência popular e no direito natural, devendo
o Estado reconhecê-los (2005, p. 23).
Alexandre de Moraes, por sua vez e em visível admirar a
ambas as teorias, sustenta inadmissível outorgar-se exclusivamente a uma delas
o principiar de tão imprescindíveis direitos.
Para tal, afirma o jurista:
A incomparável importância dos direitos humanos fundamentais
não consegue ser explicada por qualquer das teorias existentes.
Na realidade, as teorias se completam, devendo coexistirem, pois
somente a partir da formação de uma consciência social (teoria de
Perelman4), baseada principalmente em valores fixados na crença
de uma ordem superior, universal e imutável (teoria jusnaturalista,
é que o legislador ou os tribunais [...] encontram substrato político
e social para reconhecerem a existência de determinados direitos
humanos fundamentais como integrantes do ordenamento jurídico
(teoria positivista) (2007, p. 17).
4
Teoria menos difundida, que justifica a origem dos direitos fundamentais na experiência e
consciência moral de um determinado povo (MORAES, 2007, p. 16).
13
A despeito de inúmeros escritos atuais pretenderem conferir
aos direitos fundamentais um longínquo princípio – datando-os inclusive como
antecedentes à Era Cristã –, verdade é que esta concepção não logra êxito em
explicar a origem destes direitos em sua completude, como bem sustenta Sarlet:
Ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade
que surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos
verdadeira é a constatação de que o mundo antigo, por meio da
religião e da filosofia, nos legou algumas das ideais chaves que,
posteriormente, vieram a influenciar diretamente o pensamento
jusnaturalista e a sua concepção de que o ser humano, pelo
simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e
inalienáveis, de tal sorte que esta fase costuma também ser
denominadas, consoante já ressalvado, de “pré-história” dos
direitos fundamentais (2006, p. 45).
Dentre os remotos ancestrais da doutrina dos direitos
fundamentais citam-se a codificação de Hammurabi, por volta de 1.690 a.C
(MORAES, 2007, p. 6); os Dez Mandamentos, ditados por Deus a Moisés no
Monte Sinai no século XII a.C (BESTER, p. 572), e, também, o Direito Romano,
que almejando limitar o poderio governamental, “criou um complexo mecanismo
de interditos visando tutelar os direitos individuais em relação aos arbítrios
estatais” (MORAES, 2007, p. 6), sendo a Lei das Doze Tábuas o marco desta
assertiva.
Igualmente, há de se fazer referência aos estudos difundidos
na Grécia sobre a lei da natureza humana e o dever de observância a ela – já que
superior àquela escrita por homens –, idéia esboçada, por exemplo, na obra
Antígona, do dramaturgo grego Sófocles, em que ele defende existirem normas
não escritas e imutáveis, superiores aos direitos escritos pelo homem, justificativa
pela qual a protagonista opõe-se à ordem Real por respeito à suprema lei divina.
Não se pode estabelecer aqui, contudo, a idéia de direitos
fundamentais tal qual hoje se apregoa, pela simples razão de que
o ponto de vista tradicional tinha por efeito a atribuição aos
indivíduos não de direitos, mas sobretudo de obrigações, a
começar pela obrigação da obediência às leis, isto é, às ordens do
14
soberano. Os códigos morais e jurídicos foram, ao longo dos
séculos, desde os Dez Mandamentos até as Doze Tábuas,
conjuntos de regras imperativas que estabelecem obrigações para
os indivíduos, não direitos (BOBBIO, 1992, p. 100-101).
Tratavam-se, outrossim, de Direitos – ou meramente
obrigações como pretende Bobbio – caracterizados pela vontade divina e
independentes da vontade humana, que assim permaneceram por longos
séculos.
1.2.2 Antecedentes das Declarações de Direitos
Em estudo destinado aos Direitos Fundamentais, José
Afonso da Silva afirma que foi no bojo da Idade Média que surgiram os
antecedentes mais diretos das declarações de direitos (2001, p. 155). Destaca-se,
neste contexto, a Carta Magna de 1215, que, em que pese tutora unicamente dos
interesses dos barões e homens livres ingleses, em nada se preocupando com os
não-livres, tornou-se um símbolo das liberdades públicas, vez que nela
consubstanciaram-se o desenvolvimento democrático e constitucional inglês
(SILVA, 2001, p. 156).
Escritos posteriores, como a Petition of Rights, de 1628, o
Habeas Corpus Act, de 1679, a Bill of Rights, de 1689, e o Act of Settlement, de
1701, propuseram-se a reafirmar os direitos esboçados na Carta Magna inglesa,
“inclusive com a definição de garantias específicas em caso de violação dos
mesmos” (FERREIRA FILHO, 2008, p. 12).
É, pois, a partir daí, momento transitório entre as Idades
Média e Moderna – especialmente entrementes os séculos XVI, XVII e XVIII – que
se passa a uma nova concepção de Direito Natural, não mais sob a influência
teológica no qual se explicava, mas sim fundado na razão (SARLET, 2006, p. 46):
o Direito Natural Racionalista.
Neste período, “com as mudanças que se darão no trânsito
à modernidade, a pessoa reclamará sua liberdade religiosa, intelectual, política e
15
econômica, na passagem progressiva desde uma sociedade teocêntrica e
estamental a uma sociedade antropocêntrica e individualista” (GARCIA, on line),
formando-se, pois, a verdadeira idéia de direitos fundamentais, tal qual defendido
por Gregório Peces-Barba:
No se puede hablar propiamente de derechos fundamentales
hasta la modernidad. Cuando afirmamos que se trata de un
concepto histórico propio del mundo moderno, queremos decir
que las ideas que subyacen em su raiz, la dignidad humana, la
libertad o la igualdad por ejemplo, sólo se empiazan a plantear
desde los derechos en un momento determinado de la cultura
política y jurídica. Antes existía una idea de la dignidad, de la
libertad o de la igualdad, que encontramos en autores clásicos
como Platón, Aristoteles o Santo Tomás, pero éstas no se
unificaban em ese concepto.
[...]
Esas características identificadoras del paso de la Edad Media a
la Moderna no surgen de la noche a la mañana, sino que son la
consecuencia de um largo proceso de evolución que as veses
dura varios siglos (1995, p. 113-115)5.
Chegava-se, assim, ao ponto alto do processo evolutivo de
formação dos Direitos Fundamentais: as Declarações e Constitucionalizações de
tão imprescindíveis direitos.
1.2.3 Das Declarações e Constitucionalização de Direitos
Cita-se,
dentre
as
primeiras
Declarações
e
Constitucionalizações a Declaração de Direitos de Virginia, de 1776, declarante
dos imperiosos direitos à vida, à liberdade, legalidade, [...]; a Declaração da
5
Em tradução livre: “Não se pode falar propriamente de direitos fundamentais até a modernidade.
Quando afirmamos que se trata de um conceito histórico próprio do mundo moderno, queremos
dizer que as idéias que subjazem em sua raiz, a dignidade humana, a liberdade ou a igualdade,
por exemplo, só se começam a plantar desde os direitos em um momento determinado da cultura
política e jurídica. Antes existia uma idéia da dignidade, da liberdade ou da igualdade, encontrada
em autores clássicos como Platão, Aristóteles ou Santo Tomás, porém estes não se unificavam
nesse conceito. [...] Essas características identificadoras do passo da Idade Média até à Moderna
não surgem da noite para o dia, senão que são conseqüências de um longo processo de evolução
que as vezes leva vários séculos para acontecer”.
16
Independência dos Estados Unidos da América, de idêntica datação, que “teve
como tônica preponderante a limitação do poder estatal” (MORAES, 2007, p. 9);
e, por fim, a Constituição dos Estados Unidos da América6 (1789), cujas tratativas
visavam restringir a autoridade do Estado mediante a separação de poderes, ao
passo que se promulgavam garantias fundamentais como a liberdade religiosa, o
devido processo legal, a ampla defesa, a inviolabilidade de domicílio, dentre
outras.
É, contudo, à publicação da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789), de cunho mais universalizante, que se confere
transcendental importância, haja vista que consagrou a normatização dos direitos
humanos
fundamentais,
que
foram
confirmados,
posteriormente,
pelas
Constituições francesas de 1791 e 1793, esta última cujo preâmbulo a eles aludia
como sagrados e inalienáveis, e, acima de tudo, invocava aos cidadãos a
necessidade de jamais se deixarem oprimir ou aviltar pela tirania, aconselhandoos a terem “sempre perante os olhos as bases de sua liberdade e de sua
felicidade” (MORAES, 2007, p. 10).
A expressiva evolução dos direitos fundamentais humanos
mostrou-se ainda mais significativa quando do adentrar ao século XIX, à medida
que os textos constitucionais destinavam títulos inteiros às garantias essenciais.
Encontra-se, neste ínterim, a Constituição Portuguesa de
1822, que,
qual grande marco de proclamação dos direitos individuais,
estabelecia já em seu Titulo I, Capítulo único, os direitos
individuais dos portugueses, consagrando, dentre outros, os
seguintes direitos: igualdade, liberdade, segurança, propriedade,
desapropriação somente mediante prévia e justa indenização,
inviolabilidade de domicilio, livre comunicação de pensamentos,
proibição de penas cruéis ou infamantes, livre acesso aos cargos
6
Ressalta-se, aqui, que o texto constitucional norte americano de 1787 não continha,
originalmente, a previsão de direitos fundamentais humanos, que nele foram incluídos unicamente
por força das circunstâncias, já que sua entrada em vigor dependia da ratificação dos Estados
Independentes, que condicionaram sua adesão à inclusão dum rol de direitos fundamentais na
Carta Americana, o que efetivamente ocorreu por meio de dez emendas aprovadas em 15 de
setembro de 1789 (BREGA FILHO, 2002, p. 10).
17
públicos, inviolabilidade da comunicação e correspondência
(MORAES, 2007, p. 10)
Ocorre que o simples garantir de direitos fundamentais por
meio de sua Constitucionalização não mais se mostrava suficiente, como bem
exprimem as palavras de Vladimir Brega Filho:
No início do século XX percebeu-se que a garantia dos direitos
individuais não bastava, havia necessidade de garantir também o
seu exercício. [...] Percebeu-se que a consagração formal dos
direitos não garantia seu gozo. Havia necessidade de uma
evolução dos direitos do homem e alguns fatores essa evolução.
O fator social foi um dos mais importantes [...] (2002, p. 12-13).
Frente a esta verdade, as Cartas legislativas do século XX
principiaram a incutir nos direitos individuais até então consagrados, “fortes
tendências sociais, como, por exemplo, direitos trabalhistas, [... e] efetivação da
educação” (MORAES, 2007, p. 11), a fim de a eles conferir maior abrangência e
aplicabilidade.
E assim verifica-se ocorrido na Constituição Alemã de
Weimar (1919), produto do movimento constitucionalista que instigou a ascensão
do Estado Social e dedicou às garantias fundamentais cinco sessões que não se
restringiram exclusivamente aos direitos individuais tradicionais, mas também
“reconheceram vários direitos sociais, econômicos e culturais” (BREGA FILHO,
2002, p. 14).
O reconhecimento dos direitos fundamentais não se limitou,
contudo, aos ditos países desenvolvidos, sendo igualmente recepcionado pela
legislação brasileira desde sua primogênita constituição, ainda que singelamente.
1.2.4 Os Direitos Fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro
1.2.4.1 Ascensões e retrocessos no constitucionalizar pátrio
Outorgada em 1824, a Constituição Política do Império
expressou reconhecer garantias individuais a seus nacionais e estrangeiros
18
residentes no país quando a eles dedicou um extenso rol de direitos previstos nos
trinta e cinco incisos do artigo 179, abarcados sob o título Das disposições gerais,
e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.
Atribuindo à Constituição do Império significativa importância
na efetivação dos Direitos Fundamentais Humanos, José Afonso da Silva
sustenta que
“a primeira constituição, no mundo, a subjetivar e positivar os
direitos do homem, dando-lhes concreção jurídica efetiva, foi a do
Império do Brasil, de 1824, anterior, portanto, à da Bélgica, de
1831, a quem se tem dado tal primazia” (SILVA, 2001, p. 174).
Dela colhe-se, igualmente, o reconhecimento de direitos
sociais, que nas demais positivações constitucionais fizeram-se presentes tão
somente ao final do século XIX.
Suas apreciáveis inovações nos direitos do homem,
entretanto, viram-se limitadas pelo absolutismo governamental por ela também
instituído quando da criação do Poder Moderador7, que ao passo que conferia ao
monarca poderes absolutos, restringia as garantias individuais de seus cidadãos.
Já a 1ª Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de
1891, além dos tradicionais direitos e garantias individuais já consagrados pela
Constituição anterior, estabeleceu tanto novos direitos, como também meios para
garanti-los – dentre quais se destaca o Habeas Corpus -; estendendo-os, ainda,
aos estrangeiros, até então não compreendidos pelos direitos individuais
constantes do ordenamento brasileiro.
Repetindo o rol de direitos individuais já estabelecidos pelas
antecedentes Constituições, a Carta de 1934 inovou ao criar “um instituto
desconhecido de defesa dos direitos da pessoa humana: o mandado de
segurança, a ser ministrado toda vez que houvesse direito ‘certo e incontestável,
7
Poder privativo do Imperador, hierarquicamente acima dos demais poderes do Estado
(Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Moderador>. Acessado em 10
setembro 2008).
19
ameaçado ou violado por ato manifestadamente inconstitucional ou ilegal de
qualquer autoridade’” (BONAVIDES apud BREGA FILHO, 2002, p. 34-35).
Se assim não o bastasse, apresentou manifesto progresso
também no âmbito dos direitos sociais, ao instituí-los sob o título Da ordem
Econômica e Social.
O retrocesso de direitos manifestou-se, todavia, na Carta
Constitucional de 19378, representação vívida do totalitarismo de Getúlio Vargas,
que
“restringiu direitos e garantias individuais, abolindo o mandado de
segurança e alijando os princípios da legalidade e irretroatividade
da lei, instituiu a censura prévia e a pena de morte em casos
expressamente especificados, inclusive para a subversão da
ordem política e social por meios violentos e para o homicídio
cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade”
(GUIMARÃRES, apud, BREGA FILHO, 2002, p. 36).
Situação diversa se observa quando da Constituição de
1946, em que “ressurgiram e revigoraram-se os direitos fundamentais do homem”
(BREGA FILHO, 2002, p. 37), tais quais as liberdades individuais que não
poderiam ser suprimidas por autoritarismo estatal, razão pela qual se restauraram
importantes institutos protetivos, como o habeas corpus, o mandado de
segurança, e a ação popular.
Além dos tradicionais direitos individuas já previstos nos
anteriores corpos constitucionais, a Carta de 1946 conferiu destaque tanto aos
direitos sociais - especialmente no respeitante às relações de emprego, visando
tutelar o trabalhador dos arbítrios patronais -, como também ao âmbito político, ao
prever a livre organização partidária.
Mesmo
sob
as
constantes
compressões
dos
Atos
Institucionais editados à época do Golpe Militar de 1964, mantidas foram as
declarações dos direitos do homem da Constituição de 1946, até o momento em
8
Popularmente denominada A Polaca, em alusão à sua inspiração na Constituição polonesa,
influenciada pelos ideais fascistas e totalitaristas (BREGA FILHO, 2002, p. 36).
20
que fora elaborada a Constituição de 1967 – posteriormente modificada pela
Emenda Constitucional nº 1 de 1969 -, que, por sua vez, “não trouxe nenhuma
substancial alteração formal na enumeração dos direitos humanos fundamentais”
(MORAES, 2007, p. 15).
1.2.4.2 Os Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988
Inobstante os direitos já enunciados nas predecessoras
Cartas Constitucionais, a atual institucionalização dos direitos fundamentais
destaca-se por perceptíveis inovações do legislador constituinte.
Sarlet, em apreciação à matéria, atribui à aplicabilidade dos
direitos fundamentais o mais expressivo progresso do ordenamento jurídico
pátrio, ao assegurar que
talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, §1º, da
CF, de acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata,
excluindo, em princípio, o cunho programático9 destes preceitos,
conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste
dispositivo (2002, p. 79).
Significaria dizer, por lógico, que as normas definidoras de
direitos fundamentais, uma vez constitucionalizadas, imporiam aos particulares
automaticamente submissão e cumprimento, ao passo que ao Estado cominar-seia a incumbência de revesti-las de efetividade jurídica (NOVELINO, 2008, p. 255).
Contudo, em aprofundado estudo, pondera Sarlet que
[...] por mais sedutora que nos pareça a tese dos que propugnam,
em última análise, a inexistência de normas programáticas na
Constituição, com base numa exegese que integra o princípio da
aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, [...], entendemos
não corresponder ela ao nosso sistema constitucional vigente. Em
primeiro lugar, há de se ter em mente a circunstância, embasada
na paradigmática lição de Gomes Canotilho, de que a nossa
9
Têm-se por normas programáticas aquelas cuja concretização e aplicabilidade dependam de
intervenção do legislador, uma vez que, por atributos próprios, não possuem normatividade
suficiente que lhes dote de imediata eficácia (SARLET, 2002, p. 275)
21
Constituição (assim como as Constituições em geral) pode ser
considerada como um sistema aberto de regras e princípios.
Ainda que se queira negar – e não sem certa razão a utilização da
expressão “normas programáticas”, isto em nada altera o fato da
existência, também na nossa Constituição vigente – em escala
sem precedentes no constitucionalismo pretérito -, de normas que,
em virtude de sua natureza (forma de positivação, função e
finalidade), reclama uma atuação concretizadora dos órgãos
estatais, especialmente do legislador, sem que, a evidência, esteja
a se negar eficácia e aplicabilidade (inclusive imediata) a estas
normas (2002, p. 277).
À pequenas particularidades também reservou o legislador
consideráveis alterações.
Cita-se, por exemplo, o simples posicionar dos direitos
fundamentais logo ao início do corpo constitucional – antecedidos unicamente do
preâmbulo e dos princípios constitucionais -, que, conquanto aparentemente
insignificante, denota que a eles conferiu-se “parâmetro hermenêutico e valores
superiores de toda a ordem constitucional e jurídica” (SARLET, 2002, p. 79),
situação bastante diversa das anteriores Constituições que “procuravam ofuscarlhes a importância” (FAGUNDES JÚNIOR, 2001, p. 273).
Igualmente relevante apresenta-se o postar dos direitos
sociais em capítulo próprio no catálogo dos direitos fundamentais, porque ao
inseri-los constitucionalmente nesta categoria de direitos, assegurou-os o
legislador maior eficácia e proteção estatal, tanto mais quando observado o fato
de estarem, sem quaisquer exceções, sob o protetivo rol constitucional de
cláusulas pétreas do artigo 60, §4º da CRFB/88, que lhes resguarda de quaisquer
supressões advindas do poder Constituinte derivado.
Considerada símbolo da redemocratização do Estado
brasileiro intensamente assolado por décadas de assombroso autoritarismo
militar, a promulgação da Constituição Federal em 1988 aspirava, ao fim e em sua
totalidade, restaurar a liberdade e dignidade humana esmaecidas à época
ditatorial.
22
Por esta razão e sob forte influência democrática, dedica aos
direitos fundamentais a inteireza de seu Título II, composto por sete artigos, seis
parágrafos e cento e nove incisos – sem aqui se contabilizarem, ainda, os
diversos direitos fundamentais esparsos pelo corpo constitucional -, subdivididos
em direitos individuais e coletivos (Capítulo I), sociais (Capítulo II), de
nacionalidade (Capítulo III) e políticos (Capítulo IV).
Instituiu-se, por intermédio deles, a autonomia e proteção à
liberdade individual; o direito de exercício da liberdade de expressar-se, à reserva
da intimidade, ao tratamento isonômico, à crença e a preservação da consciência,
à participação política; o dever de garantir ao trabalhador aprazíveis condições
empregatícias, bem como resguardá-los das arbitrariedades patronais [...].
Ainda
que
inumeráveis,
são,
em
suas
diversas
manifestações, explicitações vívidas do Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, fundamento da República Federativa Nacional, tal qual enfatiza a
doutrina:
[...] o princípio da dignidade da pessoa humana vem sendo
considerado fundamento de todo o sistema dos direitos
fundamentais, no sentido de que estes constituem exigências,
concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa
humana e que cm base nesta devem ser interpretados. Entre nós,
sustentou-se recentemente que o princípio da dignidade da
pessoa humana exerce papel de fonte jurídico-positiva dos direitos
fundamentais, dando-lhes unidade e coerência.
[...]
Neste sentido, há que se compartilhar o ponto de vista de que os
direitos e garantias fundamentais (ao menos a maior parte deles)
constituem garantias específicas da dignidade da pessoa humana,
da qual são – em certo sentido – mero desdobramento. Em
relação aos direitos fundamentais, a posição do princípio da
dignidade da pessoa humana assume a feição de lex generalis, já
que, quando suficiente o recurso a determinado direito
fundamental (por sua vez impregnado de dignidade), inexiste
razão para invocar-se autonomamente o principio da dignidade da
pessoa humana, que não pode propriamente ser considerado de
aplicação meramente subsidiária, até esmo pelo fato de que uma
23
agressão a determinado direito fundamental simultaneamente
pode constituir ofensa ao seu conteúdo de dignidade (SARLET,
2002, p. 127-128).
O atrelar dos direitos fundamentais como um todo a um bem
jurídico maior e inquantificável: a dignidade humana, também confere à Carta
Constitucional atual considerável destaque, pois, pela primeira vez, outorgou aos
direitos fundamentais a merecida relevância e reconhecimento, até então não
obtidos ao longo de toda a evolução constitucional pátria, ainda que constassem
nas anteriores Constituições singelas previsões de direitos essenciais (SARLET,
2006, p. 75).
Distingue-se, ainda, a nova ordem Constitucional, por
corporificar direitos fundamentais emergidos de toda a tríade geracional – direitos
individuais, coletivos e de solidariedade -, como bem se verá.
1.3
CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOB A METÓDICA
DIMENSIONAL
Uma vez reconhecidos nas primeiras Cartas Constitucionais
ao longo de sua evolução, tanto na esfera internacional quanto no ordenamento
jurídico interno, os direitos fundamentais submeteram-se a diversas mutações
históricas que influenciavam sua formação e os moldavam aos pensamentos
filosóficos da época (SARLET, 2006, p. 54).
Não emergem de um único momento histórico, tal qual
defende Bobbio ao argumentar que
[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma
vez e nem de uma vez por todas (1992, p. 5).
Suas
constantes
transformações
os
levaram
a
ser
classificados por considerável parte da doutrina em consonância às dimensões do
24
momento em que surgiam, razão pela qual são comumente classificados em
direitos de primeira, segunda, terceira e, ainda para alguns, de quarta geração.
1.3.1 Críticas à subdivisão geracional de direitos
Inúmeros juristas, dentre os quais Aldir Guedes Soriano,
insurgem-se, todavia, face à divisibilidade acima proposta, contestando-a por
apregoar que
[...] conforme acentua Carlos Weis, não há uma sucessão de
direitos, erroneamente induzida pela idéia de gerações de direitos.
Destarte, essa classificação, segundo as gerações de direitos,
encontra-se, atualmente, superada pela doutrina, pois não
corresponde à realidade, à ordem em que surgiram tais direitos; e,
tampouco, os direitos mais recentes sucedem os mais antigos
(2002, p. 6).
O postar de renomados doutrinadores neste entendimento
justifica-se no fato de que o critério divisional dos direitos em gerações temporais
não logra êxito em explicar plena e satisfatoriamente o surgimento e evolução
deles, porquanto os limita a uma sucessão cronológica histórica que “sugere a
perda de relevância e até a substituição dos direitos das primeiras gerações”
(CANOTILHO, 2003, p. 386).
Sarlet, por sua vez, em que pese compartilhador do ideal de
desvincular a origem dos direitos fundamentais de características peculiares de
certas épocas, confere às gerações de direitos importante função, uma vez que
“marcam a evolução do processo de reconhecimento e afirmação dos direitos
fundamentais [e] revelam que estes constituem categoria materialmente aberta e
mutável” (2006, p. 62).
Prudente
esclarecer,
entretanto
e
em
resguardo
à
sistematização dos direitos fundamentais em dimensões históricas como a aqui
proposta, que os direitos constantes das gerações que emergiam – e, ressalta-se,
ainda emergem, porquanto não estagnadas no tempo – não substituem seus
antecedentes, de modo que são direitos que convivem entre si, consoante leciona
25
Paulo Bonavides ao exprimir que “os direitos fundamentais passaram na ordem
institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem
dúvida um processo cumulativo quantitativo (BONAVIDES, 2007, p. 563).
E assim também professa Flávia Piovesan, ao aduzir que
“partindo-se do critério metodológico, que classifica os direitos
humanos em gerações, adota-se o entendimento de que uma
geração de direitos não substitui outra, mas com ela interage. Isto
e, afasta-se a idéia de sucessão ‘geracional’ de direitos, na
medida em que se acolhe a idéia de expansão, cumulação e
fortalecimento dos direitos humanos consagrados, todos
essencialmente complementares e em constante dinâmica de
interação” (apud BREGA FILHO, 2002, p. 26).
Salienta-se, deste modo, que as diferentes gerações que se
manifestavam ao longo dos anos pretendiam, aos olhos da realidade, não apenas
criar novos direitos, mas sim discernir nos já existentes novas perspectivas
funcionais. Diz-se, por esta razão, que inobstante a classificação que se lhes
atribui - se de primeira, segunda, ou inumerável geração -, e, ainda, em favor de
quem são eles destinados; verdade é que acima de quaisquer outros objetivos,
visam eles “sempre a proteção da vida, da liberdade, da igualdade e da dignidade
da pessoa humana” (SARLET, 2006, p. 64).
Vladimir Brega Filho, ao passo que reconhece a deficiência
e incompletude da teoria geracional de direitos, defende-a sob o argumento de
que
a classificação histórica dos direitos fundamentais demonstra
como foi difícil a conquista desses direitos. Os direitos
fundamentais foram e ainda são muito desrespeitados e talvez a
lembrança dessa história os valorize mais.
Por fim, conclui:
[...] embora critiquem a referência às gerações, todos os autores
brasileiros e estrangeiros fazem referência a esta classificação
histórica, numa demonstração inequívoca de sua importância.
[...]
26
Assim, mesmo sendo razoáveis as críticas à expressão gerações,
não há porque não classificarmos os direitos fundamentais a partir
de seu aspecto histórico.
1.3.2 Gerações de Direitos
Doutrinária e consensualmente subdividos em três gerações
de direitos, derivam, os de primeira dimensão, do pensamento liberal-burguês do
século XVIII, e relacionam-se à esfera pessoal do indivíduo e à busca da
liberdade. São também denominados direitos de defesa e direitos públicos
(BREGA FILHO, 2002, p. 22), cujo propósito concentra-se na limitação do poder
estatal, e, por esta razão, vigoram quais direitos de oposição ao Estado
(BONAVIDES, 2007, p. 563).
Em memorável definição, Sarlet os apresenta
[...] como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a
uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos
poderes públicos, sendo, neste sentido, “direitos de resistência ou
oposição perante o Estado”. Assumem particular relevo no rol
destes direitos, especialmente pela sua notória inspiração
jusnaturalista, os direito à vida, à liberdade, à propriedade e à
igualdade perante a lei. São, posteriormente, complementados por
um leque de liberdades, incluindo as assim denominadas
liberdades de expressão coletiva [...] e pelos direitos de
participação política.
[...] Em suma, como relembra P. Bonavides, cuida-se dos assim
chamados direitos civis e políticos, que, em sua maioria,
corresponde à fase inicial do constitucionalismo ocidental, mas
que continuam a integrar os catálogos das Constituições no limiar
do terceiro milênio [...]. (SARLET, 2006, p. 56).
Bem se sabe, entretanto, que a mera previsão de direitos
fundamentais, ainda que acompanhada da constitucionalização destes, em nada
se mostraria eficaz se não fossem criados meios garantidores de seu exercício,
27
necessidade esta ainda mais percebida frente aos abalos sociais e econômicos
que acompanhavam os movimentos impulsores do desenvolvimento industrial do
século XIX, donde emergiam lutas reivindicatórias pelo reconhecimento e
efetivação dos direitos do homem, criando-se, enfim, a “dimensão da igualdade”
(PEREIRA E SILVA, 2003, p. 21).
Eis aí o porquê, como bem apregoa parte da doutrina,
“foram definidos e assegurados os direitos sociais, econômicos e culturais”
(BREGA FILHO, 2002, p. 22) - ditos direitos fundamentais de segunda geração -,
a fim de se
garantir condições razoáveis a todos os homens para o exercícios
dos direitos individuais. Haveria uma complementação entre as
liberdades públicas e os direitos sociais, “pois estes últimos
buscavam assegurar as condições para o pleno exercício dos
primeiros, eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno
uso das capacidades humanas” (BREGA FILHO, 2002, p. 23)
O ponto distintivo entre ambas as gerações de direitos
reside, basicamente, na dimensão positiva dos últimos, haja vista que ao passo
que os direitos de primeira geração clamam um não agir Estatal, para que não
interfira ele nas prerrogativas individuais de seus cidadãos, os de segunda
dimensão pugnam por uma ação positiva do Estado, para que outorgue ao
indivíduo direitos a prestações sociais (WOLKMER, 2003, p. 8) e à igualdade.
Em
abordagem
aos
direitos
de
segunda
geração,
distinguindo-os em relação aos de primeira, Sarlet alega não mais se tratarem “de
liberdade do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”
(2006, p. 57).
Cumpre afirmar, contudo, errônea a tentativa de vincular à
segunda geração tão somente direitos de cunho positivo prestacional, porquanto
engloba ela ampla gama de direitos que transpassam a obrigação provisional do
Estado para com os seus. Somam-se a essa classe de direitos, neste sentido, as
ditas liberdades sociais, que conferem ao homem o reconhecimento de garantias
28
fundamentais relacionados ao trabalho, como o direito à greve, sindicalização,
remuneração, limitação de jornada, dentre outros.
As duas primeiras dimensões de direitos, a despeito das
inúmeras e significativas diferenças que as acompanham, conservam em si
idêntica destinação, a saber: a pessoa individual humana, aspecto este que, não
obstante ponto unificador da primeira e segunda dimensão de direitos, as aparta
da terceira, reconhecida pelos direitos de solidariedade que transcendem a esfera
individual do homem, “destinando-se à proteção de grupos-humanos” (SARLET,
2006, p. 58).
São
estes
últimos,
a
bem
da
verdade,
direitos
metaindividuais10, coletivos e difusos, destinados à proteção de grupos de
pessoas (famílias, povos e nações), em que pese também regularem relações
entre indivíduos e Estado (WOLKMER, 2003, p. 8).
Consoante Brega Filho, neles se incluem “o direito à paz, o
direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao
patrimônio comum da humanidade e o direito à autodeterminação dos povos”
(2002, p. 23).
Propugna parte da doutrina, ainda, adentrarem à terceira
esfera de direitos os concernentes aos direitos do paciente, às manipulações
genéticas, à modificação de sexo, à garantia de morrer dignamente; tratativas
essas que, para outros, ocupam o rol de direitos de quarta dimensão, tal qual
defende Antônio Carlos Wolkmer, que nesta alicerça o principiar dos novos
direitos, “referentes a biotecnologia, à bioética e à regulação da engenharia
genética” que “têm vinculação direta com a vida humana” (2003, p. 12).
10
Caracterizados pela indeterminação do número de titulares dos interesses, os direitos
metaindividuais dividem-se em direitos difusos e coletivos. Os primeiros, “baseiam-se
exclusivamente sobre dados de fato, genéricos e contingentes, acidentais e mutáveis, como
habitar a mesma região, consumir iguais produtos, sujeitar-se a determinadas circunstâncias
sócio-econômicas [...]. A indeterminação [...], aqui, é muito grande e, por isso, os interesses
espalham-se por tudo um grupo social. [...] Enquanto em relação aos direitos difusos é difícil
estabelecer a titularidade, no caso dos direitos coletivos tal determinação é mais fácil: é o caso
dos interesses comuns no seio de entidades profissionais, de sindicatos [...]” (SAUWEN;
HRYNIEWICZ, 2008, p. 66).
29
É, pois, aos ditos novos direitos11 de quarta geração12, que
presta este estudo maior atenção, vez que abarcam, dentre tantas outras
temáticas, também os conflitos que despontam entre a medicina e o direito,
acerca das mais íntimas questões atreladas ao ser humano: a vida e a morte.
Ao passo que traz à baila discussões sobre o aborto, a troca
de sexo, a recusa de tratamentos médicos, dentre outros; a quarta geração de
direitos, pretendendo salvaguardar a dignidade da pessoa humana, tem por
amparo, hodiernamente, a Bioética, mecanismo interdisciplinar que visa “fazer
entender os valores éticos, na medida em que questiona o respeito à dignidade
humana, em meio ao progresso das ciências” (HRYNIEWICS; SAUWEN; 2008, p.8).
Propõem-se, à Bioética, temas como
a reprodução humana, a engenharia genética, a contracepção, os
transplantes, as cirurgias intra-uterinas, a eutanásia, o transplante
de órgãos, o transexualismo, o aborto, além de outros, como a
relação médico-paciente, a regulamentação sobre pesquisas com
seres humanos (HRYNIEWICS; SAUWEN; 2008, p.10-11).
Ocupa-se,
portanto,
com
questões
constantemente
debatidas no âmbito dos tribunais: desde celeumas sobre o princípio e o fim da
vida e pesquisas científicas com seres-humanos, como também questões
cotidiandas da prática médica afetas ao relacionamento entre médicos e
pacientes, que a despeito de aparentemente simplistas, ocultam em si acalorados
conflitos que põem sob ameaça os Direitos do Paciente, à cuja proteção destinase também a bioética e aos quais dedica este estudo maior consideração.
Dentre as relações entre médicos e pacientes, destaca-se,
por demasiadamente conflituosa, a insurgência de pacientes contra determinadas
11
É de se esclarecer, por oportuno, que a admissão de uma nova era de direitos - quarta geração no presente estudo não pretende degradar ou desprestigiar a fundamentalidade dos direitos, risco
contra o que adverte Perez Luño (SARLET, 2006, p. 63).
12
Em que pese a não unanimidade doutrinária quanto à que classe de direitos – se terceira ou
quarta geração - pertenceriam aqueles relativos à bioética, serão eles aqui abordados como
direitos de quarta geração, haja vista sua direta vinculação à ética e à vida humana, conforme
sugere Antônio Carlos Wolkmer (2003, p. 12).
30
terapias, muitas vezes acompanha de opções por tratamentos diversos daquele a
ele ofertado.
Proposição em muito controvertida no âmbito dos tribunais,
o direito de opção do paciente carece minuciosa análise de princípios norteadores
da bioética, ainda não positivados, e que não obstante suscitada nos pólos de
discussões dos ditos novos direitos, imprescinde especialmente a consideração
de direitos fundamentais das primeiras gerações, a saber: a vida, a liberdade.
31
CAPÍTULO 2
OS DIREITOS DO PACIENTE À LUZ DA BIOÉTICA
2.1 BIOÉTICA: EVOLUÇÃO, CONCEITO E PERSPECTIVAS
As atrocidades há seis décadas praticadas por médicos
nazistas em experiências desumanas que marcaram o mal e desastroso uso da
Medicina e da biociência; as experiências realizadas por japoneses com seus
prisioneiros de guerra, e ainda outras barbáries, evidenciavam que arraigadas à
evolução médico-científica encontravam-se constantes violações aos direitos
fundamentais do homem.
Tais
necessidade
de
abusos
construção
de
alertavam
parâmetros
a
humanidade
éticos
que
acerca
da
vinculassem
o
desenvolvimento científico à proteção do homem, tal qual pretendia o Código de
Nuremberg13, considerado “o primeiro indicador de cunho universal da
necessidade de aliar a pesquisa cientifica ao respeito pelo ser humano”
(SAUWEN; HRYNIWICZ, 2008, p. 24).
Paralelamente,
as
reivindicações
de
pacientes
que
buscavam o porquê dos procedimentos terapêuticos a que eram submetidos e
pugnavam por autonomia ao passo que se insurgiam contra o paternalismo
médico (BARRETTO, 2003, p. 398) proposto antes da Era Cristã por Hipócrates14
– que argumentava prescindível o consentimento do paciente acerca das
13
Documento divulgado em 19 de agosto de 1947, juntamente às sentenças dos médicos
nazistas, estabeleceu diretrizes éticas a serem observadas em pesquisas com seres humanos.
Revisto em 1964 pela Organização Mundial da Saúde, deu origem à Declaração de Helsinque,
que incorporou diversos elementos daquele Código.
14
Considerado o Pai da Medicina, viveu entre 460-370 a.C e tornou-se muito conhecido por seu
Juramento, que firmava o compromisso da Medicina com a Vida e permaneceu como “canônico”
até a Idade Média, sendo ainda hoje referência para a ciência médica. (SGRECCIA, 1996, p. 3637). Convém salientar que o juramento hipocrático, em que pese considerado por muitos a
primeira formulação de um sistema normativo entre a prática médica e o respeito à vida humana
(BARRETTO, 2003, p. 391), tinha ideais paternalistas por conferir ao médico amplos poderes em
razão de seu conhecimento, desprezando o consentimento ou não do paciente.
32
prescrições médicas em razão de agir o médico sempre para o bem -, traziam à
tona profundas mudanças nas relações médico-pacientes, e a necessidade de
conferir aos últimos direitos de participação na tomada de decisões sobre seu
próprio bem estar.
Tratavam-se, pois, de aspectos éticos, e, assim sendo, de
maior complexidade quando comparados aos problemas técnicos normalmente
existentes.
Surgia, neste ínterim, frente à “necessidade da reatualização
da ética da vida humana” (PEREIRA SILVA, 2003, p. 295), a bioética15,
considerada por Regina F. Sauwen e Severo Hryniewicz como um “elo entre a
ética e o direito” (2008, p. 37), passível de inúmeras definições, como as
propostas pelos mesmos juristas em alusão a renomados autores:
a) “Eu proponho o termo bioética como forma de enfatizar os dois
componentes mais importantes para se atingir uma nova
sabedoria, que é tão desesperadamente necessária:
conhecimento biológico e valores humanos” (Potter, Van
Rensselaer. Bioethics: bridge to the future, 1971).
b) Bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área
das ciências da vida e a atenção à saúde, enquanto que esta
conduta é examinada a luz dos princípios e valores morais
(Reich, W. T. Encyclopedia of Bioethics, 1978).
c) [...]
d) “A Bioética é a pesquisa de soluções para os conflitos de
valores no mundo da intervenção biomédica (Durant, G. A
bioética: natureza, princípios, objetivos, 1995).
e) [...]
15
Não obstante seus ideais datarem à época de elaboração do Código de Nuremberg, o termo
bioética foi utilizado pela primeira vez tão somente a partir de 1970, nas obras The science of
survival e Bioethics: bridge to the future, escritas pelo oncólogo Van Rensselaer Potter
(SGRECCIA, 1996, p. 23). O emprego do termo à época, contudo, tratava-se de uma abordagem
ao respeito à pessoa humana numa perspectiva ecológica. Inobstante ser a ecologia também
temática abrangida pela bioética, foi o sentido à ela atribuído por Andre Hellegers que a aproximou
do ideal atual: a bioética como ética da vida, sobretudo a vida humana (SAUWEN; HRYNIEWICZ,
2008, p. 9).
33
f)
Bioética é a nova ciência ética que combina humildade,
responsabilidade e uma competência interdisciplinar,
intercultural e que potencializa o senso de humildade (Potter,
IV Congresso Mundial de Bioética, 1998) (2008, p. 10).
Ainda que relevantes as diversas concepções destinadas à
Bioética, pode ela ser definida sucintamente como
um estudo interdisciplinar16, ligado à ética, que investiga, na área
das ciências da vida e da saúde, a totalidade das condições
necessárias a uma administração responsável da vida humana em
geral e da pessoa humana em particular (SAUWEN;
HRYNIEWICZ, 2008, p. 13).
A multidisciplinaridade que alcança denota, por óbvio, seu
amplo campo de atuação, dentro do qual Adela Cortina destaca:
Si quisiérmos exponer um elenco de las reinvindicaciones que
diferentes grupos han presentado [...], tendríamos que mencionar,
al menos, las siguientes:
1) En el âmbito de la ecologia, los derechos de las futuras
generaciones a nascer em um médio ambiente mejor [...];
2) En el campo de la ingeniería genética [...];
3) En lo que respecto a las técnicas de reproducición asistida [...];
4) [...] en relación com el aborti, la eutanásia, el suicidio [...];
5) [...] derecho el de recibir órganos mediante transplante, que
sustituyan a los dañados, cuando com ello es posible salvar la
vida;
6) [...] en la relación personal sanitário-paciente es ya
mundialmente aceptado el derecho del paciente a ser
informado de cualquier tipo de experimentación que con él se
quiera practicar, de cualquier tratamiento que suponga
sérios riesgos para la vida o para la calidad da misma, y
por supuesto a no ser interenido si no es tras haber dado
16
Justifica-se tamanha interdisciplinaridade por tratar-se de campo de estudo diretamente ligado à
inúmeras e distintas ciências, como a teologia, a sociologia, a filosofia, a medicina, a biologia, ao
direito [...], dos quais imprescinde amplo diálogo e conexão (SAUWEN; HRYNIEWICZ, 2008, p.
12).
34
su consentimiento por escrito o ante testigos. El
consentimiento informado es uma de las vertientes
médicas del principio de autonomia;
7) [...] [paciente] puede <<tener derecho>> a la verdad em caso
de enfermedad irreversible;
8) [...] el possible derecho a recibir cuidados em caso de
enfermedad irreversible cuando, no siendo posible la curación,
si lo es cuidado y la mitigación del dolor. (1994, p. 436, [Grifouse.])17.
São, pois, questões que transpõem laboratórios científicos e
centros médicos e enfatizam a necessidade de que a ciência – em quaisquer de
suas vertentes -, respeite ao homem, protegendo-o da reificação promovida pelo
insaciável progresso do saber humano e pela desumanização da prática médica.
Nesta perspectiva, advertem Regina F. Sauwen e Severo
Hryniewicz que
[...] respeitar a pessoa humana implica também combater toda
prática que a diminua. A pessoa humana, em sua totalidade, é
muito mais que um simples corpo [...].
A pessoa é também um mundo de valores e de relações: é um fim
em si mesma, um centro de liberdade e complexidade que é
único, indivisível e não intercambiável. Por isso a pessoa aqui
possui dignidade (2008, p. 60).
Bem se sabe, contudo, que a reflexão ética da vida
pretendida pela Bioética depara-se, em não raras vezes, com lacunas legislativas
17
Em tradução livre da autora: “Se quisermos expor uma relação das reivindicações que
diferentes grupos têm apresentado, teríamos que mencionar, pelo menos, as seguintes: 1) No
âmbito da ecologia, o direito das futuras gerações a nascer num ambiente melhor [...]; 2) No
campo da engenharia genética [...]; 3)No que diz respeito às técnicas de reprodução assistida [...];
4)[...] em relação ao aborto, à eutanásia, ao suicídio [...]; 5) [...] o direito de receber órgãos
mediante transplante, que substituam os danificados, quando for possível salvar a vida; 6) [...] na
relação pessoal médico-paciente já é mundialmente aceitado o direito do paciente de ser
informado de qualquer tipo de experiência se que queira praticar com ele e de qualquer tratamento
que represente sérios riscos à vida ou à qualidade da mesma, e, certamente, a não ser operado
se não houver dado seu consentimento por escrito ou na presença de testemunhas. O
consentimento informado é uma das vertentes médicas do princípio da autonomia.; 7) [...] [o
paciente] pode ter direito à verdade em caso de doença irreversível; 8) [...] o possível direito de
receber atendimento em caso de doença irreversível quando, não sendo possível a cura, for
tratável o alívio da dor”.
35
tanto em relação aos fatos novos oriundos da revolução biomédica, como à
discussões clínicas cotidianas tais quais a relação médico-paciente e os direitos e
deveres de ambas as classes, cujas tratativas limitam-se, muitas vezes, aos
Códigos Deontológicos (de ética profissional).
Eis o porquê da importância do principiar do Biodireito, que
dentre os direitos de quarta geração (COAN, 2001, p. 248) se caracteriza pelo
encontro da bioética com as ciências jurídicas (PIÑEIRO; SOARES, 2002, p. 7), e
é por Reinaldo Pereira e Silva definido como “a compreensão do fenômeno
jurídico enquanto conhecimento prático visceralmente empenhado na promoção
da vida humana” (2003, p. 31), tendo por escopo pensar tanto nas normas quanto
nos critérios de decisão acerca dos conflitos advindos da vasta reflexão bioética,
conservando, sempre, o valor da vida e da dignidade da pessoa.
Elida Séguin, relacionando bioética e biodireito, explica o
nascer do último no exato momento em que a primeira, transpondo aos meros
ideais de valores sob revestimento principiológico, passa a ser positivada (2005,
p. 35).
Ao explanar acerca da imprescindibilidade de criação de
uma nova área nas ciências jurídicas, Ivo Dantas ressalta o ensinamento de
Roque Junges, para quem a eficácia da Bioética sobre a vida humana encontrase atrelada à construção de um Biodireito, ainda que a formulação de leis
envoltas aos conflitos com os quais se ocupa aquela seja de alta complexidade
(on line, p. 20).
Justifica, o jurista, a deficiência legal, “na própria dificuldade
de definir vida, dignidade humana, pessoa humana que são questões
metajurídicas de opção antropológica e ética”, razão pela qual as ordenações da
bioética e do biodireito restringem-se, basicamente, em “grandes declarações
internacionais sobre os direitos humanos” que, não obstante importantes, “são
vagas e podem apenas servir de fundamentação ética, não tendo força legal”.
Alega, por fim, que “a bioética necessita de formulações jurídicas mais claras e
concretas” (on line, p. 20).
36
Salienta-se, no entanto, que a carência legislativa que
permeia a bioética não a aparta de alcançar o alvo ao qual se propõe:
salvaguardar a dignidade da pessoa humana frente às inúmeras situações
conflituosas que advém tanto do avançar científico quanto das relações médicospacientes, que vez por outra intimidam os direitos dos enfermos.
É, todavia, à relação médico-paciente e às altercações que
dela exsurgem que propõe este estudo maior atenção, mormente às situações em
que a classe médica depara-se com a recusa do enfermo em sujeitar-se a
determinada terapia prescrita.
Aparentemente pouco significativas quando comparadas às
grandes polêmicas afetas à bioética, as reivindicações de pacientes em serem
informados e consentir (ou não) com o tratamento médico ofertado é hoje alvo de
inúmeros estudos no campo da bioética, haja vista que ao tempo que para alguns
a desconsideração da vontade do paciente – prática constante nos centros
clínicos -, implicaria direta violação da autonomia que lhes é de direito e,
conseqüentemente, em seu direito fundamental à liberdade, para outros, trata-se
de mera formalidade dispensável, por ser dever médico a proteção da vida
humana, como há muito já juramentado por Hipócrates.
Faz-se mister, contudo, aquilatar se o posicionamento
contrário de pacientes frente a certas terapias médicas lhes seria, ou não,
efetivamente de direito.
O deslinde da questão há de ser precedido de breve reflexão
sobre os direitos do paciente e a garantia dos mesmos por intermédio da Bioética
e o Biodireito.
2.1.1 Os Direitos do Paciente
Suscitados entrementes o lançar da Declaração dos Direitos
Humanos de 1948 – precursora de inúmeros outros movimentos tais como os em
prol do reconhecimento de direitos dos deficientes físicos e mentais, pacientes
37
psiquiátricos, idosos, dentre outros grupos relacionadas à área da saúde -, os
direitos do paciente surgiram quando “indivíduos, familiares e comunidade
começaram a se questionar quanto ao seu papel como pacientes” (GAUDERER,
1998, p. 69).
Contrário ao que ocorrido em terras norte americanas, raiz
da temática, as reivindicações dos direitos do paciente foram aventadas no Brasil
por iniciativa da classe médica quando da edição da Proposta do Grupo de
Brasília, definida por Gauderer como possivelmente “a mais completa e
abrangente proposta quanto aos direitos do paciente, servindo de base para o
Novo Código de Ética Médica” (1998, p. 69), posteriormente votado e aprovado
em novembro de 1987, no I Congresso Nacional de Ética Médica.
Em consonância à redemocratização nacional da época, o
singelo surgir dos direitos dos cidadãos frente à medicina visava à construção,
entre médicos e pacientes, de uma “relação de igualdade, autonomia, liberdade,
[e], conseqüentemente, de prazer” (GAUDERER, 1998, p. 71), garantindo aos
últimos não só o direito ao atendimento, mas a efetividade de seus direitos
fundamentais na afirmação de sua dignidade.
A incessante luta pela substituição da forma paternalista que
imperava nas relações médico-paciente por um método transparente e
responsável trouxe à tona os direitos dos enfermos no acompanhamento de sua
enfermidade e nas tomadas de decisões relativas a seu corpo.
Gauderer, ao declarar os direitos do paciente, incluiu dentre
os mesmos
o direito a um prontuário, ficha ou registro médico e o acesso a
todas as informações que digam respeito nossa saúde, que
devem ser redigidas em linguagem que possamos compreender,
além de receita em letra legível; à cópia do nosso material médico,
inclusive exames laboratoriais; [...] gravar ou filmar uma
consulta; [...] a ouvir outras opiniões profissionais e também
solicitar uma conferência médica; [...]a uma morte digna, ou
seja, escolher como e onde morrer; [...] a recusar certos
tratamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas ou
38
internações; [...] de visitar nosso filho ou cônjuge quando
pudermos; [....] o direito de ter um acompanhante durante um
exame ou hospitalização [...] (GAUDERER, 1998, p. 22-23,
[Grifos no original.]).
Ocorre que, inobstante enunciada qual direito, a eventual
recusa do paciente frente a determinado tratamento - desde a simples ingestão
medicativa à intervenções cirúrgicas ou internações -, tal qual proposto por
Gauderer, continua a sofrer constantes objeções no âmbito médico e judicial.
Trata-se, pois, de causa demasiadamente delicada, porque
atinente ao (des)respeito à vontade do paciente, e, assim sendo, com diretos
reflexos em sua dignidade – ponto focal a que convergem a Bioética e o Direitos
Fundamentais como um todo, uma vez que de nada valeria a vida e os demais
direitos que delam emanam, se isenta de dignidade.
Por esta razão se faz prudente a análise de princípios que
permeiam a Bioética e o Biodireito, e promovem, dentro do possível, soluções
pacíficas aos conflitos havidos entre médicos e pacientes no respeitante à vida, à
ética, e à dignificação do homem.
2.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA BIOÉTICA
Atrozes e escandalosos casos de pesquisas desumanas
ocorridos entrementes as décadas de sessenta e sessenta nos Estados Unidos
impeliram o governo norte-americano a constituir, em 1974, a Comissão Nacional
para a Proteção dos Seres Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental,
cuja atribuição cingia-se à instituição de parâmetros éticos que norteassem
experimentações com seres humanos.
Passados quatro anos, publicou-se, por fim, o Relatório de
Belmonte, edificado sobre três - não taxativos - princípios fundamentais:
autonomia, beneficência e justiça, que se aplicariam tão somente “às questões
éticas
suscitadas
pela
pesquisa
BARCHIFONAINE, 2005, p. 58).
com
seres
humanos”
(PESSINI;
39
Ampliando a aplicabilidade do sistema de princípios
estabelecido, Beauchamp e Childress, em 1978, mediante a obra Principles of
Biomedical Ethics, empregaram-nos também ao campo da prática clínica
assistencial, acrescentando à tríade ainda outro norteador: o princípio da nãomaleficência.
Ainda que não constituidores de um complexo de ética
normativa, impossibilidade clara que advém do caráter não impositivo que lhes é
característico, o sistema principiológico da bioética orienta médicos e pacientes
ao exercício de uma relação sob mútuo respeito, de modo que se mostram
extraordinariamente eficazes na dissipação de conflitos, como por exemplo,
aqueles que se instauram quando pacientes recusam tratamento médico.
Os direitos de recusa do paciente pugnam, no entanto,
minucioso e individual estudo dos princípios bioéticos, tal qual o disposto a seguir.
2.2.1 Princípio da autonomia
O direito do paciente em optar, aceitar e, inclusive, não
acatar prescrição médica que impute inconveniente tem por base, frente à
bioética e ao biodireito, o princípio da autonomia, que, arraigado ao ideal de
respeito à pessoa, refere-se ao direito individual de autodeterminação do
paciente, que o exerce na constância de seus valores morais, sendo, portanto,
corolário do direito fundamental à liberdade.
É por Marco Segre definido como
[...] a capacidade de auto-governo, uma qualidade inerente a
seres racionais que lhes permite escolher e atuar de forma
pensada, partindo de uma apreciação pessoal das futuras
possibilidades, avaliadas em função de seus próprios sistemas de
valores. “Sob este ponto de vista, a autonomia é uma qualidade
que emana da capacidade dos seres humanos de pensar, sentir e
emitir juízos sobre o que considera bom” (1991, p. 1).
40
Prudente mencionar, contudo, que o mero reconhecimento
de um ser humano como autônomo não significa assegurar-lhe o direito de agir
em conformidade a seus padrões morais, fim unicamente atingível quando, mais
que simplesmente reconhecida, sua autonomia for respeitada, como bem
sustentam Tom L. Beauchamp e James Childress:
Ser autônomo não é a mesma coisa que ser respeitado como um
agente autônomo. Respeitar um agente autônomo é, no mínimo,
reconhecer o direito dessa pessoa de ter suas opiniões, fazer
suas escolhas e agir com base em valores e crenças pessoais.
Esse respeito envolve ação respeitosa, e não meramente uma
atitude respeitosa. [...] Nessa concepção, o respeito pela
autonomia implica tratar as pessoas de forma a capacitá-las a
agir autonomamente, enquanto o desrespeito envolve atitudes e
ações que ignoram, insultam ou degradam a autonomia dos
outros e, portanto, negam uma igualdade mínima entre as
pessoas (2002, p. 142-143).
O
respeito
à
autonomia
do
paciente
mostra-se
especialmente necessário quando em situações conflituosas, tal qual a negativa
do doente em submeter-se a determinada prescrição médica. Isto porque não
obstante faça o enfermo constar sua recusa, ao fim e em razão de sua
hipossuficiência, é ao profissional da saúde que caberá a proteção, ou não, da
vontade manifestada, que só será honrada pelo médico – ainda que dela não
compartilhe -, se, juntamente ao reconhecimento da autonomia, demonstrar
profundo respeito por ela, não impedindo, tampouco desconsiderando, a tomada
de decisão do paciente.
E deste modo lecionam Diana Serrano LaVertu e Ana María
Linares:
[...] una cosa es ser autónomo como persona y outra ser respetado
como tal. Muchos de los problemas éticos que surgen en la
práctica tienen por origen una falta de respecto por esa autonomía,
ya sea porque no se obtiene el consentimiento libre y con
conocimiento de causa, porque se produce una intromición
indebida en la vida del sujeto o porque se viola el carácter privado
de la información médica relativa a este. Respetar la autonomia de
un individuo es reconecer sus capacidades y perspectivas,
41
incluindo su derecho a tener determinadas ideas y a tomar
determinadas decisiones. Es, además, no obstaculizar sus
acciones y decisiones, a menos que atenten claramente contra
otras personas (1990, p. 110 [Grifou-se.])18.
Complementa José Roberto Goldim:
Uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre
seus objetivos pessoais e de agir na direção desta deliberação.
Respeitar a autonomia é valorizar a consideração sobre as
opiniões e escolhas, evitando, da mesma forma, a obstrução de
suas ações, a menos que elas sejam claramente prejudiciais para
outras pessoas. Demonstrar falta de respeito para com um agente
autônomo é desconsiderar seus julgamentos, negar ao indivíduo a
liberdade de agir com base em seus julgamentos, ou omitir
informações necessárias para que possa ser feito um julgamento,
quando não há razões convincentes para fazer isto (on line, 2004).
Ao destacar o porquê de respeitar uma decisão autônoma
dos enfermos, Paulo Antonio de Carvalho Fortes argumenta que “o corpo, a dor, o
sofrimento, a doença, são da própria pessoa e que violar a autonomia significa
tratar as pessoas como meio e não como fim em si mesmas” (1998, p. 40),
infligindo-as além do mal físico, o sofrimento moral da incapacidade e do
desrespeito.
O respeito à autonomia do paciente significa, num primeiro
momento, que a administração de qualquer procedimento [médico] sobre ele deva
vir, impreterivelmente, precedida da solicitação de seu consentimento – ou não
consentimento –, o qual, ainda que divergente da orientação médica, deve ser
acatado e mantido incólume de quaisquer possíveis coações, dentre as quais o
paternalismo médico.
18
Na tradução livre da autora: “uma coisa é ser autônomo como pessoa, outra é ser respeitado
como tal. Muitos dos problemas éticos que surgem na prática têm por origem uma falta de respeito
por essa autonomia, seja porque não se obtém o consentimento livre e com conhecimento de
causa, seja porque se produz uma intromissão indevida na vida da pessoa, ou porque se viola o
caráter privado da informação médica relativa ao mesmo. Respeitar a autonomia do indivíduo PE
reconhecer suas capacidades e perspectivas, incluindo seu direito a ter determinadas ideais e
tomar determinadas decisões. É, além disso, não obstaculizar suas ações e decisões, a menos
que atentem claramente contra outras pessoas.
42
Há de se destacar, por oportuno, não se tratar de autonomia
desmedida e inconseqüente. Ela tem por pressuposto de validade que o
consentimento (ou não consentimento) ofertado pelo paciente seja antecedido de
ampla informação acerca da terapêutica, que o habilite tecnicamente a exarar sua
decisão ciente das conseqüências que dela advirão.
Trata-se, pois, de requisito indissociável da autonomia, que
só poderá ser exercida e, porventura, validamente respeitada, quando
acompanhada de esclarecimento suficiente a orientar o paciente na tomada de
decisões.
Tem-se, portanto, o conhecido por (não)consentimento
esclarecido, entendido como o direito do paciente decidir
após ter recebido a informação do médico e ter esclarecidas as
perspectivas da terapia [...]. Estas informações devem ser prévias,
completas e em linguagem acessível, ou seja, em termos que
sejam compreensíveis para o paciente, sobre o tratamento, a
terapia empregada, os resultados esperados, o risco e o
sofrimento a que possa se submeter o paciente [...] (BORGES,
2001, p. 294)
Ressalta-se, ainda, o entendimento de Silvio Romero Beltrão,
que associando à autonomia o dever de prestar esclarecimento, leciona:
O propósito da obrigação de prestar informações e esclarecer o
paciente é dotá-lo de autonomia para poder tomar decisões com
relação aos assuntos de saúde e seu tratamento de forma
consciente. Assim, para que o consentimento e a recusa sejam
válidos, ele deve ser baseado na compreensão da situação que se
apresenta e deve ser voluntário, pois esse direito está baseado no
princípio do respeito à autonomia (2005, p. 115).
Os
ideais
de
autonomia
são
hoje
fortificados
por
significativas Declarações Internacionais, que, contribuindo para uma melhor e
aperfeiçoada prática médica, instam não só a grupos de pesquisas, mas também
à classe médica assistencial, a necessidade de se auferir o consentimento do
paciente, que inobstante fisicamente enfermo, mantém-se qual titular de seu
43
direito de manifestar seus mais íntimos valores e sentimentos éticos e neles
basear a gerência de sua existência (SÁ, 1999, p. 203).
Sob este pensar, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO (2005, online), ao regular questões
éticas suscitadas pela Medicina, aclamou frente à comunidade internacional a
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que, dentre outros
objetivos, visa “contribuir para o respeito pela dignidade humana e proteger os
direitos humanos, garantindo respeito pela vida dos seres humanos e as
liberdades fundamentais [...]” (artigo 2º, alínea c).
Prosseguindo, ao fixar princípios a serem respeitados
quando da adoção de quaisquer práticas relativas ao paciente, consolidou:
Artigo 5º. Autonomia e responsabilidade individual:
A autonomia das pessoas no que respeita à tomada de decisões,
desde que assumam a respectiva responsabilidade e respeitem a
autonomia dos outros, deve ser respeitada. No caso de pessoas
incapazes de exercer a sua autonomia, devem ser tomadas
medidas especiais para proteger os seus direitos e interesses.
A possibilidade de insurgência a tratamentos médicos,
atendida a exigência de que o (não)consentimento esteja fundado em adequado
esclarecimento, é também destaque da Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde, editada pelo Ministério da Saúde:
O QUARTO PRINCÍPIO assegura ao cidadão o atendimento que
respeite os valores e direitos do paciente, visando a preservar sua
cidadania durante o tratamento.
O respeito à cidadania no Sistema de Saúde deve ainda observar
os seguintes direitos:
[...]
V. Consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e
esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer
procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se
isso acarretar risco à saúde pública. O consentimento ou a recusa
44
dados anteriormente poderão ser revogados a qualquer instante,
por decisão livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas
sanções morais, administrativas ou legais.
Verifica-se, em primeira conclusão, que uma vez maior,
capaz, em estado de lucidez e ciente dos malefícios e benefícios conseqüentes
da terapia proposta, caberá unicamente ao enfermo decidir se irá submeter-se ao
tratamento, ou, se já iniciado o procedimento, se continuará com ele (BORGES,
2001, p. 294), inexistindo qualquer legitimidade de médicos, parentes e inclusive
do Poder Judiciário para questionar-lhe sua volição.
Contudo, a regra da obrigatoriedade de se buscar o
consentimento do paciente, projeção da autonomia que lhe pertence, mostra-se
em determinadas situações de impossível alcance. É o caso de quando ele, ao
adentrar à unidade médica, se apresenta em estado de inconsciência, sem
condições de se manifestar.
A incapacidade temporária do paciente que em estado
inconsciente não se mostra apto à tomada de decisão gera imensa contrariedade
no âmbito médico e jurídico, pois, ao passo que parcela da doutrina defende que
neste caso estaria isento o médico de tomar qualquer consentimento, e, portanto,
autorizado a proceder à intervenção terapêutica – justificativa fundada na não
configuração de constrangimento ilegal, consoante artigo 146, §1º, I, do Código
Penal; outra parcela alega que, sob estas circunstâncias, prudente seria que “um
substituto legal escolhe[sse] o que o paciente elegeria se fosse competente e
estivesse a par das opções médicas, de sua situação clínica real e, inclusive, que
estaria incompetente” (KIPPER apud DEL CLARO; ANDRADE, 1999, p. 20).
Acerca da celeuma, Genival Veloso de França sustenta que
“se o paciente não pode falar por si ou é incapaz de entender o ato que se
pretende executar, estará o médico na obrigação de conseguir o consentimento
de seus representantes legais” (2000, p. 77).
É, contudo, em muito temerária a escolha de procurador que
responda em sua completude pela volição do enfermo, pelo simples fato de que
45
às vezes ele pode não representar os melhores interesses do inconsciente,
manifestando vontade diversa da que este faria se em sã consciência se
encontrasse.
Visando abrandar possíveis discordâncias neste sentido,
Marco Segre defende prudente a portabilidade, por parte do doente, de
documento que ateste o (não)consentimento prévio do indivíduo, circunstância em
que, mesmo momentaneamente incapacitado de manifestar-se, teria o enfermo
direito de preservar sua vontade.
Leciona referido autor:
Mesmo em caso de choque, coma, ou outro impedimento à
expressão da vontade do paciente, desde que esta (vontade)
tenha sido anteriormente documentada, somos da opinião de que
o médico não deve afrontá-la ainda que o Código de Ética Médica
vigente lhe propicie a faculdade de intervir, em situações de
iminente perigo de vida (1991, p. 2).
É também o que propõem Tom L. Beauchamp e James
Childress:
Num procedimento cada vez mais popular, fundamentado mais na
autonomia que na não-maleficência, uma pessoa, enquanto
capaz, escreve instruções para os profissionais de saúde ou
escolhe um responsável para tomar decisões sobre tratamentos
de suporte de vida durante períodos de incapacidade. As suas
ações são exercícios apropriados de autonomia. (2002, p. 269270).
Têm-se, sob tal perspectiva, duas alternativas para que o
paciente resguarde ao máximo a expressão de sua vontade, especialmente para
quando atingido por temporária incapacidade: os chamados living wills, diretrizes
específicas sobre alguns tratamentos médicos que devem ser ministrados ou
omitidos frente a determinadas situações; e, também, as durable power of
46
attorney – DPA, procurações duráveis19 em que o paciente elege um procurador
legal de sua confiança, que estará legitimado à tomada de decisões.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em pronunciamento
acerca da validade de manifestação volitiva prévia do paciente, sustenta que
todo ser humano tem o direito fundamental de aceitar ou não um
tratamento ou ato médico. É o que longamente já se demonstrou.
Essa manifestação de vontade pode ter lugar no momento em
que o ato ou tratamento lhe é receitado, ou previamente por meio
de documento que preencha os requisitos da lei civil para a
validade dos atos jurídicos em geral [...] (1994, p. 27).
Não se olvida que a existência de diretrizes antecipadas por
parte do enfermo nem sempre se mostra satisfatória, tanto mais quando
genericamente preenchidas ou não constantemente atualizadas, razões pela
quais não raramente têm seu conteúdo questionado. Todavia, ainda mostram-se
a mais segura via de aproximação do que pretenderia o paciente se consciente
estivesse, motivo suficiente para que, se existentes, sejam observadas o mais
estritamente possível.
Inexistindo, porém, diretrizes antecipadas, faz-se mister a
nomeação de decisor substituto, pessoa preferencialmente íntima do enfermo e
que, dentre outras qualidades, seja hábil a julgamentos sensatos; possua
esclarecimentos suficientes sobre a saúde do incapaz, bem como a respeito das
terapêuticas de provável cabimento; encontre-se emocionalmente estável e,
acima de quaisquer outras prerrogativas, que caminhe em defesa dos melhores
interesses do paciente.
É nesta última categoria de exigibilidade que reside,
indubitavelmente, a maior discordância quanto a quem estaria legitimado a
resguardar os interesses do incapaz. Isto porque, ainda que dentre a classe de
decisores substitutos Tom Beauchamp e J. Childress enunciem familiares,
médicos, comitês institucionais e tribunais (2002, p. 273), bem se sabe estarem
19
Assim denominadas porque, “diferentemente do poder usual conferido ao procurador, neste
caso ele continua em vigor caso o signatários do documento se torne incapaz” (BEAUCHAMP;
CHILDRESS, 2002, p. 270).
47
os três últimos apartados das reais convicções de foro íntimo do incapaz, de
modo que a destreza da decisão exarada estaria adstrita unicamente aos
aspectos técnicos e físicos da questão, que, não obstante de suma importância,
não se mostram únicos a expressar quais os reais interesses do enfermo,
tampouco necessariamente guardariam relação à resolução que teria ele
preferido.
Quanto ao dito, Maria Theresa de Medeiros Pacheco, em
comentários a caso clínico encaminhado pelo Conselho Federal de Medicina à
seção para análise, defende que
as decisões de tratamento de saúde envolvem muito mais do que
preocupações meramente médicas. Quanto a decisões sobre o
que deve ser feito com referência ao corpo de uma pessoa, é o
paciente, e não a opinião pública, a classe médica, ou algum juiz,
que deve tomar a decisão altamente subjetiva, baseada em
valores morais, sobre qual a forma de tratamento "melhor" ou
"certa". Ao tomar decisões sobre tratamentos de saúde, não deve
haver dúvida de que são os valores do paciente que devem
determinar quais os riscos e benefícios que valem a pena ser
tomados (on line).
Infere-se, pois, que os valores morais do paciente que o
conduziriam à manifestação volitiva se cônscio estivesse, devem igualmente
pautar a decisória adotada por quem o substitui, o que será de mais fácil alcance
quando este for pessoa próxima do enfermo, hábil em discernir e exprimir os
mais íntimos valores dele.
Não se pode esquecer que o “direito básico à autonomia
sobre o próprio corpo não se evapora com a perda da consciência do paciente”,
de modo que não perde ele, sob tais circunstâncias, o direito de “determinar o
curso de seu tratamento médico, conforme seus valores e objetivos [...] se
previamente indicou, na posse de suas faculdades mentais, o tratamento
desejado”, ou se há dentre os prováveis decisores substitutos, pessoa cujas
escolhas transpareçam o desejo do enfermo (DEL CLARO; ANDRADE, 1999, p.
18-19).
48
O princípio da autonomia e a imprescindibilidade de
obtenção do consentimento do paciente têm por amparo frente à legislação pátria
o disposto no artigo 15, do Código Civil de 2002, que prevê:
Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com
risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Verifica-se, portanto, ser de pleno direito do enfermo opor-se
a qualquer procedimento médico, especialmente quando, junto aos possíveis
benefícios, possa a intervenção causar-lhe prejuízo.
Também em aproximação ao reconhecimento da autonomia
do paciente, o atual Código de Ética Médica, ao longo de seus 145 artigos, deixa
assente o dever de respeito à individualidade do paciente.
Contudo e a despeito do ideal autonomista, apresenta em
alguns de seus dispositivos concessões em que o médico, ao deparar-se com
caso em que o paciente esteja em iminente risco de vida, poderá submetê-lo às
terapias que julgue necessárias à salvação, sendo prescindível, in casu, a
obtenção de consentimento do enfermo.
São, a exemplo, ditames do Código de Ética Médica:
É vedado ao médico:
Artigo 46. Efetuar qualquer procedimento médico sem o
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu
responsável legal, salvo em iminente perigo de vida;
[...]
Artigo 56. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente
sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo
em iminente perigo de vida [Grifou-se.].
Trata-se de momento, nas palavras de Paulo Antonio de
Carvalho Fortes, em que “contrapondo-se à autonomia do indivíduo, os
profissionais da saúde são guiados pelos princípios éticos da beneficência e da
não-maleficência” (2000, p. 43), a seguir definidos.
49
2.2.2 Princípios da Beneficência e Não-maleficência
Alicerces ao exercício da Medicina, o princípio da
beneficência impõe à classe médica o dever de agir em favor do bem-estar e
benefício do paciente, ao passo que a não-maleficência “é o princípio segundo o
qual não devemos infligir mal ou dano a outros” (BEAUCHAMP, 2002, p. 45).
É sob tais perspectivas que se justifica, à luz do Código de
Ética Médica, a intervenção terapêutica ainda que sem autorização do paciente,
quando sob iminente risco de vida estiver ele, nos termos dos já citados artigos 46
e 56 do Código de Ética Médica e, ainda, do artigo 146, §1º, I do Código Penal.
Há, todavia, ponderações a serem tecidas, sobretudo no
respeitante à legalidade das supracitadas disposições dentológicas.
Em análise minuciosa às concessões aduzidas pelo Código
de Ética Médica, especialmente àquela constante em seu artigo 46, Marco Segre
sustenta que elas “não deve[m] ser interpretada[s] como recomendação ao
médico para que intervenha sobre o paciente, contrariamente à sua vontade,
conforme muitos profissionais querem crer” (1991, p. 2).
Trata-se, a bem da verdade, de abertura do código médico a
ser interpretada restritiva e sensatamente. E assim se afirma, pois, não obstante
permitido esteja o profissional da saúde a proceder ao tratamento sem perquirir o
consentimento do enfermo, não está ele autorizado a contrariar a vontade do
paciente se este, mesmo não indagado, porém consciente, manifesta-se
contrariamente à terapia, momento em que não mais se configura o dito
consentimento presumido20.
Igualmente
desconfigurada
estaria
a
presunção
de
consentimento se o enfermo, ainda que inconsciente e sob estado emergencial de
perigo de vida, tivesse procedido à feitura de documento de diretrizes antecipadas
20
Aquele pelo qual “supõe-se que a pessoa, se estivesse de posse de sua real autonomia e
capacidade, se manifestaria favorável às tentativas de resolver causas e/ou conseqüências de
suas condições de saúde” (FORTES, 1998, p. 54).
50
enquanto consciente, no qual exarasse, prévia e validamente, sua volição, que,
sob estas circunstâncias, deverá ser respeitada.
Vai além Celso Ribeiro Bastos quando, em comentários aos
artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica que sobrepõem aos direitos do
paciente as obrigações médicas, sustenta que
a interpretação conferida comumente aos casos de risco de vida
está equivocada e fere [...] os princípios constitucionais básicos.
Não há amparo legal ou constitucional para impor-se a alguém
(capaz e consciente) determinado tratamento médico (2000, p.
29).
Idêntico entendimento é o esboçado por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho:
É verdade que o art. 46 parece permitir ao médico desobedecer à
vontade do paciente ou de seu representante legal, quando
ocorrer “perigo de vida”.
[...]
Assim, numa interpretação literal, havendo perigo de vida –
apreciação subjetiva do médico -, este poderia fazer com o
paciente e para o paciente o que bem lhe parecesse. O que
equivaleria a dizer que, em face do perigo de vida, o paciente
perde o direito fundamentai à liberdade [...] para se tornar um
escravo do médico.
Evidentemente, essa interpretação literal é absurda. E
juridicamente é inconstitucional o preceito que enuncia, na medida
em que contraria os direitos fundamentais consagrados na Carta
de 1988 no art. 5.º [...]. Portanto, é ele nulo e de nenhum valor.
(1994, p. 25-26, [Grifos no original.]).
Ressalta-se, pois, que ainda que sob real iminente perigo de
vida estivesse o paciente, tal situação não se mostraria suficiente a apartá-lo do
exercício de sua autonomia, uma vez que “estar doente não é obrigatoriamente
sinônimo de ser incapaz”, de modo que “não tem o médico, em nome da
obediência ao tratamento, o direito de tirar do doente sua autonomia de vontade”
(SÁ, 1999, p. 95-96).
51
Corrobora, a título exemplificativo, a Lei n. 9.434 de 1997,
que ao regular a utilização de órgãos e partes do corpo humano para fins de
transplantes, determinou indispensável a aquiescência do receptor para
realização do procedimento (artigo 10º), não preterindo o consentir do paciente
ainda que sob risco estivesse sua vida, situação bastaste usual quando em
questão órgãos de incomparável vitalidade. Vê-se, sob este dispositivo,
verdadeira deferência à autonomia do enfermo, pois lhe confere o direito de
decisão estando sob risco de vida ou não.
Ora, não bastasse a ilegalidade constante dos artigos 46 e
56 do Código Médico Deontológico preconizada por Celso Ribeiro Bastos e
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, há ainda outros motivos que demonstram o
porquê da excessiva temeridade de se autorizar intervenções médicas
desacompanhadas de consentimento do enfermo.
Em não raras vezes, a dispensa de consentimento em razão
da circunstância de risco a que provavelmente encontra-se o paciente – análise
subjetiva do profissional de saúde, como bem destacado por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho – visa à manutenção da conduta paternalista introduzida por
Hipócrates.
Isto porque a abertura de precedente tal quais os constantes
nos artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica permitem que a alegação de
“iminente perigo de vida” – ainda que constitucionalmente não justificável para
invalidar a liberdade do enfermo, como no próximo capítulo se verá –, seja
utilizada por muitos profissionais como subterfúgio à livre iniciativa médica, de
modo a afastar qualquer insurgência ou pleito informacional por parte do enfermo.
Valer-se desta abertura legal, cumpre salientar, mostra-se
reprovável pelo próprio Código de Ética Médica que, em seu artigo 48, veda ao
médico o exercício de sua autoridade de maneira a limitar o poder decisório do
enfermo.
52
Ademais, o que efetivamente configura o quadro clínico de
iminente perigo de vida, capaz de, nos termos do Código de Ética Médica,
invalidar manifestação volitiva do enfermo?
Em não raros momentos, a dita situação de urgência
aventada resume-se a quadro clínico superável, comumente passível de
diferentes alternativas terapêuticas às quais talvez não se opusesse o enfermo.
Contudo e como já explanado por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, trata-se de proposição de extrema subjetividade, bastando que o
médico a alegue para que, por fim, tenha sob seu controle toda e qualquer
decisão inerente ao enfermo e à terapêutica, razão pela qual determinados
quadros clínicos, ainda que não tão graves, passam a ser qualificados como de
alto risco.
A inexistência de padrões confiáveis acerca de como e
quando estaria o paciente sob iminente perigo de vida é facilmente verificável
quando observadas as divergentes opiniões manifestadas por membros da
própria classe médica quanto ao que configuraria, ou não, risco de vida em
determinadas situações.
Tome-se, a título exemplificativo, a objeção de pacientes
Testemunhas de Jeová no respeitante à terapia transfusional de sangue.
Constantemente,
são
eles
submetidos
a
transfusões
sanguíneas contrariamente à sua manifestação volitiva, sob o argumento de
estarem sob iminente risco de vida.
Contudo, a falta de cientificidade que permeia tratamentos a
base de hemoderivados torna de difícil constatação o que realmente configuraria
risco de vida que justificasse transfundir o paciente sem seu consentimento, nos
moldes dos artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica. Isto porque os próprios
profissionais da saúde mostram-se discordantes quando em questão indicações
transfusionais, uma vez que “o que para um determinado médico haveria uma
53
indicação precisa e única de reposição sanguínea pode não ser a opinião de um
outro” (2000, Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba).
Por exemplo: enquanto para alguns médicos, pacientes com
hemoglobina em níveis de 10g/dL21 estariam sob iminente risco de vida, sendo
imprescindível a adoção de terapia transfusional; para outros, o risco de vida e a
indicativa do procedimento dar-se-ia tão somente quando a concentração
hemoglobínica atingisse valores inferiores a 7g/dL (FERREIRA; FERREIRA;
PELANDRÉ, 2005, online), desconfigurando o risco suscitado pelos primeiros.
Deste modo, um paciente Testemunha de Jeová sob os
cuidados de um profissional que considerasse o primeiro índice de hemoglobina
citado – 10g/dL – como mínimo, poderia ter sua autonomia e vontade
desrespeitadas sem que sequer existisse o dito iminente risco de vida.
Complementando o quadro de incertezas, se não bastasse a
inexistência de padrões científicos no tocante a estar ou não o paciente sob
estado de risco que justifique a dispensabilidade de seu consentimento, a
literatura médica mostra-se dúbia inclusive quanto à própria prescrição da terapia
transfusional, porquanto reflexo mais da prática médica consuetudinária do que
de dados científicos.
Ao sustentar incerta e desmedida a medicina transfusional,
leciona Pedrazza:
Normalmente no hay ninguna razón identificable para la
transfusión. Pero la mayoría actúa con la premisa “en caso de
duda, transfundamos”.
[...] Pero hay muchas UCIs en que las enfermeras sacan sangre
solamente porque es fácil hacerlo (2004, p. 29)22.
A este respeito, informou o Conselho Federal de Medicina
que
21
22
Dez gramas de hemoglobina por decilitro - um décimo de um litro - de sangue.
Em tradução livre: Normalmente, não há nenhuma razão clara para a transfusão. Mas a maioria
atua com a premissa “em caso de dúvidas, transfundimos”. [...] Porém, existem muitas UTIs nas
quais as enfermeiras tiram sangue só porque é um procedimento fácil.
54
“[...] o uso de hemoderivados difundiu-se de forma espetacular, a
tal ponto que hoje existem estudos comprovando que cerca de
50% das transfusões realizadas são de indicação duvidosa e
desnecessária. Dentre as possíveis explicações para tão elevada
incidência de transfusões com indicação incorreta encontra-se a
deficiência de conhecimento técnico sobre o assunto e a facilidade
e aparente inocuidade do processo” (1989, online).
O exemplo analisado denuncia que inúmeras prescrições
médicas, dentre as quais as transfusões sanguíneas, são impostas ao enfermo
independentemente de seu consentimento e contra sua vontade, mesmo que não
comprovadas a ocorrência de iminente perigo de vida – situação a que alude o
Código de Ética Médica -, nem tampouco a cientificidade da prescrição
terapêutica; tolhendo-se a autonomia do paciente quando, a bem da verdade, seu
real quadro clínico o permitiria exercê-la.
Há de se fazer citar, ainda, que muitas vezes as
intervenções médicas impostas ao enfermo mostram-se de igual - senão quando
maior - risco às outras terapêuticas substitutas, ou, inclusive, ao não tratamento,
situação em que sequer o argumento de atuação atrelada ao princípio da
beneficência mostrar-se-ia plausível.
Faz-se de prudente análise, novamente para exemplo, os
casos envoltos às transfusões sanguíneas.
Inobstante carecedoras de cientificidade, como acima
postado, são tidas em grande estima pela classe médica, que as prescreve sob
veemente alegação de inexistirem outros meios23 tão eficientes quanto este à
salvaguardar a vida do paciente.
23
Consigna Celso Ribeiro Bastos: “A transfusão de sangue não é o único meio de que pode se
valer o médico para salvar a vida ou a saúde de um adulto ou de uma criança. Há sim outros
tratamentos alternativos – desenvolvidos e utilizados por médicos alopatas, e não por sectários de
uma religião específica – que atingem o meso resultado. São eles: s expansores de volume do
plasma, os fatores de crescimento hematopoiéticos, a recuperação intra-operatória do sangue no
campo cirúrgico, a hemostasia meticulosa, etc. O fato de se ter mais de um tratamento em
substituição à transfusão de sangue já nos leva a concluir que este procedimento não é o único
modo de salvar a vida do paciente. Pode-se, portanto, prescindir dele por outras foras alternativas
de tratamento” (2000, p. 5, nota).
55
Ocorre que, repleta de riscos, a terapia transfusional pode
apresentar drásticas complicações a se manifestarem não só imediatamente após
a inserção sanguínea - bastante comum nos casos de incompatibilidade de grupo
-, como também tardar meses ou anos para se manifestarem, tal qual ocorre com
as infecções virais e bacterianas.
Somam-se a estes males o dano pulmonar agudo, o choque
anafilático (VILLARROEL, 2004, p. 9-15) e, ainda, o fato de que “as pessoas que
recebem transfusões sanguíneas têm mais probabilidade de sofrer um derrame
cerebral e um ataque cardíaco” (ESTADÃO, 2007, online).
Em estudo comparativo realizado no Hospital Universitário
da Universidade Federal de Santa Catarina, concluiu-se que pacientes não
transfundidos contam com menor índice de mortalidade quando comparados aos
transfundidos, demonstrando, assim, que a submissão forçada de pacientes a
tratamento hemoterapico, não bastasse contrário à sua vontade, o impõe ainda
maior risco de vida:
Baixos níveis de hemoglobina foram responsáveis pela maioria de
[concentrado de hemácias] transfundidas (58%).
[...]
[Entretanto], houve maior percentual de mortalidade entre os
pacientes transfundidos (38%), quando comparados aos não
transfundidos (24%)” (FERREIRA; FERREIRA; PELANDRÉ, 2005,
online).
Verifica-se, assim, que este divulgado procedimento médico
não possui o caráter salvatério que lhe é habitualmente atribuído e que faz com
que, mesmo à revelia do paciente, seja empregado indiscriminadamente.
Ora, uma vez existindo riscos – quer ínfimos quer
expressivos quando comparados à probabilidade de sucesso -, na intervenção
pretendida pela classe médica, é impreterível que a par dos mesmos esteja o
enfermo, cabendo exclusivamente a ele decidir submeter-se, ou não, à
56
terapêutica médica, sendo inquestionavelmente válida a recusa, pelo motivo a
seguir enunciado por Donald T. Ridley:
[...] a questão não é que riscos devem ser escolhidos, mas quem
deve fazer a escolha do risco. Quem deve dizer o que é certo ou é
o melhor para determinado paciente quando há riscos, não
importa que escolha seja feita?
[...]
Num assunto tão subjetivo e de tanto valor como é a escolha de
tratamento médico, são os valores e as preferências da família ou
o paciente individual, e não os de algum médico, hospital, ou Juiz,
que devem prevalecer (1990, p. 4).
É especialmente a estas circunstâncias que se presta o
Código Civil em seu artigo 15º, que determina que, uma vez presentes riscos
também na terapia que se pretende aplicar ao paciente, é imprescindível que a
escolha de submeter-se ou não a ela seja unicamente do enfermo.
A
inexatidão
do
alegado
iminente
perigo
de
vida
constantemente verificado quando da prescrição de transfusões sanguíneas fazse também presente frente à inúmeras outras enfermidades, de modo que a
dispensa de consentimento do paciente sob esta afirmativa não há de ser
interpretada em sua literalidade, por três principais razões já vistas: em razão da
inconstitucionalidade que a permeia, tal qual defendido por Ferreira Filho e Celso
Ribeiro Bastos; porque propícia a ensejar o uso indiscriminado da expressão com
objetivo único de aniquilar a tomada de consentimento do paciente, subentendo-o
forçosamente à terapias às quais não consente, e, ainda, porque tais terapêuticas
podem lhe ofertar ainda maior risco, tal qual no exemplo consignado.
Posicionamentos contrários ao poder decisório de pacientes
informados e aptos a consentir e tentativas descabidas de lhes tolher a autonomia
significam, a bem da verdade, desrespeitar sua alteridade, não o reconhecendo
como livre pelo simples fato de que suas decisões são consideradas por maior
parte da classe médica como erradas e irracionais (ENGELHARDT, 1996, p. 369).
57
Há de se ter mente, contudo, que o ideal de beneficência em
que pretendem muitos justificar a dispensabilidade de condescendência do
paciente, à luz da realidade, transpõe a promoção do bem físico do indivíduo, haja
vista tratar-se da “obrigação de ajudar outras pessoas promovendo seus
interesses legítimos e importantes” (BEAUCHAMP, 2002, p. 282), dentre os quais
se incluem valores morais e espirituais que, ao enfermo, não raramente se
igualam ou superam, em significância, sua existência biológica.
2.2.3 Princípio da Justiça
Correlato ao ideal de igualdade, tem por pressuposto “trata[r]
todas as pessoas como iguais no que diz respeito à sua essência como pessoas,
mas diferentes quando se consideram as circunstâncias em que estas se
encontram, os seus méritos, as condições existenciais [...]” (SAUWEN;
HRYNIEWICZ, 2008, p. 18).
Uma vez evidente que não só a vida em sua acepção
biológica há de ser resguardada, por nem sempre exclusivamente a ela se
restringirem os mais importantes interesses do homem - questão a ser
futuramente abordada; urge reconhecer que mais do que empenhar-se em
promover a beneficência - pela simples razão de que a ação benéfica de um não
necessariamente correlacionar-se-á com o bem esperado por outrem -, mostra-se
prudente a adoção de ações que mantenham incólume não só a vida física do
indivíduo, mas também seus valores intrínsecos que a tornam una.
O princípio da justiça, ponto de comedimento entre
constantes confrontos entre o direito à autonomia e o dever do médico de prestar
assistência, torna manifesta a urgência de que normas jurídicas no âmbito do
biodireito sejam produzidas, evitando-se tanto excessos liberais quanto arbitrárias
e invasivas intervenções médicas.
Outrossim, não se pretende mediante os princípios alistados
obrigar que médicos adotem condutas de respeitoso acato à vontade do enfermo,
58
até porque irreal mostrar-se-ia esta pretensão, haja vista a inexistência de caráter
impositivo do conteúdo principiológico.
Os direitos do paciente, contudo, superam os limites da
bioética e são, acima de quaisquer outros, valores de ordem fundamental da vida
humana. São, em toda sua essência, amparados por princípios e direitos
constitucionais que os resguardam sob o mais protetivo rol de direitos: os
fundamentais da pessoa humana.
59
CAPÍTULO 3
OS DIREITOS DO PACIENTE E A ESCOLHA DE TRATAMENTO
MÉDICO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Os direitos do paciente em recusar ou simplesmente optar
por tratamentos distintos daqueles a ele comumente ofertados invocam a análise
dos mais importantes direitos humanos fundamentais: liberdade, e, acima de tudo,
o direito à vida.
As
incessantes
polemizações
envoltas
às
recusas
terapêuticas as taxam de ações impensadas e em não raras vezes são
entendidas como desprezo ao supremo e inviolável direito à vida frente à
liberdade individual de autodeterminação.
Ignora-se, contudo, que a temática em muito transcende o
duo vida e liberdade em seus sentidos estritos, fazendo-se mister que se tragam à
baila outros aspectos acerca destes direitos que, inobstante de maior
profundidade, são vilipendiados e tomados a parte do bem maior que lhes é
comum: a dignidade da pessoa humana.
O direito de recusa a procedimentos médicos determinados
é garantia Constitucional, em toda sua esfera dimensional, tal qual se
demonstrará.
3.1 DIREITO À LIBERDADE INDIVIDUAL
A liberdade humana, direito fundamental assentado logo ao
caput do artigo 5º da Carta Constitucional, guarda em si as mais amplas acepções
e vertentes, mostrando-se, sem embargos, o mais abrangente e polêmico direito
constitucional.
60
A despeito das inúmeras definições propostas, o direito à
liberdade é por José Afonso da Silva delineado como “um poder de atuação do
homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade”, haja vista
consistir “na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à
realização da felicidade pessoal” (2000, p. 237).
Expressão vívida do Estado democrático de direito, é dele
que advém a autonomia da vontade – direito de autodeterminação – a cada um
assegurada, no qual se consubstancia o direito do paciente em, ponderando o
que lhe é propício à efetivação de sua felicidade, decidir per se os procedimentos
terapêuticos que aceita, ou não.
Conferindo à liberdade significativa importância, sobretudo
no respeitante à autonomia dela resultante, Luciano Parejo Alfonso sustenta que
La clave reside, pues, en la liberdade del hombre, que le permite
justamente [...] decidir, controlar su voluntad (a partir de una
inclinación a la moralidade que le es inata) (1994, p. 295)24.
É ela, pois, a exteriorização máxima das mais intrínsecas
crenças do homem, razão pela qual é por Celso Ribeiro Bastos considerada um
“valor superior do ordenamento jurídico” (2000, p. 20).
Por idêntica deferência, Pimenta Bueno sustentava que
a liberdade não é pois exceção, é sim a regra geral, o princípio
absoluto, o Direito positivo; a proibição, a restrição, isso sim é que
são as exceções, e que por isso mesmo precisam ser provadas,
achar-se expressamente pronunciadas pela lei, e não de modo
duvidoso , sim formal, positivo; tudo o mais é sofisma (apud
SILVA, 2000, p. 239).
Percebe-se, de plano, que não obstante elevada ao status
de regra pelo ilustre jurista, não se trata a liberdade de direito absoluto, do que se
infere não poder o homem dela valer-se indiscriminadamente como justificativa,
24
Em tradução livre: “O segredo está, pois, na liberdade do homem, que lhe permite justamente
[...] decidir, controlar sua vontade (a partir de uma inclinação à moralidade que lhe é inata”.
61
por exemplo, à prática de ilicitudes, ou, ainda, à interferência na autonomia de
outrem.
Em especial por esta razão, intimamente ligada ao ideal de
liberdade, encontra-se o Princípio da Legalidade.
3.1.1 Liberdade e Legalidade
Ao preconizar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil), expõe o dispositivo Constitucional duas
importantes garantias: a liberdade de ação do indivíduo, que poderá exercê-la em
consonância aos seus ideais e, ainda, a correlação de liberdade e legalidade, da
qual se extrai que as únicas limitações àquela serão as definidas em lei.
Não era outro o sentido dado à idéia de legalidade esboçada
pela Declaração dos Direitos do Homem de 1789:
Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não
prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais do
homem não tem limites senão os que asseguram aos demais
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites
apenas podem ser determinados pela Lei.
As supracitadas disposições evidenciam, pois, que
[...] a autonomia privada não é absoluta. Em primeiro lugar, tem de
ser conciliada com o direito das outras pessoas a uma idêntica
quota de liberdade, e, além disso, com outros valores igualmente
caros ao Estado Democrático de Direito, como a autonomia
pública (democracia), a igualdade, a solidariedade, a segurança.
[...] Portanto, é inevitável que o Estado intervenha em certos
casos, restringindo a autonomia individual, seja para proteger a
liberdade dos outros, de acordo com uma “lei geral de liberdade”,
como diria Kant, seja para favorecer o bem comum e proteger a
paz jurídica da sociedade (SARMENTO,2006, p. 231).
62
Inobstante a possibilidade de vedações legais ao exercício
do direito de liberdade do homem – quer no sentido de obrigá-lo à determinada
prática, quer no de impor-lhe uma vedação –, preocupou-se o constituinte em
obstar a banalização de restrições, razão pela qual determinou que estas, quando
necessárias, devem impreterivelmente ser precedidas de lei, como bem adverte
José Afonso da Silva:
[...] a liberdade, e, qualquer de suas formas, só pode sofrer
restrições por normas jurídicas perceptivas (que impõem uma
conduta positiva) ou proibitivas (que impõem uma abstenção)
provenientes do Poder Legislativo e elaboradas segundo o
procedimento estabelecido na Constituição. Quer dizer: a
liberdade só pode ser condicionada por um sistema de legalidade
legítima (2000, p. 239).
É desta análise, pois, que se infere ter o paciente plenos
direitos de, sob suas convicções pessoais e em exercício de seu direito à
liberdade, opor-se a qualquer terapia médica que impute inconveniente, tanto
mais quando observado inexistir na legislação pátria restrições a esta autonomia
que lhe imponham o dever de submissão a determinados tratamentos médicos ou
lhe proíbam de exercício de recusa.
Ademais e como já dito, prováveis restrições impostas
mostram-se válidas tão somente quando instituídas por Lei pelo Poder Legislativo,
depois de percorridos todos os caminhos constitucionalmente imprescindíveis à
formulação normativa.
Eis o porquê Manoel Gonçalves Ferreira Filho qualifica nulos
e de nenhum valor (1994, p. 26) os artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica,
que restringem o direito à liberdade de manifestação volitiva do paciente aos
casos em que estiver ele sob iminente perigo de vida. São, pois, duas as razões:
primeiramente, advém a limitação de legislação promulgada pela própria
instituição médica, cujas elaborações normativas não se submetem ao crivo do
Poder Legislativo e, portanto, não são normas legítimas e de eficácia suficiente à
restringir direitos fundamentais (SILVA, p. 239); e, em segundo, a argumentativa
esboçada não coaduna àquelas justificáveis a limitar a liberdade individuais, quais
63
sejam: a proteção da liberdade individual de outrem, ou, então, a proteção da paz
jurídica da sociedade (SARMENTO, 2006, p. 231).
Não se olvida, contudo, não estar adstrita ao Código de
Ética Médica a autorização para que médicos, ultrapassando a liberdade
individual do paciente, submetam-no mesmo sem seu consentimento a tratamento
médico que não queira. É o caso, por exemplo, da autorização constante do artigo
146 do Código Penal Brasileiro, in verbis:
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite,
ou a fazer o que ela não manda:
[...]
§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:
I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do
paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente
perigo de vida;
[...]
Ocorre que este preceito, ainda que instituído mediante
legítimo processo legislativo – o que, teoricamente, o tornaria eficaz a limitar a
liberdade individual do paciente –, também é por muitos reputado inconstitucional,
por desconsiderar o poder sobrepujante da Constituição Federal, tal qual
defendem José Claudio Del Claro e Miguel G. C. de Andrade:
É lógico e jurídico o corolário de que [os] direitos garantidos
constitucionalmente não podem estar subordinados a nenhuma
outra normal legal. Uma vez que o Poder Legislativo é produto da
Constituição, que o Código Penal é uma promulgação do Poder
Legislativo, logo os dispositivos do Código Penal têm de ser
inferiores às garantias da Constituição. Quando há qualquer
incoerência entre os direitos fundamentais garantidos pela
Constituição e os deveres ou obrigações criados pela legislação
comum, tais como o Código Penal, os mesmos (a legislação
comum) deve curvar-se perante a maior (a Constituição).
64
[...] Assim, em vista das garantias constitucionais de liberdade [...],
não se pode sustentar que as obrigações alegadamente impostas
aos médicos pelo art. 135 (e abrangidas pela exceção da
emergência médica do art. 146, §3º) do Código Penal [...] passem
por cima dos direitos constitucionais do paciente adulto” (1999, p.
15).
Frente à seara Constitucional é, pois, indubitável tanto a
possibilidade de o paciente insurgir-se contra determina terapia médica em justa
manifestação de sua liberdade e autonomia privada, quanto a ineficácia dos
preceitos normativos do Código de Ética Médica que pretendem, sem legitimidade
para tal, restringir a liberdade individual do enfermo, tolhendo-o o direito de
gerenciamento próprio.
Em que pese evidente o direito do paciente em não se
submeter forçadamente à terapêutica que não queira, a objeção de enfermos a
determinados tratamentos médicos torna-se ainda mais contundente quando
motivada por convicção religiosa do enfermo.
É este o caso, a título exemplificativo, de pacientes
Testemunhas de Jeová que, ao passo que se insurgem contra terapias
hemotransfusionais pugnam por tratamentos substitutivos isentos de sangue já
disponíveis na medicina, e, também, de pacientes mulçumanos que recusam
transplantes de órgãos e tecidos suínos, como, por exemplo, válvulas cardíacas,
ainda
que
sejam
estas
as
únicas
disponíveis
para
transplantação
e,
conseqüentemente, para salvaguardar sua vida. Sob este enfoque, seria a recusa
igualmente válida?
3.1.2 Liberdade Religiosa
O
direito
à
liberdade
religiosa
encontra-se
inserido
juntamente aos demais direitos fundamentais no protetivo rol do artigo 5º da
CRFB/88, in verbis:
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
65
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
VI. é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
Considerada uma especialização, ou, ainda, concretização
do direito de livre manifestação de pensamento, esculpido no artigo 5º da Carta
Constitucional, em seu inciso IV (BASTOS, 2000, p. 10), a liberdade religiosa é
definida por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em termos bastantes resumitivos,
como “o direito de cada ser humano ter sua religião, por livre escolha, segui-la
livremente nos seus mandamentos, prestar, segundo estes, o seu culto à
divindade, sem ingerência, mas com apoio do Estado” (1994, p. 18).
É, ainda, ao entender de Aldir Guedes Soriano, um direito
composto, “com possibilidade de decomposição em quatro vertentes [...], a saber,
vertentes da liberdade de consciência, da liberdade de crença, da liberdade de
culto e da liberdade de organização religiosa” (2002, p. 10).
A liberdade de crença, prossegue o jurista, coaduna-se com
a faculdade de escolher ou de unir-se a uma religião (2002, p. 12), enquanto a
liberdade de consciência diz respeito à adesão de valores morais e espirituais que
podem ou não ser reflexo dum sistema religioso (BASTOS, 2000, p. 12).
É, contudo, na liberdade de culto, que busca a liberdade
religiosa sua exteriorização, tal qual sugere Celso Ribeiro Bastos:
Poder-se-ia inserir, dentro da liberdade de culto, todas as práticas
que envolvessem qualquer opção religiosa do indivíduo. Assim, as
restrições decorrentes da invocação religiosa estariam,
igualmente, albergadas sob este título, sendo certo que, não há
verdadeira liberdade de religião se não se reconhece o direito de
livremente orientar-se de acordo com as posições religiosas
estabelecidas (2000, p. 14).
66
Ora, uma vez garantindo o Constituinte que adentram à
liberdade religiosa não somente a crença em sua acepção espiritual, mas também
as ações e manifestações que dela decorrem, certo é ser ela justificativa válida à
objeção do paciente frente a determinados tratamentos médicos quando estes
ferem suas mais profundas convicções. Tanto porque, ao opor-se ao tratamento
por motivação religiosa está exercendo sua liberdade de culto, que significa pôr
em prática em sua vida diária os ensinamentos de sua fé.
Ademais, tendo-se que a liberdade religiosa é uma das
formas pela qual se explicita a liberdade em sentido amplo, frui ela das mesmas
prerrogativas conferidas à última. De modo que, se pode a pessoa valer-se de
sua liberdade [ampla] para objetar intervenção médica que não pretenda, não há
porque imaginar que em nome de uma de suas vertentes [religiosa] não poderia
fazê-lo.
Sob esta orientação, assevera Manoel Gonçalves Ferreira
Filho:
Basta a invocação do direito fundamental á liberdade – que é o
direito a autodeterminação pessoal – para justificar a recusa de
qualquer tratamento [...]. Mas ela ganha força especial quando
apoiada pela liberdade religiosa (1994, p. 24, [Grifou-se.]).
Por certo, a recusa cuja razão atrela-se à crença espiritual
do indivíduo carece ainda maior necessidade de acato, haja vista que “a opção
religiosa está tão incorporada ao substrato de ser humano que seu desrespeito
provoca idêntico desacato à dignidade da pessoa”, princípio supremo de toda a
ordem Constitucional ao qual aflui a integralidade dos direitos fundamentais
(SILVA NETO, 2008, p. 114).
Pondera ainda o jurista que submeter o enfermo à terapia
por ele recusada, forçadamente e em desconsideração a seus valores espirituais,
“poderia [...] se converter em gravame tão considerável que a própria existência
se tornaria, para el[e], absolutamente insuportável [...], ou seja, se traduziria, para
o crente, em vida sem dignidade” (2008, p. 115).
67
Corroboram Zelita da Silva Souza e Maria Isabel Dias Miorim
de Moraes:
Wreen propôs que as razões religiosas para a recusa de
tratamento são "especiais" e devem ser consideradas de modo
diferente de outras razões oferecidas por pacientes. Em harmonia
com Wreen, Orr e Genesen escrevem que o que torna especiais
os valores religiosos "é não somente o fato de que eles são
partilhados por uma comunidade, mas, o que é mais importante,
que eles são incorporados pelo indivíduo na sua pessoa. Os
valores religiosos, portanto, são mais intrínsecos do que outros
valores partilhados, porque eles tratam do próprio significado da
vida" (online).
Desta forma, mostra-se prudente a adoção do seguinte
raciocínio quando em questão, além da questão terapêutica, a consciência do
paciente:
Não se pode pensar apenas na consciência do médico. Que dizer
da do paciente? [...] Caso um médico violasse paternalisticamente
[as] convicções religiosas profundas, bem antigas, do paciente, o
resultado poderia ser trágico. O Papa João Paulo II tem
comentado que obrigar alguém a violar sua consciência “é o golpe
mais doloroso infligido à dignidade humana. Em certo sentido, é
pior do que infligir a morte física, ou matar” (Despertai!, 1989, p.
26-27).
Em se tratando de elementos morais e espirituais inerentes
à pessoa, descabe à classe médica ou ao Poder Judiciário questionar e julgar se
corretas ou não as convicções religiosas a que se atém o paciente, devendo tão
somente respeitá-las para que, por fim, não tenha ele sua dignidade vilipendiada.
É de se ressaltar, por oportuno, que a sustentação de ser a
recusa fundada em convicção religiosa uma razão ainda maior para que seja
acatada a vontade do enfermo – haja vista as íntimas valorações espirituais que a
agregam –, não visa invalidar as demais motivações de recusa.
E assim se afirma pois o direito à liberdade de consciência,
ainda que corolário ao direito à liberdade religiosa, não guarda com esta
68
necessária relação, de modo que pode o descrente invocá-la em razão de
motivações não religiosas mas que atinentes à sua consciência e os valores que
a permeiam. Basta, portanto, que a terapêutica ofertada lhe imponha prejuízo à
consciência – religiosa ou não –, para que sua insurgência mostre-se válida.
Ocorre que, o direito do paciente em opor-se a determinas
terapias em exercício ao seu direito de liberdade é, por muitos, tido como
atentatório à vida humana. Alegam, estes, a existência de conflito entre os
fundamentais direitos à liberdade e à vida, e, se assim não o bastasse, afirmam
que defender a autonomia do paciente bem como seu direito de recusar certas
intervenções médicas significa apologizar ideais de suicídio e eutanásia. Faz-se,
portanto, necessário o deslinde de tais assertivas.
3.2 DIREITO À VIDA
Direito pressuposto a todos os demais, razão pela qual
provavelmente o Constituinte a ele reservou a primeira posição do rol de direitos
fundamentais (artigo 5º, caput, CRFB/88), o direito a vida é, sem quaisquer
dúvidas, um dos bens jurídicos de maior grandeza de todo o ordenamento pátrio,
e, uma vez reconhecida sua superioridade (BESTER, 1999, p. 20), mostram-se
necessárias a adoção de medidas para pô-lo a salvo de possíveis violabilidades.
Não se pode olvidar, contudo, que a vida, tal como
consagrada no texto constitucional, não se restringe ao seu sentido biológico, mas
inclui também elementos psíquicos e espirituais que, tanto quanto os aspectos
físicos devem ser tomados em conta em situações de contenda e complexidade,
a exemplo da recusa de tratamentos médicos por parte de pacientes, em nome de
sua autodeterminação.
Ao destacar as incontáveis peculiaridades que compõe o
direito à vida, José Afonso da Silva sustenta que “a vida humana não é apenas
um conjunto de elementos materiais. Integram-na, outrossim, valores imateriais,
como os morais” (2000, p. 202), motivo porque a proteção constitucional
69
“compreend[ida] neste direito engloba não só o direito de permanecer vivo, mas,
sobretudo, a uma existência digna” (NOVELINO, 263). Daí se entende que o
direito à vida Constitucionalmente instituído deve ser interpretado em consonância
com o princípio da dignidade da pessoa humana.
3.2.1 O Direito à Vida: sob o enfoque da dignidade da pessoa humana
O princípio da dignidade da pessoa humana, positivação
recente do ordenamento jurídico pátrio – ainda que a tempos remotos possam ser
suas origens reconduzidas (SARLET, 2006, p. 113) – encontra-se reconhecido
como fundamento da República Federativa Nacional, como bem se infere da
seguinte disposição Constitucional:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
Pilar de toda a ordem Constitucional, a dignidade da pessoa
humana pode ser definida como
A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração
por parte do Estado e da comunidade , implicando, neste sentido,
um de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venha a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos
(2008, SARLET, p. 63).
70
É, pois, sob o enfoque da dignidade da pessoa humana que
se confere ao direito à vida maior amplitude que a mera existência biológica,
integrando neste direito valores superiores sem os quais a própria vida em seu
sentido material restaria imprestimosa.
Entender a vida em consonância ao seu ideal de dignidade
significa reconhecer que “el derecho a la vida meramente biológica de los
humanos cede ante el derecho a la buena vida, a una vida de calidad, a una vida
de bienestar profundo y duraderas satisfacciones” (GUISÁN, 1994, p. 446)25.
Mostram-se insensatas as tentativas de resguardar a vida
humana tão somente em seu aspecto físico, como se unicamente a ele se
restringisse este multifacetado direito.
Faz-se mister a contínua lembrança de que a vida tão
somente será boa na medida em que tiver valor para quem a possui (GUISÁN,
1994, p. 449), de modo que qualquer ingerência sobre a vida alheia se mostrará
legítima apenas se em consonância aos valores pessoais de seu titular. Por não
outro motivo é que à idéia de dignidade da pessoa, Hofmann acrescenta a
necessidade de se respeitar a alteridade dos outros, tratando-os conforme suas
próprias peculiaridades. Caso contrário, implantar-se-ia no âmbito médico e
jurídico não o respeito à vida digna do paciente baseado nas crenças pessoais
dele, mas sim a prevalência de certos padrões julgados morais e dignos sob o
pensar da Classe Médica ou Judiciária (FIGUEIREDO, 2007, p. 50-51).
De grande valia se mostram ainda as palavras de Simone T.
A. Nogueira, para quem a preservação à vida deve coadunar também os valores
íntimos da pessoa:
Existem, dentro do corpo de crenças e da inviolabilidade da
dignidade dos indivíduos, valores que - para certas pessoas – são
tão ou mais importantes que a própria vida. Em outros termos,
para tais pessoas provavelmente não vale a pena viver com a
ruptura de algum padrão, ou em desconformidade com um tipo de
25
Em tradução livre: “O direito à vida puramente biológica dos seres humanos cede frente ao
direito à uma vida boa, a uma vida com qualidade, a uma vida de bem estar profundo e
duradouras satisfações”.
71
crença, fundamental e transcendental. E a ninguém é dado
atropelar o livre arbítrio de outrem (evidentemente, sempre que
esse livre arbítrio exista e tenha sido desimpedidamente
enunciado, sem qualquer tipo de coação indevida), por mais
elevados que sejam seus propósitos, ou por maiores que sejam os
benefícios literais que se pretenda garantir à pessoa cuja vontade
esteja sendo desconsiderada (online).
Deste modo, uma vez em questão duas facetas da vida do
indivíduo, a saber, biológica e imaterial, não deve uma prevalecer à outra, pois
possuem idêntica proteção Constitucional e, dissociadas, não se mostram de
qualquer valor.
Em não raras vezes e em manifesta desconsideração à
dignidade do indivíduo no que atine ao aspecto imaterial de sua vida, a classe
médica, frente à recusa de pacientes em se submeterem a certas terapias,
recorre ao Poder Judiciário em busca de decisões judiciais que a autorizem a
proceder à intervenção, sob o argumento de ser necessária à proteção da vida –
e aqui ressalta-se: unicamente biológica – do paciente.
Quanto a estas comuns situações Celso Ribeiro Bastos
adverte que
qualquer intervenção estatal nesta seara – por exemplo, mandado
judicial requerido pelos médicos para transfundir sangue em
adultos, contra seu desejo, ou em filhos de testemunhas de Jeová
contra o consentimento de seus pais – deverá ser submetida a
cuidadoso escrutínio, sob pena se estar-se violando frontalmente
a dignidade da pessoa humana (2000, p. 8).
Em atenção à admoestação do jurista, mostrou-se sensato o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quando, em cautelosa análise à
pretensão do órgão Ministerial que visava autorização judicial para que fosse um
paciente submetido à determinada intervenção médica contrária a sua vontade,
ponderou:
“[...] É inegável que o objeto da irresignação recursal envolve
valores constitucionais que necessitam de avaliação prudente, sob
pena de institucionalizar-se uma relação ditatorial entre o Estado e
72
o cidadão que titulariza uma série de prerrogativas consideradas
fundamentais pela Constituição da República.
A preservação do direito à vida, por conseguinte, compõe critério
orientador do sistema normativo, e, na espécie em exame, não se
pode assumir postura radical na tutela de quaisquer destes
valores postos em discussão.
Com efeito, a vida humana é um bem jurídico que não pode ser
desprezado e é tratado como direito fundamental, mesmo porque
precede o exercício de quaisquer outros direitos, haja vista a
tutela recebida no âmbito penal.
Não há como deixar de reconhecer, em princípio, que associado a
este bem, dele deflui a dignidade da pessoa humana, um dos
valores que orientam a República (art. 1º, III).
[...]
Dentro deste contexto, é preciso considerar que a recusa do
agravante em submeter-se à transfusão de sangue é providência
legítima desde que não esteja inconsciente e possua condições
de externar juízo de valor sobre os procedimentos necessários à
conservação de sua vida.
[...]
Aparentemente, a direito à vida não se exaure somente na mera
existência biológica, sendo certo que a regra constitucional da
dignidade da pessoa humana deve ser ajustada ao aludido
preceito fundamental para encontrar-se convivência que pacifique
os interesses das partes. Resguardar o direito à vida implica,
também, em preservar os valores morais, espirituais e
psicológicos que se lhe agregam.
[...]
É necessário, portanto, que se encontre uma solução que sopese
o direito à vida e à autodeterminação que, no caso em julgamento,
abrange o direito do agravante de buscar a concretização de sua
convicção religiosa, desde que se encontre em estado de lucidez
que autorize concluir que sua recusa é legítima.
Sim, porque não há regra legal alguma que ordene à pessoa
natural a obrigação de submeter-se a tratamento clínico de
73
qualquer natureza; a opção de tratar-se com especialista
objetivando a cura ou o controle de determinada doença é ato
voluntário de quem é dela portador, sendo certo que, atualmente,
o recorrente encontra-se em alta hospitalar e não há preceito
normativo algum que o obrigue a retornar ao tratamento
quimioterápico se houver a perspectiva de ocorrer a transfusão
sangüínea.
É conveniente deixar claro que as Testemunhas de Jeová não se
recusam a submeter a todo e qualquer outro tratamento clínico,
desde que não envolva a aludida transfusão; dessa forma,
tratando-se de pessoa que tem condições de discernir os efeitos
da sua conduta, não se lhe pode obrigar a receber a transfusão,
especialmente quando existem outras formas alternativas de
tratamento clínico, como exposto na petição recursal.
[...]
O tratamento dado pela lei em situação deste já - e que se
aproxima do regramento existente no art. 15, CC - é similar à
situação vivenciada pelo agravante, cuja crença contempla o
dogma a ser vivido de forma concreta em sua religião.
Fundado nestas considerações, dou provimento ao agravo para
indeferir a tutela antecipada” (Agravo de Instrumento n.
1.0701.07.191519-6/001. 1ª Câmara Cível de Tribunal de Justiça
de Minas Gerais. Relator: Des. Alberto Vilas Boas. Julgado em 148-2007).
Por derradeiro e ao contrário do que alegam os que julgam
inadmissível a objeção de pacientes frente a determinadas intervenções médicas,
não só o direito à liberdade, mas também o próprio direito à vida assegura à
pessoa a possibilidade de insurgir-se contra tratamento que considere
inconveniente, porquanto neste aspecto se protege a vida em sua mais ampla
acepção: de garantir à pessoa vida correlata à sua dignidade, sem a qual
provavelmente perderia o porquê de sua existência. Trata-se, pois, de aspecto
imaterial da vida do paciente a ser igualmente resguardado, sob pena de atentarse contra sua vida privada, direito fundamental a ele também garantido.
74
3.2.2 O Direito à Vida Privada
A proteção à vida privada do indivíduo é garantia expressa
da Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 5º, inciso X, prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;
O Direito à Vida Privada é por Celso Ribeiro Bastos definido
como “a faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos
na sua vida privada e familiar” (2000, p. 17). Complementando, Manoel Gonçalves
Ferreira Filho afirma que “dela decorre que cada ser humano tem o direito de
conduzir a própria vida como entender – fora dos olhos da curiosidade e da
indiscrição alheias – desde que não fira o direito de outrem” (1994, p. 6).
Tem, ele, duas básicas acepções, quais sejam: a de evitar a
divulgação de aspectos pessoais do indivíduo, e, ainda, de se conferir a ele
independência na tomada de decisões importantes (FERREIRA FILHO, 1994, p.
6); justificando-se nesta última o direito do paciente em reclamar a nãointerferência – quer médica, quer jurisdicional – sobre seu corpo, quando esta,
ainda que sob a argumentação de medicinalmente benéfica, violentar algum
aspecto de sua intimidade.
Celso Ribeiros Bastos, novamente explanando acerca de
decisões judiciais que autorizam intervenções médicas sobre pacientes que as
tenham recusado, alerta que quando o Estado determina a realização de
procedimento médico mesmo à revelia da volição do enfermo
[...] fica claro que violenta a vida privada e a intimidade das
pessoas no plano da liberdade individual. Mascara-se, contudo, a
intervenção indevida, com o manto da atividade terapêutica
75
benéfica ao cidadão atingido pela decisão. Paradoxalmente, há
também o recurso argumentativo aos “motivos humanitários” da
prática, quando na realidade mutila-se a liberdade individual de
cada ser , sob múltiplos aspectos. (BASTOS, 2000, p. 19)
Convém salientar, não entanto, que comumente muitos
alegam não respeitar a recusa do paciente porque se assim o fizessem, estariam,
a bem da verdade, apoiando a atitude suicida ou eutanásica do mesmo, o que
certamente os sujeitaria a incorrer na prática de induzimento ao suicídio (artigo
122 do Código Penal), ou, ainda, em omissão de socorro (artigo 135 do Código
Penal), razão pela qual, diante destas possibilidades, preferem violar a
privacidade e liberdade do indivíduo.
Verifica-se nessas assertivas, contudo, grande e grave
equívoco, como bem se verá.
3.2.3 Direito à vida e à recusa esclarecida: não apologia ao direito de morrer
Há de ser ter em mente, primariamente, que ao insurgir-se
contra determinado tratamento não necessariamente pretende o enfermo a
própria morte, haja vista que para tal bastaria que não procurasse ajuda médica.
É, aliás, a estes casos – de não recusa meramente displicente que visem à morte
– que destina este estudo atenção.
Isto porque, defende-se aqui o direito de o paciente insurgirse contra terapêuticas que, por alguma razão – convicções religiosas, traumas,
não suportabilidade dos efeitos advindos da intervenção, dentre outros – lhe
seriam mais prejudiciais física ou emocionalmente do que conviver com a
moléstia sofrida, sem que pretenda ele, com a recusa, promover a própria morte.
Diferente situação verifica-se no paciente que ao recusar
tratamento, o faz com a intenção de buscar voluntária e conscientemente a morte
pois deseja abreviar sua vida, quer por razões de fundo emocionais – suicídio –,
quer por razões de sofrível estado de vegetatividade clínica sem esperança de
76
recuperação – eutanásia (GAUDERER, 1998, p. 150), situação em nada correlata
à aqui abordada.
Ora, uma vez desconfigurada tanto a eutanásia, quando o
suicídio, não há porque temer o profissional da saúde ser responsabilizado por
tais práticas.
Salienta-se, ademais, que na grande maioria dos casos de
recusa de pacientes – em que não se pretende a morte – a objeção dá-se
unicamente contra específicos tratamentos, propondo-se o enfermo a sujeitar-se a
outros substitutos.
É o caso, por exemplo, dos pacientes Testemunhas de
Jeová que, ao passo que se opõem à terapias hemotransfusionais, procuram
tratamentos isentos sem o gerenciamento de sangue alogênico – em grande
número já disponíveis no âmbito médico –, e, ainda, pacientes oncológicos, que
não obstante às vezes se insurjam contra a prática cirúrgica, aceitam submeter-se
a outras alternativas, tais como quimio e radioterapias.
Em referência à recusa de pacientes Testemunhas de
Jeová, destaca Soriano:
“Não obstante, os que professam a orientação das Testemunhas
de Jeová não pretendem renunciar à vida, porquanto almejam
continuar vivos. Assim sendo não recusam tratamento médico.
Argumentam, entretanto, que se poderiam utilizar tratamentos
alternativos para se evitarem as transfusões sangüíneas, que, por
sinal podem acarretar inúmeras infecções, inclusive a temível
AIDS” (2002, p. 118).
Em especial nestes casos, em que a recusa reveste-se, a
bem da verdade, de caráter de escolha por um tratamento diverso do comumente
ofertado, é que o respeito e o acato à vontade do paciente deveriam se fazer, sem
quaisquer sombra de dúvidas, presentes.
77
3.3 PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE DA CLASSE MÉDICA
Não se ignora ser compromisso dos profissionais da saúde
salvaguardar a vida. Contudo, não deve esse objetivo ser elevado a tão elevado
grau a ponto de invalidar o direito do paciente de fazer suas próprias escolhas
como ser autônomo, ainda que elas contrariem o entendimento médico.
É por esta razão que José Cláudio Del Claro e Miguel
Grimaldi Cabral de Andrade sustentam que “quando surge um conflito entre
paciente e médico, os deveres do médico devem estar subordinados aos direitos
do paciente” (1999, p. 16).
Justificando
o
porquê
deste
entendimento,
Manoel
Gonçalves Ferreira filho explica que
[...] deve-se registrar uma hierarquia. O dever médico é de fonte
legal, o direito do paciente de aceitar, ou não, um tratamento, ou
um ato médico, é expressão de sua liberdade – direitos seu de
ordem fundamental, declarado e garantido pela Constituição
(1994, p. 24).
Ademais,
[...] a integridade ética da classe médica, ao passo que é
importante, não pode sobrepor-se aos direitos individuais
fundamentais aqui garantidos. São as necessidades e os desejos
do indivíduo, e não os requisitos da instituição, que são supremos
(Despertai!, 1989, p. 26).
Destaca-se, ainda, que ao respeitar à vontade de objeção do
paciente não incorre o médico na tipificação do crime de omissão de socorro, pelo
Código Penal Brasileiro definido como:
Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo
sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à
pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
78
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão
resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a
morte.
Da análise do dispositivo depreende-se que o crime só
restará configurado se o médico recusar-se a tratar o paciente, não o prestando
qualquer assistência. Tal assertiva não guarda qualquer relação com a situação
em que o enfermo – e não o médico – é responsável pela negativa de socorro,
como bem esclarecem Celso, Roberto, e Fábio Delmanto ao afirmarem que o
delito não restará configurado “na hipótese de a vítima recusar o socorro
oferecido, ainda que deixe de comunicar o fato à autoridade” (2000, p. 268).
Outrossim, comenta Guilherme Souza Nucci:
Não se compreende esteja configurado o delito em toda em
qualquer hipótese sob o pretexto de ser a “solidariedade humana”
algo irrenunciável. [...] Portanto, se a situação configurar hipótese
de vítima consciente e lúcida que, pretendendo buscar socorro
sozinha, recusar o auxílio oferecido por terceiros, não se pode
admitir a configuração do tipo penal. Seria por demais esdrúxulo
fazer com que alguém constranja fisicamente uma pessoa ferida,
por exemplo, a permitir que seja socorrida, podendo daí resultar
maior lesões e conseqüências. Entretanto, se um ferido morrendo
balbucia que não deseja ser socorrido porque deseja morrer, é
obrigação de quem poder ele passar prestar-lhe auxílio [...] (2006,
p.586 [Grifou-se.]).
Verifica-se, assim, que a omissão restaria caracterizada tão
somente quando deixado de se prestar o atendimento a pessoa que recusa a
ajuda por desejar morrer, ou seja, situações compatíveis ao suicídio ou a
eutanásia, que como já dito, em nada se assemelham aos casos em análise.
Faz-se prudente constar o entendimento de Manoel
Gonçalves Ferreira Filho:
Com efeito, do ângulo penal, inexiste crime sem culpa. Ora, na
hipótese de recusa de tratamento, não haverá culpa por parte do
médico em não ser este prestado. Não terá havido omissão de
responsabilidade do médico, mas recusa de tratamento específico
por parte do paciente (1994, p. 28).
79
Ademais, não pode o profissional da saúde sofrer quaisquer
penalizações quando, respeitando a vontade do paciente, deixa de aplicar-lhe
determinada terapia, uma vez que “o dever do médico de cuidar do paciente
termina quando este, após ter recebido todas as informações, opõe-se ao
tratamento”, de modo que a obrigação do médico em tratar “encontra seu limite no
não-consentimento do paciente em relação ao tratamento” (BORGES, 2005, p.
207).
3.4 POSSÍVEL CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Em casos cotidianos, não raras vezes acontece a dita
Colisão de Direitos Fundamentais, situação que se configura quando “dois ou
mais direitos abstratamente válidos entram em conflito diante
de um caso
concreto, hipótese na qual as soluções serão divergentes de acordo com o direito
aplicado” (NOVELINO, 2008, p. 241).
É o que afirma ocorrer grande parte da literatura jurídica e
médica quando um paciente recusa alguma intervenção médica. Suscitam, neste
momento, conflito de dois importantes direitos: a vida e a liberdade.
Todavia, e como exaustivamente já analisado, o agir do
paciente no sentido de opor-se a certa terapia não necessariamente atenta contra
sua vida, sendo que às vezes, a bem da verdade, tem por objetivo preservá-la em
seu importante aspecto imaterial, em que se fazem presentes as mais íntimas
razões da existência humana. Seria, pois, demasiadamente superficial o aventar
de conflito de direitos tendo-se por base a vida unicamente em seu aspecto
biológico.
Cumpre aquilatar, desta maneira, se a espécie de recusa –
aquelas realizadas de modo não displicente – em que se concentra este estudo
provocaria, ou não, uma contenda de direitos constitucionalmente garantidos.
Para tal, propõem-se alguns casos práticos.
80
Numa primeira hipótese, tem-se situação em que ao
enfermo – quer sob iminente perigo ou não – é ofertada terapia que, ainda que
ínfimo, possa lhe causar algum risco.
Ora, inexistiria, nestas circunstâncias, qualquer conflito de
direitos, porque dum modo ou de outro, estaria sua vida sob risco, e, neste caso,
cabe unicamente ao doente decidir a qual risco prefere submeter-se.
É o que preconiza, de forma bastante sensata, o artigo 15 do
Código Civil Brasileiro ao afirmar que, uma vez passível de risco – em qualquer
grau – o tratamento, não estará o paciente obrigado a aceitá-lo.
Numa segunda suposição, verifica-se a circunstância em
que o paciente recusa uma intervenção, à medida que pugna por uma terapia
substitutiva. Surgem nesta hipótese duas interessantes observações.
Primeira: supõe-se que não obstante exista a alternativa
requerida, não está ela disponível no centro clínico em que se encontra o
enfermo. Configuraria, o caso, não um conflito entre direitos fundamentais do
próprio paciente, porque em nenhum momento deixa ele de pugnar por
tratamento, demonstrando imenso desejo de manter-se vivo. Há, sim, conflito
entre o dever Estatal em prover ao paciente os meios por ele aceitáveis de
tratamento, e o direito do paciente em preservar sua vida de acordo com sua
liberdade individual, situação por Mariana Figueiredo descrita como um “problema
da efetividade dos direitos sociais” (2007, p. 203), pela qual não pode ser o
enfermo responsabilizado.
Em similar situação, decidiu o Tribunal de Justiça do Mato
Grosso:
TESTEMUNHA DE JEOVÁ – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
COM POSSIBILIDADE DE TRANSFUSÃO DE SANGUE –
EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA – TRATAMENTO
FORA DO DOMICÍLIO – RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVERDO ESTADO –
RESPEITO À LIBERDADE RELIGIOSA – PRINCÍPIO DA
ISONOMIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR CONCEDIDA
81
– RECURSO PROVIDO (Agravo de Instrumento n. 22395/2006.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Relator: Des.
Sebastião de Arruma Almeida. Julgado em 31-5-2006).
Verifica-se, deste modo, que a não disponibilidade da
terapêutica pretendida pelo paciente em nada se assemelha a não existência
desta, sendo, pois, dever estatal provê-la. E assim se afirma, pois o direito à
saúde não se reveste exclusivamente das terapias disponibilizadas pelo poder
público nos centros médicos, mas sim de todas aquelas ofertadas e já colocadas
em mercado pela ciência.
Segunda circunstância: tem-se que o paciente, exercendo
sua liberdade, recusa-se a procedimento médico de potencial salvamento,
aceitando, contudo, submeter-se a outro procedimento, não tão efetivo.
Neste momento, observa-se existente certo conflito, pois não
obstante escolha o paciente outro procedimento, este não se mostra tão eficaz à
manutenção de sua vida. Deve-se lembrar, no entanto e como já explanado, não
restringir-se a vida do indivíduo ao seu aspecto biológico. Assim sendo, não
devem ser desconsideradas as motivações íntimas que o levam a não querer
submeter-se à terapêutica mais indicada.
Ora, em se tratando de dois direitos fundamentais
constitucionais com mesma hierarquia, não há como entre elas estabelecer
preferência de um sobre o outro, de modo que o conflito há de ser abrandado em
análise ao caso concreto, aplicando-se a técnica da ponderação de cada um dos
direitos conflitantes (BARROSO, 2006, p. 260).
Faz-se necessário, sob esta perspectiva, a resolução do
conflito instaurado com base na lei de colisão proposta do Robert Alexy:, de que
“o ‘conflito’ deve [...] ser resolvido ‘por meio de sopesamento entre os interesses
conflitantes’ (ALEXY, 2008, p. 95).
Para tal, deve, inicialmente,
ser feita uma identificação das normas referentes ao caso e seu
agrupamento de acordo com a direção para a qual apontam; em
82
seguida, devem ser analisadas as circunstâncias do caso concreto
e suas repercussões para, finalmente, ser feita a ponderação,
consistente em atribuir o peso relativo aos elementos e
estabelecer a intensidade da referência de cada grupo de normas
(NOVELINO, 2008, p. 245).
Há de sempre se ter em mente, tal qual é o objetivo do
sopesamento dos direitos conflitantes, a tentativa de não nulificar qualquer dos
valores em jogo, razão pela qual a resolução da problemática imprescinde análise
minuciosa do caso específico, que não restrita a um único ponto de vista (ALEXY,
p. 121).
In casu, ainda que a terapia aceita pelo paciente não se
mostre tão eficaz quanto à proposta pelo médico, deveria ser ela aplicada porque,
ao tempo que se conferiria ao enfermo ao menos uma melhora relativa a sua
saúde – não se invalidando o direito à vida –, permitir-se-ia que também não
fosse aviltada sua consciência e seus mais profundos valores morais,
provenientes de sua liberdade. Deste modo, e em sopesamento dos valores
envolvidos – tanto sob a perspectiva médica quando sob a dos valores morais do
paciente – não se aniquilaria completamente nenhum dos direitos colidentes.
Caso contrário, uma vez desconsiderada a vontade do
paciente e as razões íntimas de onde advém, ter-se-ia não um equilíbrio dos
direitos envolvidos, mas unicamente a prevalência de parte de um deles – a vida
biológica –, situação em muito desconforme àquela pretendida por quaisquer das
técnicas de resolução de conflitos.
Vai além Manoel Gonçalves Ferreira Filho ao dizer que
Num conflito, por exemplo, entre o direito à vida e o direito à
liberdade o titular de ambos é que há de escolher o que há de
prevalecer. E este registro não teoriza senão o que na história é
freqüente: para manter a liberdade o indivíduo corre o risco
inexorável de morrer. Não renegue isto quem não estiver disposto
a, para ser coerente, lutar para que se retire, das ruas as estátuas
de incontáveis heróis, dos altares da Igreja Católica numerosos
santos. Nem se alegue que este argumento levaria à admissão do
suicídio. Não, porque não há o direito à morte, embora haja o de
83
preferir, por paradoxal que seja para alguns, a morte à perda da
liberdade (1994, p. 21).
Vale relembrar, ademais, que considerar a volição do
paciente na tomada de decisões significa respeitá-lo como pessoa autônoma, o
que envolve, segundo Paulo Antônio de Carvalho Fortes
[...] reconhecer que cada pessoa possui pontos de vista e
expectativas próprias quanto a seu destino, e que é ela quem
deve deliberar e tomar decisões seguindo seu próprio plano de
vida e ação, embasada em crenças, aspirações e valores
próprios, mesmo quando estes divirjam dos valores dos
profissionais de saúde ou dos dominantes da sociedade (p. 3940).
Desta feita, as recusas de doentes frente a determinadas
terapias, não obstante aparentemente insensatas, guardam em si, na grande
maioria das vezes, motivos arraigados a tão importantes valores do enfermo que
desrespeitá-las poderia significar-lhe gravame ainda maior que a própria moléstia
sofrida, de modo que não estão o Poder Estatal e a classe médica legitimados a
desacatá-las.
84
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo evolutivo dos direitos fundamentais há séculos
instaurado revela o constante empenho humano por seu mais abrangente direito:
a liberdade.
Frente à liberdade em contínua conquista e à necessidade de
gerenciamento responsável sobre a vida humana é que florescem os mais novos
direitos de quarta geração [ou terceira para quem assim prefira], que, acima de
quaisquer outros objetivos, pugnam pela proteção humana em seu mais
intrínseco sentido: da dignidade que lhe é inerente.
É, pois, sob esta perspectiva dos novos direitos em emergência
que medram os Direitos do Paciente, não adstritos ao atendimento médico, ao
acompanhamento em consultas, à prestação gratuita de saúde; mas, também, ao
direito do enfermo em agir autonomamente quando em questão seu bem-estar
físico e interior, decidindo por si as ingerências que permitirá ou não sobre seu
corpo.
Em não raras vezes, contudo, o direito de decisão autônoma do
indivíduo lhe é tolhido, ou sem quaisquer justificativas, ou pela simplista alegação
de estar sob iminente risco de vida, como se sob esta circunstância cessassem
seus direitos e poder decisório, tornando-se ele, em razão de sua enfermidade,
um sujeito incapaz desprovido de fundamentais direitos.
Ademais,
não
bastasse
a
inconstitucionalidade
dos
preceitos legais que apoderam a classe médica de autorização interventiva
mesmo à revelia do enfermo – o que se afirma tendo em vista que restrições aos
direitos fundamentais imprescidem formulação legal sob crivo do poder
Legislativo, exigência inobserada pelas disposições assentadas nos Código de
Ética Médica – , a inexistência de parâmetros caracterizadores do dito iminente
risco no qual se legitima a intervenção médica permite que, freqüentemente, seja
tal justificativa utilizada sem que exista quadro clínico compatível com o risco
85
suscitado, coibindo-se a volição do paciente quando em perfeitas condições
encontrava-se ele para exercê-la.
Dispensar o imprescindível consentimento do enfermo, bem
como sobre ele implementar terapêuticas que lhe sejam de repúdio mostram-se
um crasso vilipêndio à sua vontade, porque inobstante visem salvaguardar sua
mantença física, promovem-na às custas de seus valores pessoais nos quais se
consubstanciam as razões de sua existência.
E quem poderia imputar desimportantes as crenças
pessoais de outrem, a ponto de, desconsiderando-as, forçar-lhe terapêutica
veementemente recusada? À que base moral devem atrelar-se os íntimos
pensamentos humanos, senão cada um à sua própria?
Em situações de conflitos, especialmente em que valores
morais se lançam em jogo, alerta Kelsen que
em vista, porém, da diversidade daquilo que os homens
efetivamente consideram como bom e mau, justo e injusto, em
diferentes épocas e nos diferentes lugares, não se pode
determinar qualquer elemento comum aos conteúdos das
diferentes ordens morais. Tem-se afirmado que uma exigência
comum a todos os sistemas de moral seria: conservar a paz, não
exercer a violência sobre ninguém (1999, 73).
Respeitar a escolha do enfermo unicamente quando
compatível àquela esboçada pelo profissional da saúde ou outra autoridade pelo
caso responsável significaria dizer, como há muito já advertido por M. J. Wreen
que “o paciente é livre para decidir e que sua decisão será honrada, mas tão
somente enquanto ele decidir de certa maneira”, razão pela qual, “o valor desta
liberdade e autonomia seria zero”26 (1991, p. 126, online, tradução livre).
Não
se
olvida,
tampouco
se
menospreza,
o
valor
imensurável a ser atribuído à vida em seu sentido biológico, porém verifica-se
insensato exclusivamente a ela apegar-se como único direito a ser preservado, à
26
No original: “That’s equivalent to saying that the patient is free to decide, and his decision will be
honored – but only as long as he decides a certain way. The cash value of such freedom and
autonomy is zero”.
86
medida que se relega à completa insignificância inúmeros outros direitos, como a
própria liberdade, a vida privada, e, em especial, o direito do indivíduo em dirigir
sua vida sob seus moldes de justeza e moralidade, que a compõem em sua mais
ampla acepção.
Outrossim, os tratamentos médicos à que vez ou outra são
alguns pacientes forçados – como intervenções cirúrgicas para retiradas tumorais,
amputações de membros, transfusões sanguíneas, transplantações de órgãos –,
não se mostram em nada superiores a determinados cuidados cotidianos a que
devam outros pacientes submeter-se, tais quais a não ingestão excessiva de sal
ou açúcar, respectivamente, por pacientes hipertensos ou diabéticos sob alto
risco; abstenção ao fumo àqueles atingidos por moléstias pulmonares, bem como
ao consumo desmedido de bebidas alcoólicas por parte de cirróticos; situações
estas em que, não obstante esteja o portador sob diário iminente perigo de vida,
não é ele obrigado à adoção das indicações médicas, ficando a seu critério
submeter-se ou não às recomendações terapêuticas, ainda que risco advenha à
sua vida.
Desatender os valores pessoais que motivam a recusa de
pacientes é, a bem da verdade, atribuir-lhes menoridade, à medida que se
reconhecem como válidas e sensatas exclusivamente as decisões compatíveis às
nossas, como se justas e moralmente parametrizantes fossem.
Faz-se mister uma mudança, que substitua a paternalidade
médica autoritária pela arte de tratar dignamente o enfermo nos moldes de suas
íntimas convicções, que lhe preserve não meramente a vida biológica, mas
também todos os atributos imateriais que a compõe e a fazem, em seu mais pleno
sentido, ser uma vida digna de ser vivida.
E é o que se espera das reformulações em andamento do
Código de Ética Médica; bem como desta e das futuras gerações.
87
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradutor: Virgílio Afonso da
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 95.
ALFONSO, Luciano Parejo. El derecho fundamental de la intimidad. In: SAUCA,
José Maria. Problemas actuales de los derechos fundamentales. Madrid:
Universidad Carlos III, 1994. p. 436.
BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. In:
TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. e
atual. São Paulo: Renovar, 2003. p. 391, 398.
BARROSO, Luis Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da
personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucional adequada ao
Código Civil e da Lei de Impressa. In: NASCIMENTO FILHO, Firly; PEIXINHO,
Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco (Orgs.). Os princípios da
constituição de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 260.
BASTOS, Celso Ribeiro. Direito a recusa de pacientes, de seus familiares ou
dependentes, à transfusões de sangue, por razões cientificas e convicções
religiosas. Parecer Jurídico. São Paulo: 2000. p. 5, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 29.
BEAUCHAMP, Tom L; CHILDRESS, James. Princípios de ética biomédica. São
Paulo: Loyola, 2002. p. 45, 142-143, 269-270, 273, 282.
BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo
Código Civil. São Paulo: Atlas, 2005. p. 115.
BESTER, Gisela Maria. Cadernos de direito constitucional: Parte II – Direito
positivo constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 20.
______. Direito constitucional: fundamentos teóricos. v. I. São Paulo: Manole,
2005. p. 572,
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.
5, 100-101,
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 21. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 563.
______. apud BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição
de 1988: Conteúdo jurídico das expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.
p. 34-35.
88
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de morrer dignamente: eutanásia,
ortotanásia, consentimento informado, testamento vital, análise constitucional e
penal e direito comparado. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.).
Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2001. p. 294-295.
______. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia privada.
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 207.
BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição de 1988:
Conteúdo jurídico das expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 12-14,
22-23, 36-37.
BUENO, Pimenta apud SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 239.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.
ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 386, 407-410.
COAN, Emerson Ike. Biomedicina e biodireito Desafios bioéticos. Traços
semióticos para uma hermenêutica constitucional fundamental nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade do direito à vida. In: SANTOS,
Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos
desafios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 248.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.
Processo Consulta n. 38/1989.
Goiânia,
20
setembro
1989.
Disponível
em:
<www.portalmedico.org.br/pareceres/cfm/1989/38_1989.htm>. Acesso em: 8
fevereiro 2008.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAÍBA. Processo
Consulta n. 17/2000.
João Pessoa, 24 outubro 2000. Disponível em:
<www.portalmedico.org.br/pareceres/CRMPB/pareceres/2000/17_2000.htm>.
Acesso em: 8 fevereiro 2008.
CORTINA, Adela. Bioetica y nuevos derechos humanos. In: SAUCA, José Maria.
Problemas actuales de los derechos fundamentales. Madrid: Universidad
Carlos III, 1994. p. 436.
DANTAS, Ivo. A era da biotecnologia: constituição, bioética, biodireito.
Disponível em: <http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1205505342174218181901.pdf>.
Acesso em: 2 setembro de 2008.
DEL CLARO, José Cláudio; ANDRADE. Miguel Grimaldi Cabral de; BRUMLEY,
Philip. Por que respeitar a escolha de tratamento médico sem sangue.
Parecer jurídico. São Paulo: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados,
1999. p. 15, 16, 18-19.
89
DELMANDO, Celso; Roberto; Fábio M. A.; DELMANTO JUNIOR, Roberto.
Código Penal Comentado. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Renovar, 2000. p. 268.
DESPERTAI. Sangue: quem decide? Baseado na consciência de quem? São
Paulo: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 22 de fevereiro de 1989.
ENGELHARDT Jr, H. Tristram. Fundamentos da bioética. Tradutor: José A.
Ceschin. São Paulo: Loyola, 1996. p. 369.
FAGUNDES JÚNIOR, José Cabral Pereira. Limites da ciência e o respeito à
dignidade humana. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite (Org.). Biodireito:
Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2001. p. 273.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10. ed.
São Paulo: Saraiva, 2008. p. 9, 12.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Questões constitucionais e legais
referentes a tratamento médico sem transfusão de sangue. Parecer jurídico.
São Paulo: 1994. p. 6, 18, 21, 24, 25-28.
FERREIRA, Jovino; FERREIRA, Vera L. P. C.; PELANDRÉ, Gustavo L. Revista
brasileira de hematologia e hemoterapia. 2005; 27(3):179-182. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v27n3/v27n3a08.pdf>. Acesso em: 28 junho 2008.
FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros
para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.
p. 50-51, 203.
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ètica e saúde. São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária Ltda, 1998. p. 39-40, 43, 54.
FRANÇA, Genival Veloso. Comentários ao Código de Ética Médica. 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 77.
GARCIA, Marcos Leite. A construção histórica da distinção entre ética
pública e moral privada e sua incidência no processo de formação do ideal
dos direitos fundamentais: a contribuição de Christian Thomasius. 2007. p. 1.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10192&p=1>. Acesso
em: 1º novembro de 2008.
GAURERER, Christian. Os direitos do paciente. 7. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro:
Record, 1998. p. 22-23, 69, 71, 150.
GOLDIM, José Roberto. Princípio do respeito à pessoa ou da autonomia.
Disponível em: < http://www.ufrgs.br/bioetica/autonomi.htm>. Acesso em: 4 julho
2008.
90
GUIMARÃES, Ylves Hosé de M. apud BREGA FILHO, Vladimir. Direitos
fundamentais na Constituição de 1988: Conteúdo jurídico das expressões. São
Paulo: Juarez de Oliveira. 2002, p. 36.
GUISÁN, Esperanza. La bioetica y el derecho al bienestar. In: SAUCA, José
Maria. Problemas actuales de los derechos fundamentales. Madrid:
Universidad Carlos III, 1994. p. 446, 449.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradutor: João batista Machado. São
Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 73.
KIPPER, Délio José apud DEL CLARO, José Cláudio; ANDRADE, Miguel
Grimaldi Cabral de; BRUMLEY, Philip. Por que respeitar a escolha de
tratamento médico sem sangue. Parecer jurídico. São Paulo: Sociedade Torre
de Vigia de Bíblias e Tratados, 1999. p. 20.
LA VERTU, Diana Serrano; LINARES Ana María. Principios éticos de la
investigación biomédica en seres humanos: aplicación y limitaciones en américa
Latina y el Caribe. In: Bioética: Temas y perspectivas. Washington: Organizacion
Panamericana de la Salud, 1990. p. 110.
LOTUFO, Renan; apud BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade
dos direitos de personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005.
p. 23.
MIRANDA, Pontes apud BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade
dos direitos de personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005.
p. 24.
MINISTÉRIO DA SAUDE. Carta dos direitos dos usuários da saúde.
Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_integra_direitos_2006.pdf>.
Acesso em: 2 julho 2008.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. p. 1, 6, 9-11, 15, 17, 20-22.
NOGUEIRA,
Simone
T.
A.
Caso
clínico.
<http://www.portalmedico.org.br/revista/411996/caso6.htm>.
outubro 2008.
Disponível
em:
Acesso em: 16
NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2. ed. rev. atual. e ampl.São Paulo:
Método, 2008. p. 241,245, 255, 263.
NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. 6. ed. rev. atual. São Paulo:
Editora Revista dos tribunais, 2006. p. 586.
PACHECO, Maria Thresa de Medeiros. Caso clínico. Disponível em: <
http://www.portalmedico.org.br/revista/411996/caso11.htm>. Acesso em: 16
outubro 2008.
91
PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general.
Madrid: Universidad Carlos III, 1995. p. 113-115.
PEDRAZZA, Gabriel E. Técnicas de conservación sanguínea y medicina sim sangre em
UCI. In: Manejo Alternativo a La Transfusión em situaciones de urgencia. 2. ed.
Chile: 2004. p. 24-30.
PEREIRA E SILVA, Reinaldo. Biodireito: a nova fronteira dos direitos humanos.
São Paulo: LTr, 2003. p. 21, 31.
______. Biodireito: o novo direito da vida. In: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE,
José Rubens (Orgs.). Os “novos” direitos no Brasil: Natureza e perspectivas.
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 295.
PESSINI, Leo; Barchifonaine, Christian de Paul de. Problemas atuais de
bioética. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Loyola, 2005, p. 58.
PIÑEIRO, Walter Esteves; SOARES, André Marcelo M. Bioética e biodireito:
uma nova introdução. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 7.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad,
1998. p. 27.
RIDLEY, Donald T. Adequar-se à escolha feita pelas testemunhas de Jeová de
tratamento sem sangue. Tradução da reimpressão de Perspectives in
healthcare risk management. Nova York: 1990. p. 4.
SÁ, Elida. Biodireito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 95-96, 203.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. rev.,
atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 35-36, 45-46, 54, 5658, 62-64, 75, 79, 113, 127-128, 277.
______. A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais: na
Constituição Federal de 1988. 6. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008. p. 63.
SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia
privada. In: NASCIMENTO FILHO, Firly; PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA,
Isabella Franco (Orgs.). Os princípios da constituição de 1988. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 231.
SAUWEN, Regina Fiuza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da bioética
ao biodireito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 8-13, 18, 24, 37,60.
SEGRE, Marco. Situação ético-jurídica da Testemunha de Jeová e do médico
e/ou instituição hospitalar que lhe presta atenções de saúde, face à recusa
do paciente-religioso na aceitação de transfusões de sangue. Parecer. São
Paulo: 1991. p. 1-2.
92
SÉGUIN, Elida. Biodireito. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
p. 35.
SGRECCIA, Elio. Manual de bioética: I – Fundamentos e ética biomédica.
Tradutor: Orlando Soares Moreira. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2002. p. 23, 36-37.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção constitucional à liberdade religiosa.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 114-115.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São
Paulo: Malheiros, 2001. p. 155-156, 174, 179, 182, 185, 202, 239, 273.
SORIANO, Aldir Guedes. Liberdade religiosa no direito constitucional e
internacional. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 6, 10, 12, 118.
SOUZA, Zelita da Silva; Moraes, Marian Izabel Dias Miorim de. A ética médica e
o
respeito
às
crenças
religiosas.
Disponível
em:
<http://www.portalmedico.org.br/revista/bio1v6/eticmedica.htm>. Acesso em: 20
de agosto de 2007.
Transfusão sanguínea pode ser prejudicial, dizem cientistas. ESTADÃO. São
Paulo: 9 outubro 2007. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/vidae/not_vid62267,0.htm>.
Acesso em: 18 outubro 2007.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Agravo de
Instrumento n. 22395/2006. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Relator: Des. Sebastião de Arruma Almeida. Julgado em 31-5-2006. Disponível
em: http://www.tj.mt.gov.br. Acesso em: 8 outubro 2008.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Agravo de
Instrumento n. 1.0701.07.191519-6/001. 1ª Câmara Cível de Tribunal de Justiça
de Minas Gerais. Relator: Des. Alberto Vilas Boas. Julgado em 14-8-2007.
Disponível em: <http://www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 22 de agosto de 2008.
UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>.
Acesso em: 2 julho 2008.
VILLARROEL, Ítalo Zamudio. Riesgos Asociados al Uso de Sangre Alogénica. In:
Manejo Alternativo a La Transfusión em situaciones de urgencia. 2. ed. Chile:
2004. p. 9-15.
WREEN, Michael J. Autonomy, religious values, and refusal of lifesaving
medical
treatment.
1991.
p.
126.
Disponível
em:
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1376028>.
Acesso
em: 12 outubro 2008.
WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral ds
“novos” direitos. In: WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens (Orgs.). Os
93
“novos” direitos no Brasil: Natureza e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003.
p. 8, 12.