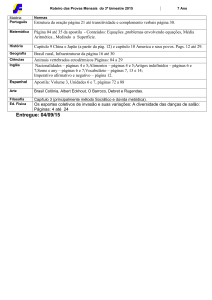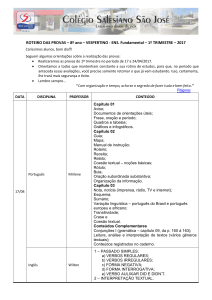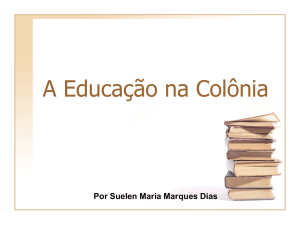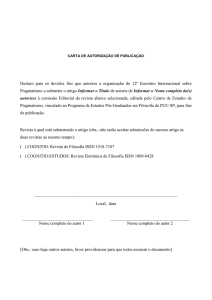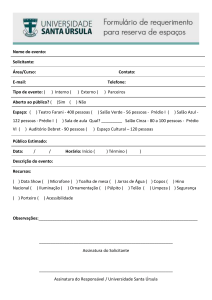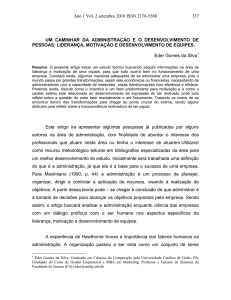REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
DEBRET E OS FUNDAMENTOS DA AMBIGUIDADE NACIONAL Prof. Dr. Eduardo Antonio Bonzatto
http://lattes.cnpq.br/9031273202384299
RESUMO – Este texto é parte de um trabalho maior sobre a iconografia pátria e trata de um ato
inaugural que perpassa tanto a produção iconográfica que conferiu à história do Brasil um
fundamento, que seria propagado com mais intensidade e propósito pela fundação da Escola
Nacional de Belas Artes, quanto um enraizamento que passou a ser aplicado ao nosso hábito de
valorização de culturas estrangeiras colonizadoras que têm, ao longo desses últimos cento e
cinquenta anos, matizado e colorido nossa produção cultural.
PALAVRAS-CHAVE – iconografia, pátria, ideologia, poder, ambiguidade.
33
ABSTRACT – This text is part f a great work about the native iconography and trates of an
inaugural act that passes by iconographic production that conferred to Brazil history a basis that
would be propagated with more intensity and purpose by the foundation of national school of
Bellas Artes, as an “inrisotment” that became to be applied to our valorization habit of colonizer
foreign cultures that have “during” these hundred fifty years, adorned and colored our cultural
production.
KEYWORDS – iconography, home, ideology, power, ambiguity.
Ah, mas que teia complicada a tecer quando se começa a
aprender a iludir!
Sir Walter Scott, Marmion
O caráter polissêmico dos rituais políticos encontra na entronização1 de D. Pedro I
em 1º de dezembro de 1822, um momento ápice de interpretação. A começar pela data, notada
por historiadores como Varnhagen ou Max Fleiuss: coincidiu com o dia da restauração da coroa
portuguesa por D. João IV, em 1640, que havia alçado a casa de Bragança à dinastia real. O
Será utilizado aqui o sentido mais amplo de entronização, qual seja, aclamação e sagração, que compreendem tanto
a unção quanto a coroação.
1
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
fenômeno, já suficientemente estudado, foi elucidado por, entre outros, Ângela Miranda Cardoso,
que demonstrou ser esta data apenas uma coincidência, já que todo o planejamento da cerimônia,
que havia se iniciado em outubro daquele mesmo ano, agendara a sagração para o 25 de
novembro, uma segunda-feira sendo que toda sagração, por tradição, somente poderia ser
efetuada no domingo, por exigência religiosa. Daí ter sido adiada para o domingo seguinte.
No entanto, o signo que representa tanto a ruptura com a metrópole quanto ao início
do novo império brasileiro estaria definitivamente manchado pela sombra da continuidade. Até
porque D. Pedro I permanecia herdeiro da coroa portuguesa, que viria efetivamente a envergar
nos últimos anos de vida.
A Aclamação de Dom Pedro I foi pintada por Debret a partir de esboço feito no próprio
dia de sua realização, 12 de outubro de 1822, no campo de Sant’Ana:
34
Figura 1
Fonte: Debret, J.B. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tomo terceiro. Belo Horizonte,
Itatiaia, 1989, E.143, p. 48
Debret afirma que a realização do ato coincidiu com o local destinado às festas da
coroação do rei, D. João VI
.
Mas, desta feita, a arte presidiu a sua construção e, às suas arcadas em ogiva, de
um estilo bárbaro, substituíram-se cimbres, adaptando-se também os detalhes a
uma arquitetura mais simples. A decoração interna atendia igualmente, pelos seus
ornatos mais grandiosos, à dignidade do edifício. (DEBRET, 1989, p 255)
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Inúmeras são as passagens, nas obras analisadas, em que o pintor francês refere-se a
detalhes que serão substituídos, quer nas próprias pinturas, quer nos ambientes, para arrancar o
novo império à barbárie, ao menos no plano simbólico. A ânsia pela ruptura com os crivos
anteriores, a necessidade de demarcar um novo território semântico, ainda que encastelado por
molduras esboroadas e títeres, constituíam uma prerrogativa dos discursos.
Debret estava familiarizado com a estética do poder, embora suas obras “brasileiras”
se diferenciem substancialmente de toda sua produção anterior. Filho de um escrivão do
Parlamento francês e de uma comerciante de roupas brancas, Jean Baptiste Debret nascera a 18
de abril de 1768. Primo de Jacque-Louis David (1748-1825), Debret estuda no Liceu Louis de
Grand, antes de trabalhar com o já então ilustre primo. Quando de sua segunda estada em Roma,
David se deixa acompanhar pelo primo aprendiz. E será este contato estreito com a arte romana
que marcará profundamente a sensibilidade estética de Debret.
35
Figura 2
Fonte: Naves, R. A forma difícil. São Paulo: Ática,1996, p.48 Auxilia David na elaboração de O juramento dos Horácios e esta relação se estende pelos
quinze anos seguintes, ou seja, até 1800, convidado a dirigir o ateliê dos alunos de David. O
ideário neoclássico imprime-se fortemente em toda a produção desse período, a começar pelo
Regulus voltando a Cartago (figura 2) com o qual ganhou o segundo prêmio do concurso para
escolha de pensionistas destinados a Roma.
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Rodrigo Naves, ao analisar esta obra de Debret, traça uma interpretação que entrelaça
o neoclassicismo e o conteúdo ético e moral do universo temático que compunha esse
movimento.
O conteúdo pedagógico do quadro de Debret tem a força demiúrgica de um parto.
Representa Marcus Atilius Regulus, que foi cônsul romano durante a primeira guerra púnica. É
aprisionado pelos cartagineses e, posteriormente, enviado a Roma para negociar a paz, com a
promessa de retornar, caso as negociações fracassassem. Ele aceita e convence os romanos a
continuarem a guerra. Deve retornar a Cartago e o quadro flagra o instante do retorno. Diz-nos
Rodrigo Naves:
36
Tudo no quadro revela uma atitude exemplar. Em defesa da pátria, Regulus
sacrifica a própria vida. Mas também em defesa de um ideal de pátria. Poderia ter
defendido a mesma posição, recusando-se no entanto a voltar. A quebra da
palavra empenhada, contudo, destruiria a nação modelar que o motiva – uma
Roma feita de romanos virtuosos. Essa exemplaridade ordenará todo o quadro
de Debret. Como queria David, ‘não foi apenas encantando os olhos que os
monumentos artísticos atingiram seu objetivo, mas penetrando a alma, causando
no espírito uma impressão profunda, semelhante à realidade. É então que os
traços de heroísmo, das virtudes cívicas, oferecidos ao olhar do povo eletrizarão a
sua alma e farão germinar nele todas as paixões da glória, de devotamento a sua
pátria. (NAVES, 1996, p. 49)
Esta busca por um ethos, digamos, amplificado, haveria de ser perseguida com uma
obstinação que se explica não somente pelo seu anseio pedagógico e exemplar, mas
principalmente pelo caráter especular da imagem e faz parte de uma tradição que já vinha de
longe, pelo menos desde Aristóteles, quando na Poética afirmava:
Do que dissemos, decorre claramente que o papel do poeta é dizer não o que houve
realmente, mas o que poderia suceder na ordem do verossímil ou do necessário.
(ARISTÓTELES, 1995, p. 80)
Isso não somente explicaria que o olhar desses demiurgos se voltasse para a Roma
mítica e impoluta, mas que buscasse capturar, pelas figuras, sua impossível e caprichosa essência,
sua suposta ontologia para que desta síntese se referenciasse um padrão modelar de pátria. Nesse
sentido, a figura, perseguindo sua etimologia, haveria de ilustrar a verdade ansiada:
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Historia ou também littera é o sentido ou o acontecimento por ele relatado,
figura é o mesmo sentido literal ou o acontecimento em relação com o
cumprimento futuro nele oculto e tal cumprimento mesmo é veritas, de modo
que assim figura aqui aparece como termo mediano entre littera-historia e veritas.
(AUERBACH, apud LIMA, 1995, p. 227)
Se a figura estiver entrelaçada com seu potencial de verdade mediante a históriaenredo, poderemos compreender a necessidade de constructos imagéticos do porte desse Regulus,
de Debret. Fora feito em plena efervescência revolucionária e está imerso no espírito que, pela
mesma época, cunhara o termo “cidadão”.
Era imbuído da ética e do compromisso público com que esse primeiro Debret
aproximava o real do ideal. Nesse sentido, o Brasil, que se tornava independente, seria um
excelente campo não somente para suas observações, mas principalmente para comprometer sua
paleta. Como alguém que testemunha o nascimento de uma ilha vulcânica, Debret experimentava
todo o frêmito dos grandes partos, embora pudesse encarar essa oportunidade como uma
segunda chance, já que a restauração bourbônica tinha levado consigo muito daquele primeiro
Debret e muitos daqueles nobres ideais, até certo ponto ingênuos (talvez ele o reconhecesse) que
37
o período napoleônico havia estimulado.
Fora justamente essa proximidade tanto com o período napoleônico quanto com
David que o aproximara primeiro de D. João e, depois, de D. Pedro I e da condição de autor do
registro histórico oficial do novo império nascente.
A Coroação do Imperador D. Pedro I pelo Bispo do Rio de Janeiro, Monsenhor José Caetano da
Silva Coutinho, no dia 1º de dezembro de 1822, na Capela do Paço Imperial, quadro de 1828 é um bom
exemplo desse desencanto, embora igualmente revele uma nova esperança, um realinhamento de
seus ideais, transmudados com ele para este novo mundo e que se abre, como um leque
inesperado de novas possibilidades, um repositório que, em razão de inúmeros outros vetores,
refeitos os cálculos políticos e ideológicos, haveria de suplantar as meras necessidades materiais
que o difícil e tumultuado estabelecimento da implantação da academia poderia supor.
Prova desse reajustamento de Debret como alguém que custa a reafirmar ícones
pedagógicos é a própria demora em assumir o papel de pintor histórico que o momento exigia e
para o qual certamente fora solicitado. Compará-lo a Taunay, o patriarca, é um bom indício desse
ajustamento, desse repensar.
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Figura 3
Fonte: Guillobel, Joaquim Candido. Negra carregando cartola, espelho e outros objetos na cabeça. 1814. Aquarela sobre papel,
13,9 x 11,5cm. Coleção particular, in: NAVES, op. cit. p. 98 38
O velho Nicolas-Antoine, em suas paisagens e cenas urbanas, em sua grande maioria,
inclui um elemento (as vacas) que o remete sempre às origens francesas, quase como uma
obsessão, e estabelece a ponte rigorosa e a mensagem circular de sua prisão euclidiana
(cartesiana?). Já Debret utiliza sua percepção para os detalhes do cotidiano, em que,
invariavelmente alinhavados, vibrantes e em frangalhos, estão os escravos, os íncolas, o trabalho,
a música, os senhores, as senhoras, o interior e a rua, como se o fracasso da revolução pudesse
encontrar agora uma compensação. Debret parece dizer que era, afinal, de um novo mundo que
o mundo precisava e seu olho quer penetrar esse novo mundo em suas minúcias, na gôndola de
dormir, na algazarra da cozinha, na intimidade dos gestos e na sua animosidade, carregando os
flagrantes com o sangue amarelo e poeirento da vida, sem nenhum pudor. É seu resgate íntimo,
não mais como pedagogo instrutor de nacionalidades, mas como alguém que reencontra no povo
o significado de sua dinâmica e o poder de sua presença. Durante os primeiros anos após a
independência, Debret fará quase todos os desenhos que serão inclusos em sua obra maior, mas
principalmente as cenas de escravos e de índios. É a gênese que ele busca reafirmar, a gênese de
tudo aquilo que, em 1791, desejara instrumentalizar. Ele mesclava sua condição de pintor
histórico, de regente, e perseguia a de acompanhante e de testemunha.
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Somente assim é possível compreender a clara má vontade que seus quadros
históricos transmitem. Comparados com as cenas “antropológicas”, de caráter eminentemente
etnográfico, há uma distância considerável que pode ser traduzida e interpretada não pelo
anonimato, mas pela pluralidade e pela concentração, pelo burocratismo e ainda mais, pela cor,
que é como uma reclusa senhora em suas pinturas históricas enquanto em todas as outras é uma
adolescente drapejada pelo sol dos trópicos. E isso não somente nas cenas de exteriores.
Embora alguns autores atribuam essa degenerescência das cenas “históricas” de
Debret produzidas no Brasil a uma inquestionável diferenciação qualitativa dos produtos
disponíveis por aqui, como tintas e materiais diversos e, sobretudo realçando a distinção de
técnicas utilizadas pelo artista para as chamadas cenas “etnográficas” sejam realmente
significativas (enquanto as primeiras eram produzidas a óleo e em grandes dimensões, as
segundas eram aquarelas, realizadas de modo rápido, quais instantâneos do cotidiano), o fato é
que a análise deve penetrar muito mais verticalmente em seus propósitos e em sua peculiar
investidura e trajetória de pintor histórico.
O anedótico, porque documental, o pitoresco, mais no sentido que lhe é atribuído
39
pelo século XIX, de pictórico, convergem para camuflar uma realidade que parecia incompatível
com os ideais neoclássicos. Todavia, em sua busca pela harmonia, pela regularidade de uma
estética que não desprezasse completamente seu conteúdo ético, Debret instala a ambiguidade.
Não parece restar dúvidas de que tenha sido em Guillobel (Figura 3) em quem ele irá
se inspirar.
Suas figuras, suas ruas e seus castigos terão muito de uma contingência e de uma
aceitação que não passarão desapercebidas. Comparemos algumas obras desses dois artistas com
um terceiro, Paul Harro-Hering, cuja visão da escravidão é mais crítica. Se aproximarmos as
imagens de castigo (Figura 4) de Debret da de Harro-Hering, essa clareza parece se transformar
em aceitação por parte do primeiro. O grupo de pessoas que observa a punição estaria submetido
a uma espécie perversa de aula. É seu caráter pedagógico que Debret surpreende. Ao fazê-lo está
como que reafirmando a inevitabilidade dessa história, herdada de outro tempo. Já Paul HarroHering (Figura 5), um humanista e um revolucionário que cruzava o mundo, todo o horror da
escravidão vêm à tona, marcado pelas cores de seus protagonistas. De um lado, o branco
cadavérico dos senhores, de outro, o azulado dos anjos. A solidão em que se desenrola a cena
possibilita identificar rasgos de vontade, humilhações privadas, enfim, a marca de um sistema que
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
tinha em sua gênese a propriedade de um homem por outro homem, mas não de um homem por
uma vítima.
40
Figura 4
Fonte: Debret.J.B.Viagem pitoresca e histórica ao Brasil Tomo 2. Belo Horizonte, Itatiaia, 1989, E.92. p.45 É impossível não comparar a Coroação com a obra de David, A coroação do imperador e da
imperatriz (Figura 6), de 1805-1807. Para compreendermos a aproximação de Debret a David,
devemos retomar as condições singulares que compuseram ambas as coroações. Se Napoleão fez
questão de romper com todos os grilhões da tradição ao “coroar-se”, D. Pedro I afastou-se da
tradição, que prescrevia, desde a morte de D. Sebastião, a não coroação dos reis portugueses,
atrelado à idéia de que seria coroado apenas aquele destinado a restituir o esplendor mítico que o
sebastianismo havia acumulado.
Quanto às cores, sua importância, para além da estética do quadro de Debret, mas
caminhando pelo simbolismo de sua natureza, pode nos auxiliar na compreensão de signos que
ainda hoje são promotores de confusão.
A cor vermelha, predominante no quadro, interior da capela no Campo de Santana é,
contrariando nossa tradição escolar, a cor da casa de Bragança. O que nos remete, imediatamente,
à bandeira do Império. As cores verde e amarela para identificar o Estado e a Nação ainda não
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
encontraram intérprete que as arrazoasse a contento. Parece terem sido concebida por D. Pedro I
e por Debret2, que assim a descreve:
As armas imperiais do Brasil, pintadas na bandeira, consistem em um escudo
verde encimado por uma coroa imperial, no meio do qual uma esfera celeste
dourada enfeixa a cruz da ordem de Cristo. É essa esfera cercada por um círculo
composto de dezenove estrelas de prata sobre campo azul-celeste,
correspondentes às províncias do império brasileiro. Dois ramos, um de café
com flores e frutos, colocado à esquerda, e outro de tabaco, também em flor,
colocado à direita, reúnem-se em sua extremidade inferior pela roseta nacional e
servem de suporte ao escudo plantado no meio de um losango amarelo-ouro que
ocupa todo o centro da bandeira. (DEBRET, op. cit. , p. 212)
41
Figura 5
Fonte: Harro-Harring, Paul. Inspection de Negrèsses Nouvellement Debarquées de l’Afrique. In: Esboços Tropicais do Brasil.
São Paulo, Instituto Moreira Salles, 1996, catálogo, p.6 As cores não tiveram seu significado revelado. Quanto ao losango no interior de um
retângulo, mesmo esquema utilizado para realçar seu aspecto revolucionário, parece caracterizar
essa permanente ambiguidade que recompunha, juntamente com os rituais, uma tensão entre a
Sobre os autores da bandeira brasileira ver Taunay, Visconde de. Estrangeiros ilustres e prestimosos. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do Brasil, tomo LVIII, parte 2, 1895, p.
228. Rubens, Carlos. Pequena história das artes plásticas no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional (Brasiliana), 1941,
p.54. Viana, E. C. A. Das artes plásticas no Brasil em geral e na cidade do Rio de Janeiro em particular. Revista do Inst. Hist. e
Geo. Bras., Imprensa Nacional, tomo LXXVIII, parte 2, 1915, p. 550. Guimarães, Argeu. História das artes plásticas no
Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, tomo especial
(Congresso Internacional de História da América, 1922), vol. 9, 1930, p. 449. Este último autor afirma que a
colaboração fora entre José Bonifácio e Debret o que, para os objetivos deste estudo, pouco importa.
2
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
ruptura e a continuidade, entre a separação, bem demarcada, e a união, contida na própria figura
do imperador.
42
Figura 6
Fonte: David, Jacques-Louis. A coroação do imperador e da imperatriz. 1805-07. Óleo sobre tela, 629x979cm. Louvre, Paris. in:
NAVES, R. op.cit., p.65 A questão da continuidade ou ruptura entre os símbolos da entronização3, está
disposta em duas fases centrais: a aclamação e a coroação. Vamos retomá-la, pois. A primeira,
com seu caráter eletivo, constituída de desfile de tropas, voto do Senado da Câmara, aceitação
pelo Imperador, vivas aclamatórios, após a aparição na varanda, beija-mão e o Te Deum. A
segunda como investidura da coroação-sagração, seu referencial dinástico e hereditário. Nesta
segunda cerimônia, importante repetir que, desde o desaparecimento do rei D. Sebastião em
Alcácer-Quibir, e com ele desaparecera também sua coroa no Norte da África, todos os reis
portugueses se absteriam da coroação, cuja peça repousaria placidamente numa almofada, ao lado
do trono, durante toda a cerimônia.
Vários serão os autores que tratarão desta questão em particular e, de modo mais amplo, dos rituais e elevamento
em geral. Podemos destacar Iara Lis Souza, Ângela Miranda Cardoso, Maria Euryidice Ribeiro e Jurandir Malerba,
dentre outros.
3
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Em mais de uma ocasião Debret se autodenomina “pintor de história” e isso tem
como consequência o peso de sua obra. Testemunha do que pinta, uma vez mais a mimese
inflama a reputação do texto imagético, tal qual uma autorização de veracidade, uma chancela
caprichosa do olhar isento, o que sua condição de estrangeiro referendava, capaz de carregar de
legitimidade toda a obra:
A fim de não perder, na medida do possível, o meu caráter de pintor de história,
vali-me do antigo cerimonial dos reis de Portugal para representar d. João VI em
uniforme real, de pé sobre um pavês... (ibidem, p. 223)
Mesmo quando opera no estrito âmbito da alegoria, Debret o faz seguindo critérios
miméticos, como podemos acompanhar no pano de boca (Figura 7) feito para as celebrações da
Independência:
43
Figura 7
Fonte: Debret, vol. 3. E.144. p.49 Feita para o Teatro São João durante os festejos da Independência, a obra encabeça as
alegorias do período e aponta para um ideal e harmonia em tudo negador de uma realidade
sinistra para as entidades retratadas ali. O entusiasmo ali contido, no entanto, apresenta pela
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
primeira vez uma caracterização regional que irá romper o significado da Independência,
constituindo-se na futura e sempre presente ameaça de fragmentação de um território quase
continental. Debret assim se expressa sobre a imagem:
E a regeneração nacional imprimiu repentinamente no estilo do elogio, português
de origem, a marca viril do paulista e do mineiro, cuja veracidade espiritual mais
de uma vez apavorara os antigos ministros de Lisboa. Em tais circunstâncias,
sentiu o diretor do teatro, mais do que nunca, a necessidade de substituir a
pintura de seu antigo pano de boca representando um rei de Portugal cercado de
súditos ajoelhados.(ibidem, p. 259)
Debret retrata tanto paulistas quanto mineiros com suas vestimentas características.
Essa singularidade regional, no entanto, está sujeita a um estatuto de fidelidade ao novo governo
imperial. Mais uma vez Debret enfatiza essa distinção, acrescentando o agrado ao Imperador:
44
Contudo, na véspera da coroação, o imperador e o primeiro-ministro vieram
incógnitos ao teatro, à noite, para ver o pano no lugar, completamente acabado.
Felicitaram-me pela energia e caráter de cada figura, em que eu conservara a marca e o
aspecto da província natal. (ibidem - grifo meu)
Por seu caráter complexo, as províncias do Brasil, até 1822 tiveram ritmos bastante
distintos, em seu aspecto econômico, populacional, cultural ou das políticas da metrópole, o que
acarretou aspectos de visualidade e de identificação igualmente distintos.
Pensarmos no número de línguas indígenas então existentes no Brasil pode nos dar
uma idéia dessa complexidade. Cerca de 340 línguas, calculam os linguistas, cruzavam o território
numa espécie de Babel edênica. Enquanto isso, os territórios meridionais sofriam tanto a
influência espanhola quanto guarani. Franceses e holandeses inscreveram sua marca tanto no
nordeste quanto no Maranhão. Especificamente em São Paulo, dado seu isolamento, a língua
mais comum era a denominada “língua geral”. Karib, tupi, arauaque, jê, tupi-guarani eram faladas
numa geografia que cobria de norte a sul o território. Os costumes africanos, em toda sua
variedade, marcaram igualmente onde sua presença de tornou efetiva. Cabindas, Hauçás, Fula,
Mandinga, Fanti-Achanti; outros grupos vindos de Gâmbia, da Costa do Marfim, Angola,
Moçambique, Daomé, Serra Leoa, Costa da Malagueta, abrigados por vezes juntos para facilitar o
controle dos senhores, compuseram um mapa que pode nos fornecer uma idéia das imensas
fraturas que foram, ao longo do tempo, se acomodando. Como o nheengatu, proibido de ser
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
falado ao tempo de Pombal, preocupado já com toda essa diversidade. (Cf.: VILLALTA, apud
SOUZA, 1997, pp. 331-386)
Assim, se aos representantes do poder agradara ver uma pequena parcela desta
enorme distinção e heterogeneidade estampada no Pano de Boca produzido por Debret, deve
igualmente ter refletido sobre o como homogeneizar o mais possível aquele “todo” que a fratura
da Independência ameaçava.
A Independência (ou talvez, melhor, a convicção bragantina) viria tentar uma reunião,
seja pelo Poder Moderador, seja pelo centralismo político na década de 1840, de fatores e
mentalidades muito distintas. É nesse contexto que devemos entender toda a produção de
símbolos que veremos a partir de agora.
A ambiguidade de que Debret é porta-voz ainda não nos abandonou. Está inscrita em
nossa cultura com tal afinco que poderíamos identificá-la com alguma espécie de tributo. Ao
romper o cerco que a escola portuguesa havia imposto ao grupo francês, Debret fez mais do que
poderia então imaginar: impor uma rigorosa arquitetura estética que, de um lado, reforçava a
importação de modelos europeus, e, de outro, pendia para um registro eminentemente francês.
45
Muito mais tarde, Joaquim Nabuco haveria de estampar os dilemas que esta ambiguidade
representava, já suficientemente amadurecida nesta célebre passagem do seu Minha Formação:
Estamos (...) condenados à mais terrível das instabilidades, e é isso o que explica
o fato de tantos sul-americanos preferirem viver na Europa (...) Não são os
prazeres do rastaquerismo, como se crismou em Paris a vida elegante dos
milionários da Sul América; a explicação é mais delicada e mais profunda. É a
atração das afinidades esquecidas, mas não apagadas, que estão em todos nós, da
nossa comum origem europeia. A instabilidade a que me refiro provém de que na
América falta à paisagem, à vida, ao horizonte, à arquitetura, a tudo o que nos
cerca, o fundo histórico, a perspectiva humana; e que na Europa nos falta a
pátria, isto é, a forma em que cada um de nós foi vazado ao nascer. De um lado
do mar, sente-se a ausência do mundo; do outro, a ausência do país. O
sentimento em nós é brasileiro, a imaginação, europeia. (NABUCO, 1967, p. 47)
Algum tempo depois, Mário de Andrade chamaria tal ambiguidade de “doença de
Nabuco”, que somente poderia ser curada com boas doses de nacionalismo. Embora nem
mesmo Mario de Andrade pudesse ter escapado de alguma dose de ambiguidade.
Quando pensamos nas questões referentes aos mitos de origem, o primeiro que nos
vem à mente é o mito da antropofagia.
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
Porém, este é um mito exterior. Lembremos Montaigne, Dos Canibais, e sua origem
pode nos remeter a Marco Pólo, em que encontramos os homens com cabeça de cachorro que
vivem fora dos muros da cidade – civitas, civilização. Todavia, a despeito de sua horrorosa
deformidade natural, esses seres auxiliam os homens da cidade.
As implicações que levam Montaigne a escrever Dos Canibais estão intrinsecamente
ligadas a essa ambivalência, que de algum modo seria recuperada, em 1922, pelos modernistas,
principalmente em Macunaíma.
Mas aí já constará nossa própria versão desse mito, a indefinição.
Negro, branco..., todavia não nasce aí, mas em Brás Cubas, de Machado de Assis:
morto, vivo...A indefinição, ou a ambiguidade, se quisermos, parece ser uma marca, um legado,
do nosso século XIX.
Não seria nossa origem europeia a responsável pela “doença de Nabuco”, mas nossa
proximidade simbólica, nosso léxico artístico comum com a França?
Um decreto de 2 de dezembro de 1837 transformava o Seminário de São Joaquim no
Colégio D. Pedro II em colégio de instrução secundária cujas disciplinas seriam Latim, Grego,
46
Francês, Inglês, Filosofia e Retórica. (Cf.: ALMEIDA, 2000, p. 86) Esta talvez tenha sido a
primeira vez que tanto o Francês quanto o Inglês fizeram parte de uma instituição pública de
ensino, que até então tinha centrado sua atenção quase que exclusivamente nas chamadas letras
clássicas. Quase vinte anos depois, por volta de 1856, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva
reclamava do absoluto abandono que as artes contabilizavam no Brasil num discurso em 23 de
novembro, no Museu Nacional. (ibidem, p. 193)
Funda-se, então, a Sociedade Promotora das Belas-Artes que publica a revista Brasil
Artístico, que terá apenas sete números. O primeiro número é de 25 de março do ano seguinte.
Em 9 de janeiro de 1858, a mesma sociedade funda o Liceu de Artes e Ofícios. Seu currículo
compreendia Aritmética, Álgebra, Geometria, Física, Química, Mecânica, Desenho, Escultura,
Estatuária, Gravura, Pintura, Português, Francês, Inglês, História nacional, Caligrafia, Filosofia,
História da Arte, Música. (ibidem, p. 194)
Num decreto de 1º de março de 1876 a língua francesa assume hegemonicamente seu
lugar no currículo do Colégio Pedro II e, a 30 de novembro se estenderá para todas as escolas
gratuitas brasileiras, excluindo o inglês da grade curricular.
Esse não era o apogeu dessa língua entre nós. Almeida oferece este depoimento:
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
O ensino de línguas estrangeiras felizmente está bem desenvolvido no Brasil. O
estudo do francês figura na primeira linha e é justo porque, com o assentimento
de todos os povos civilizados, é a língua mais exata e, por esta razão, foi
unanimemente escolhida como língua diplomática. A maioria dos livros
estudados e consultados pelos alunos de nossas Faculdades de Direito e de
Medicina, ou das nossas Escolas Politécnicas, de Marinha etc, são obras
francesas. (ALMEIDA, op. cit. p. 164)
Por volta desse período, inícios da segunda metade do séc. XIX, tais estudos já se
encontram em relativo declínio, como o próprio autor aponta.
Se há, hoje, menos pessoas falando francês do que havia durante a primeira
metade do século atual, ainda há um número muito grande dos que leem e
compreendem bem esta língua. Se não se fala mais tão facilmente nem tão bem,
como outrora, é porque os professores de francês passaram a ensinar em
português; disto resulta que um aluno possa saber perfeitamente as regras da
língua francesa, mas é quase sempre incapaz de relatar qualquer delas, em francês.
Os mestres e os editores decidiram escrever e publicar as Grammaticas Francezas e
os alunos hoje se contentam em traduzir sem se preocupar em falar. Os exames
estão sujeitos a esta tendência e se fazem em português. (ibidem)
47
Tudo indica que as exigências diplomáticas de uma língua hegemônica haviam sido
posteriores a um primeiro influxo que a língua francesa teve na sociedade pensante da primeira
metade do século XIX, tempo de Debret e dos franceses engajados na Academia Imperial de
Belas-Artes.
As raízes de nossa relação sempre tensionada com as culturas estrangeiras estariam
densamente fixadas num momento em que esta cultura exógena criava símbolos duradouros de
uma recém-nascida autonomia. Afirmá-la seguindo padrões determinados não seria suficiente
para calar, quando esta fórmula aparentemente se esgotasse.
Poderíamos creditar o vírus da “doença de Nabuco” a Debret e a sua poderosa
fundação de uma narrativa visual não totalmente francesa, mas já impregnada de uma leitura
afrancesada do nacional, com as três raças tristes reveladas por um pincel importado. A imagem
acalenta o porvir e se tange de uma outra equação: é diorama suntuoso, já avançado em
dimensões outras no plano da ideologia.
Eduardo Antonio Bonzatto
REVISTA LUMEN ET VIRTUS
ISSN 2177-2789
VOL. II
Nº 4
MAIO/2011
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARDOSO, Angela Miranda. Ritual: princípio, meio e fim. Do sentido do estudo das cerimônias de
entronização brasileiras. Seminário Internacional Brasil: formação do Estado e da nação (c.17701850). São Paulo: USP, 3 a 8 de setembro de 2001.
DEBRET, J.B. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tomo terceiro. Belo Horizonte, Itatiaia, 1989.
NAVES, R. A forma difícil. São Paulo: Ática, 1996.
LIMA, Luiz Costa. Vida e mimesis. São Paulo: Ed. 34, 1995.
TAUNAY, Visconde de. Estrangeiros ilustres e prestimosos. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do Brasil, tomo LVIII, parte 2,
1895.
RUBENS, Carlos. Pequena história das artes plásticas no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional
(Brasiliana), 1941.
VIANA, E. C. A. Das artes plásticas no Brasil em geral e na cidade do Rio de Janeiro em particular. Revista
do Inst. Hist. e Geo. Bras., Imprensa Nacional, tomo LXXVIII, parte 2, 1915.
48
GUIMARÃES, Argeu.
História das artes plásticas no Brasil. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, tomo especial (Congresso
Internacional de História da América, 1922), vol. 9, 1930.
VILLALTA, Luiz Carlos. O que se fala e o que se lê : língua, instrução e leitura. In: Souza, Laura de
Melo e (org.). História da Vida Privada no Brasil, Vol. 1. São Paulo: Cia das Letras, 1997.
NABUCO, J. Minha formação. Rio de Janeiro. José Olímpio, 1967.
ALMEIDA, J.R.P. Instrução pública no Brasil (1500-1889): história e legislação. São Paulo, Educ, 2000.
Eduardo Antonio Bonzatto