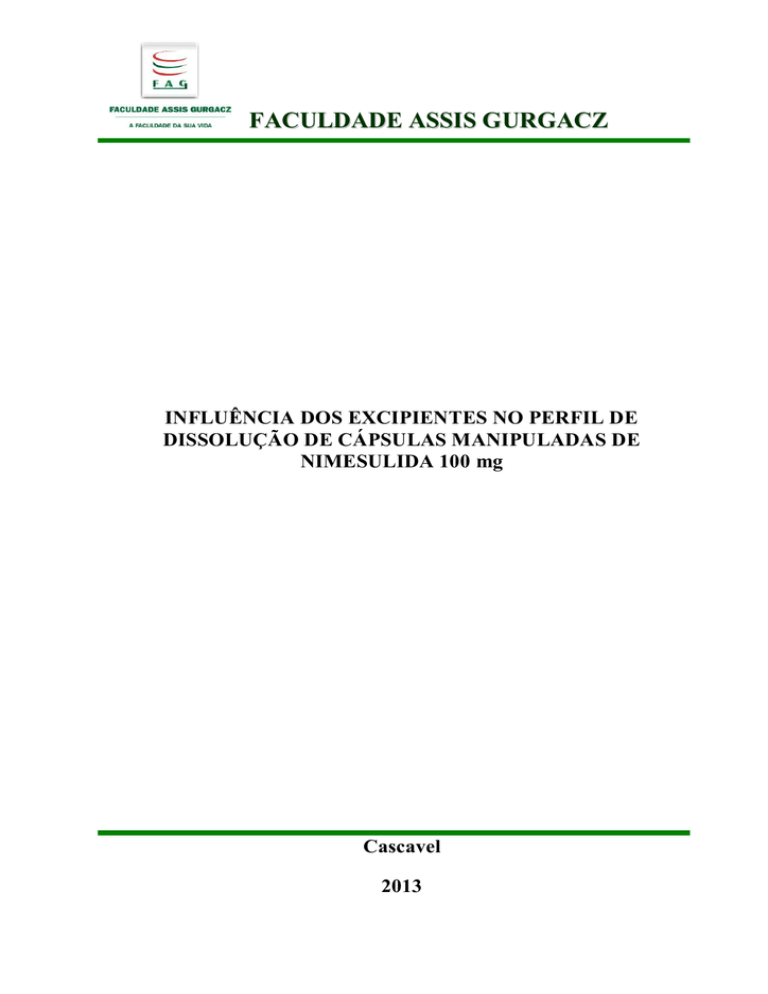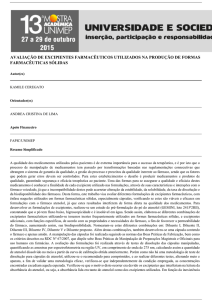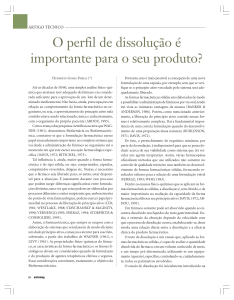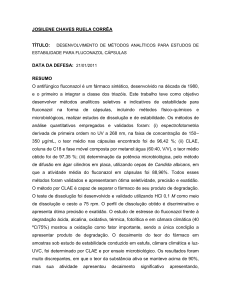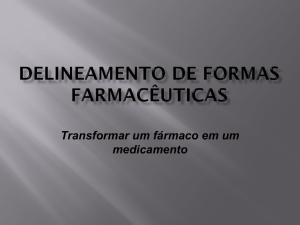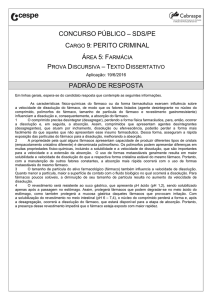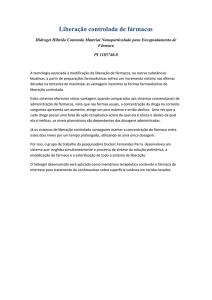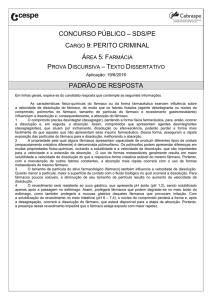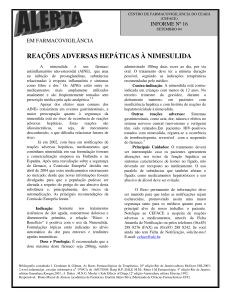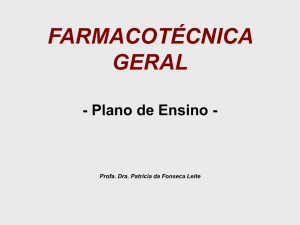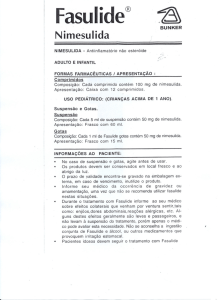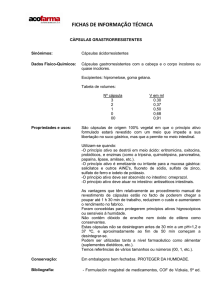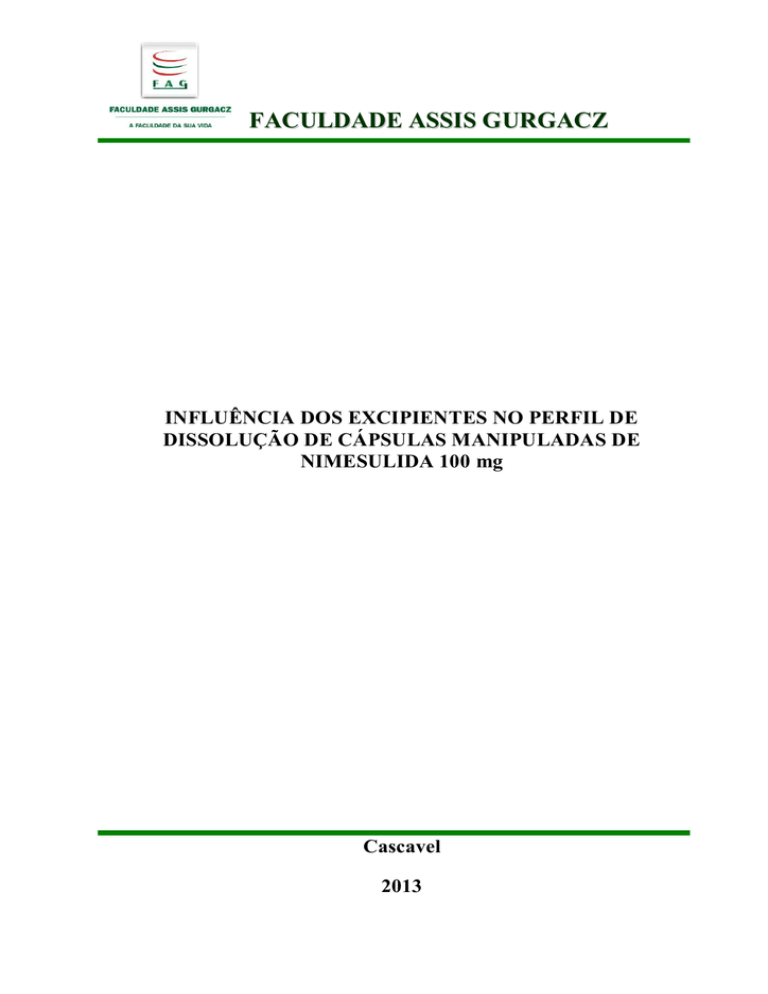
FACULDADE ASSIS GURGACZ
INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE
DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS MANIPULADAS DE
NIMESULIDA 100 mg
Cascavel
2013
GEOVANA SANTOS
INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE
DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS MANIPULADAS DE
NIMESULIDA 100 mg
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade Assis Gurgacz, FAG, Curso de
Farmácia.
Professor Orientador: Giovane Douglas
Zanin.
CASCAVEL
2013
FACULDADE ASSIS GURGACZ
GEOVANA SANTOS
INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS
MANIPULADAS DE NIMESULIDA 100 mg
Trabalho apresentado no Curso de Farmácia da Faculdade Assis Gurgacz, como
requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Farmácia, sob a orientação do
Professor Esp. Giovane Douglas Zanin.
BANCA EXAMINADORA
___________________________________
Prof. Esp. Giovane Douglas Zanin
__________________________________
Emerson Machado
FAG
__________________________________
Yara Jamal
FAG
Cascavel, 08 de novembro de 2013.
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho aos meus pais, que investiram em minha formação e de muitas formas
me apoiaram, confiaram e deram forças para que eu pudesse chegar até aqui. E dedico
também a todas as pessoas que eu amo presentes em minha vida.
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus, por me iluminar e permitir viver para que eu pudesse
finalizar mais uma etapa.
Aos meus pais, pois sem eles nada disso seria possível. Agradeço principalmente pela
confiança depositada em todos os anos de estudo e constante incentivo.
Agradeço imensamente e infinitamente ao meu namorado, que esteve comigo desde o começo
dessa caminhada e por todos os dias ouviu meus medos e angústias. Obrigada pela
compreensão, apoio e pelo carinho. Te amo.
Ao meu professor orientador Giovane Zanin, pela colaboração com o estudo, pela
credibilidade, atenção, compreensão e pela paciência. Agradeço por todos os seus
ensinamentos, desde o começo do curso, os quais contribuíram muito na elaboração desse
trabalho e com certeza contribuirão muito na minha vida profissional.
A todos os meus professores da faculdade, pela sabedoria transmitida. Em especial àqueles
que fizeram de suas aulas muito mais do que uma obrigação, e repassaram seus
conhecimentos com amor, construindo uma amizade que para sempre será lembrada.
Á nossa querida coordenadora Patrícia, que não está medindo esforços para melhorar o curso
a cada dia.
As minhas amigas, Ana Cristina e Rafaela, meus presentes da faculdade. Agradeço pelo riso
de cada dia, que muitas vezes foram o suficiente para melhorar um momento ruim. Obrigada
por estarem comigo sempre, nas vitórias e derrotas. Obrigada pela confiança que pude ter em
vocês. E principalmente obrigada por existirem. Com certeza durante esses quatro anos fomos
melhores juntas.
Aos meus amigos, Vinícius e Jorge, pelo companheirismo na minha rotina diária, tornando-a
mais divertida. Obrigada Vini por estar sempre presente, desde o começo da faculdade, pelas
conversas, risadas e cumplicidade, e Jorge, obrigada por ser nosso “King”.
Aos meus colegas, mais próximos e também os mais distantes, por ser a minha turma. Turma
que jamais será esquecida e jamais poderá ser substituída. Não seria a mesma sem vocês.
Agradeço aos demais amigos e pessoas que de alguma forma participaram, mesmo que
indiretamente, de toda a minha caminhada até a conclusão do curso.
E por fim, às técnicas de laboratório, em especial Raquel e à Thais, que estiveram presentes
na realização das minhas análises e me auxiliaram de todas as maneiras que puderam.
“If you never try, you’ll never know.”
Coldplay
SUMÁRIO
REVISÃO DA LITERATURA................................................................................................09
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................................31
ARTIGO....................................................................................................................................37
NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA..................................................................................57
9
REVISÃO DA LITERATURA
INFLAMAÇÃO
A inflamação ou flogose (do latim inflamare e do grego phlogos, que significam pegar
fogo) apresenta-se como uma reação nos tecidos a um agente agressor, a qual se caracteriza
morfologicamente pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício. A resposta
inflamatória representa um dos componentes mais importantes da execução das respostas
imunes, fazendo parte dos mecanismos defensivos contra inúmeras agressões (FILHO, 2009).
Sendo fundamentalmente um mecanismo de defesa, a inflamação possui como objetivo
final a eliminação da causa inicial da lesão celular (por exemplo, microorganismos e toxinas)
e das conseqüências de tal lesão (por exemplo, células e tecidos necróticos).
Sem a
inflamação, as infecções se desenvolveriam descontroladamente, as feridas jamais se
cicatrizariam e o processo destrutivo nos órgãos atacados seria permanente (ROBBINS;
COTRAN, 2005).
As respostas de defesa são geralmente benéficas ao organismo e agem para limitar a
sobrevivência e a proliferação dos patógenos invasores, promoverem a sobrevivência do
tecido, reparo e recuperação, e conservar a energia do organismo (LIMA et al., 2007).
As características clínicas da inflamação são descritas há muito tempo pelos papiros
egípcios, porém, Celso, um escritor romano do século I d.C., foi o primeiro a listar os quatro
sinais cardinais definidos pelos sintomas: rubor, tumor, calor e dor, os quais são tipicamente
mais proeminentes na inflamação aguda do que na crônica. O rubor e o calor são explicados
pela hiperemia ativa, em que há maior afluxo de sangue arterial, o tumor, pelo exsudato
infiltrando os tecidos e a dor, pela compressão das terminações nervosas pelo exsudato e por
sua lesão causada pelas toxinas bacterianas (ROBBINS; COTRAN, 2005; FARIA, 2003).
A inflamação tem sido historicamente denominada aguda ou crônica, dependendo da
persistência da lesão, sintomas clínicos e natureza da resposta inflamatória. As características
mais importantes da inflamação aguda incluem o acúmulo de líquidos e componentes do
plasma no tecido afetado, a estimulação intravascular das plaquetas e a presença de leucócitos
polimorfonucleares. Em contrapartida, os componentes celulares característicos da inflamação
crônica são os linfócitos, plasmócitos e macrófagos (ROBBINS; COTRAN, 2005).
As inflamações agudas possuem inicio rápido, com sinais cardeais evidentes, duração
curta (um a dois dias) e presença de exsudato. É uma resposta rápida a um agente nocivo
10
encarregada de levar mediadores de defesa do hospedeiro – leucócitos e proteínas plasmáticas
– ao local da lesão, as quais podem ser desencadeadas por diversos estímulos, como infecções
(bacterianas, virais, parasitárias) e toxinas microbianas; trauma; agentes físicos e químicos
(lesão térmica), corpos estranhos (farpas, terra, suturas) ou pelas reações imunológicas,
também chamadas de reações de hipersensibilidade. O resultado final pode ser a cura, com ou
sem cicatrização, ou a evolução para inflamação crônica se o patógeno ou a substância nociva
persistirem (RANG et al., 2003; ROBBINS; COTRAN, 2005; FARIA, 2003).
A inflamação crônica possui sinais inflamatórios discretos e de longa duração, podendo se
prolongar por meses ou até anos. Apesar de poder ser a continuação de uma inflamação
aguda, a inflamação crônica, na maioria das vezes, começa de maneira insidiosa como uma
reação pouco intensa, geralmente assintomática. Este tipo de inflamação é a causa de dano
tecidual em algumas doenças, como a artrite reumatóide, arteriosclerose e tuberculose. As
causas mais comuns desta inflamação são as infecções persistentes, as exposições
prolongadas a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos ou a auto-imunidade (ZAGO, 2011;
FARIA, 2003).
A resposta inflamatória inclui a participação de diferentes tipos celulares, tais como
neutrófilos, macrófagos, mastócitos, linfócitos, plaquetas, células dendríticas, células
endoteliais e fibroblastos, entre outras. Durante a infecção, a quimiotaxia é um importante
evento para o recrutamento de células para o sítio de inflamação. As primeiras células a
chegar ao tecido lesado são os neutrófilos e, posteriormente, os macrófagos teciduais (LIMA
et al., 2007).
A ativação da cascata inflamatória ocorre a partir da ação da fosfolipase A2, que leva à
formação do ácido araquidônico. A partir deste ponto ocorre a ação da enzima Cicloxigenase2 (induzida na sua maioria pelo processo inflamatório), e sequente produção de
prostaglandinas e citocinas pró-inflamatórias que desempenham importante papel no
desenvolvimento e manutenção do processo inflamatório. Um medicamento antiinflamatório
somente possui efeito terapêutico se ele for capaz de reduzir a atividade da COX-2 e da
conseqüente produção de prostaglandinas inflamatórias (FLORY; LEBLANC, 2005).
Durante o processo de inflamação, os macrófagos, neutrófilos e as células teciduais
lesadas liberam uma variedade de substâncias oxidantes, produzindo em grande quantidade
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, induzindo em abundância fatores transcricionais,
que estimulam a produção de uma segunda onda de produtos gênicos que codificam enzimas
com capacidade de eliminar radicais livres (catalase), com atividade de reparo tecidual
11
(colagenase), bem como a produção de citocinas, receptores de superfície celular, moléculas
de adesão, fatores de crescimento e outros mediadores inflamatórios (DRAY, 1995).
Além da formação destas espécies reativas de oxigênio, uma série de substâncias
endógenas, denominados de mediadores, são produzidas no processo inflamatório, podendo
incluir principalmente a bradicinina, serotonina, produtos da cascata do ácido araquidônico,
histamina, adenosina, neuropeptídeos e citocinas (CARVALHO; LÊMONICA, 1998).
Uma vez liberados, esses mediadores promovem uma alteração no mecanismo de
transdução periférica do estímulo nociceptivo, aumentando a sensibilidade de transdução dos
nociceptores de elevado limiar, com conseqüente redução no limiar de percepção do estímulo
doloroso, exagerada resposta a estímulos nociceptivos supralimiares (hiperalgesia) e dor
espontânea (alodínia) (BONICA, 1990; MEYER, 1994 apud CARVALHO; LÊMONICA,
1998).
Mesmo que a resposta inflamatória tenha como objetivo remover o agente agressor e
restaurar a função tecidual, em certas condições, esta lesão local pode causar efeitos
debilitantes, muitas vezes resultantes da entrada de um patógeno na corrente sanguínea,
resultando na ativação sistêmica dos sistemas de mediadores no plasma e nas celulas
inflamatórias. Dentre essas manifestações sistêmicas incluem a febre, o choque, a leucocitose
e a leucopenia (ROBBINS; COTRAN, 2005).
Muitas doenças envolvem inflamação e esta pode ser a causa de dano tecidual em algumas
doenças, como ocorre na esclerose múltipla, doença de Alzheimer, artrite reumatóide, lúpus
eritematoso sistêmico, lesão do cérebro e medula espinal e acidente vascular encefálico
(CORAY; MUCKE, 2002).
O conhecimento da fisiopatologia da dor, com a identificação precisa dos mediadores
inflamatórios liberados e seus mecanismos moleculares de hiperalgesia, é de fundamental
importância no desenvolvimento das drogas analgésicas modernas de maior seletividade e de
menor toxicidade (CARVALHO; LÊMONICA, 1998).
Nessa situação, faz-se necessário o uso de fármacos com atividade antiinflamatória, os
quais irão interferir em uma ou mais etapas da cascata de eventos, que caracterizam a resposta
inflamatória, particularmente, aquelas que se relacionam com os mecanismos de adesão e
migração dos leucócitos (COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1994).
12
ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS
Os principais agentes antiinflamatórios são representados pelos glicocorticóides e pelos
agentes antiinflamatórios não-esteroidais (AINE). Os agentes antiinflamatórios nãoesteroidais (AINE) estão entre os agentes terapêuticos mais amplamente utilizados no mundo
inteiro. Os AINE abrangem uma variedade de agentes que pertencem a diferentes classes
químicas, onde a maioria desses fármacos além de efeito antiinflamatório apresentam efeito
analgésico e antipirético. Em geral, todos esses efeitos estão relacionados à ação primária dos
fármacos, sendo a inibição da araquidonato ciclooxigenase e, portanto, inibição das
prostaglandinas e tromboxanos (RANG et al., 2003).
Segundo
descrito
por
Rang
(2007),
os
AINE’s
têm
três
ações
principais
farmacologicamente desejáveis, fundamentadas na supressão da síntese de prestanóides em
células inflamatórias através da inibição da isoforma ciclooxigenase COX-2 da COX do ácido
araquidônico, sendo elas as seguintes:
Ação antiinflamatória: a diminuição da prostaglandina e da prostaciclina reduz a
vasodilatação e, indiretamente, o edema, porém, o acúmulo de células inflamatórias
não é reduzido;
Efeito analgésico: eficaz contra a dor leve ou moderada, diminuindo a produção de
prostaglandinas
significando
menos
sensibilização
de
terminações
nervosas
nociceptivas aos mediadores inflamatórios, como a bradicinina. Sua capacidade de
aliviar a cefaléia pode estar relacionada a diminuição do efeito vasodilatador mediada
pelas prostaglandinas e;
Efeito antipirético: os AINE’s exercem sua ação antipirética inibindo a produção de
prostaglandinas no hipotálamo, onde as mesmas elevam o ponto de ajuste para o
controle da temperatura.
A ciclooxigenase é a enzima chave para síntese dos prostanóides e tromboxanos. Os
prostanóides são mediadores celulares que modulam uma enorme variedade de processos
fisiológicos e patológicos através de receptores de membrana localizados na superfície das
células alvo. Estas sustâncias têm importante função homeostática na proteção da mucosa
gástrica, fisiologia renal, gestação e agregação plaquetária, além de terem sua produção
induzida em condições como inflamação e câncer (FITGERALD, 2002 apud MOREIRA,
2009; FITZPATRICK; SOBERMAN, 2001).
13
Sendo assim, Bombardier et al. (2000), cita que através da inibição da COX, os AINE’s
produzem os efeitos terapêuticos, mas também, numa maior ou menor extensão, alguns
efeitos adversos como ulcerações, sangramentos, perfurações e obstruções gastrintestinais.
A enzima ciclooxigenase apresenta duas isoformas intituladas como COX-1 e COX-2. A
partir de descobertas que rotulavam a COX-1 como agente citoprotetora gástrica e
mantenedora da homeostase renal e plaquetária e a COX-2 indutiva, que surgia apenas em
situação de trauma tissular e inflamações, surgiu a idéia de que inibidores específicos da
COX-2 impediriam o processo inflamatório sem os efeitos colaterais indesejáveis, advindos
do bloqueio inespecífico da COX (KUMMER; COELHO, 2002).
Os AINE’s ligam-se fortemente a proteínas plasmáticas após a absorção, permanecendo
no plasma e fluidos extracelulares, especialmente por se mostrarem ionizados em sua maior
parte. Como em sua maioria são ácidos fracos, apresentam alta afinidade pelo foco
inflamatório devido ao baixo pH nesses pontos favorecendo a altas concentrações dessas
drogas. Devido a essa acidez, são mais facilmente excretados em urina básica (herbívoros)
sendo uma característica importante nos casos de intoxicações por essas drogas quando a
administração de substâncias alcalinas, como o Bicarbonato de Sódio, favorece a excreção. O
que irá diferenciar os AINE’s no que se refere à potência de inibição da inflamação, dor e
febre
são
suas
características
inibitórias
sobre
determinadas
enzimas,
a
sua
biodisponibilidade, biotransformação e eliminação do organismo nas diferentes espécies
animais (STEGALL, 2005 apud MURO et al., 2008).
Os primeiros AINE’s desenvolvidos, como a indometacina, o naproxeno e o ibuprofeno,
eram inibidores não seletivos das isoformas de COX e, apesar de terem eficácia comprovada
quanto ao efeito antiinflamatório evidenciado, têm uso contínuo limitado devido a efeitos
adversos gastrintestinais como displasia e dor abdominal, além de perfuração ou sangramento
gastroduodenal em menor proporção. Esses efeitos adversos apresentados são oriundos da
inibição isoforma COX-1. Desse modo, a descoberta da segunda isoforma permitiu o
desenvolvimento de uma subclasse de AINE’s, sendo os inibidores seletivos para COX-2 que
apresentam o efeito terapêutico com a mesma eficácia, sem provocar os efeitos adversos
indesejáveis. Entre esses novos AINE’s pode-se incluir o celecoxibe, lumiracoxibe e
etoricoxibe, indicados principalmente no tratamento da osteoartrite, artrite reumatóide, dor
aguda e alívio dos sintomas de dismenorréia primária. Apesar de amplamente comercializados
no mundo, os AINE’s COX-2 seletivos são de difícil obtenção por estarem sob proteção
patentária (BOMBARDIER et al., 2000; SILVERSTEIN et al., 2000)
14
Segundo Mello (2004), a terapia com antiinflamatórios, na tentativa de diminuir a
atividade da COX-2 bloqueando o processo inflamatório, pode acabar por bloquear a
atividade da COX-1, o que é indesejável, possibilitando a ocorrência de efeitos colaterais.
Este risco é maior à medida que os antiinflamatórios utilizados possuam menor seletividade,
atuando em ambas isoformas (COX-1 e COX-2) ao mesmo tempo (MURO et al., 2008).
Atualmente, a inibição específica seletiva da Cox-2 é um dos objetivos da terapêutica para
que se obtenha boa tolerabilidade gastrointestinal (SILVA; MARCZYK, 2001).
NIMESULIDA
De acordo com o sistema de classificação biofarmacêutica proposto por Amidon et al.
(1995), a nimesulida (Figura 1) pertence à categoria II, apresentando baixa solubilidade e alta
permeabilidade, ou seja, a dissolução pode vir a ser o passo limitante da absorção oral do
fármaco. Nestes casos, o teste de dissolução in vitro assume papel fundamental no controle de
qualidade de formulações sólidas, de modo a assegurar a biodisponibilidade e promover a
homogeneidade inter-lotes (SILVA; VOLPATO, 2002; MUNIZ; JUNIOR; GARCIA, 2012).
Figura 1: Estrutura Química da Nimesulida
A nimesulida é quimicamente descrita como N-(4-nitro-2-fenoxifenil)-sulfonamida de
metano. É um antiinflamatório não-esteroidal (AINE) que tem afinidade específica para inibir
a enzima ciclooxigenase-2. Apresenta-se como um ácido fraco praticamente insolúvel em
água, facilmente solúvel em etanol e metanol, muito solúvel em acetona, clorofórmio,
acetonitrila e dimetilformamida, solúvel em soluções de hidróxidos alcalinos e insolúvel em
soluções ácidas (FARMACOPÉIA BRASILEIRA V, 2010; RABASSEDA, 1992 apud
DASHORA et al., 2007).
15
Este fármaco possui propriedades analgésicas e antitérmicas, porém se diferenciando
da maioria dos AINE’s que possuem um grupo ácido carboxílico, o caráter ácido fraco da
nimesulida é atribuído à presença do grupo metanossulfonamida (PEREIRA et al., 2011).
O mecanismo de ação da nimesulida baseia-se na inibição da COX-2, decorrente da
interação do grupamento sulfonamida presente na molécula do fármaco com um resíduo de
arginina em uma cavidade hidrofílica da enzima. O fármaco é amplamente comercializado nas
formas farmacêuticas orais, como comprimidos, comprimidos dispersíveis, gotas, granulados
e suspensões, pois estas reduzem a incidência de efeitos indesejáveis associados à inibição da
COX tipo 1 fisiológica (LAGES; ROMEIRO, 1998).
Estudos realizados com a nimesulida avaliaram sua concentração no plasma e segundo
Larini (2007), a nimesulida é bem absorvida quando administrada por via oral. Após uma
única dose de 100 mg, é obtido o pico de concentração máxima no plasma de 3 a 4 mg/L em
cerca de duas horas.
Atualmente, a nimesulida é comercializada em cerca de 50 países em todo o mundo,
sob diferentes nomes de marca, estando disponível em comprimidos de 100 mg, grânulos em
saquetas de 100 mg e supositórios de 200 mg. Está ainda disponível em alguns países na
forma de gotas orais e suspensão oral na concentração de 50 mg/ml (LARINI, 2007 apud
TEIXEIRA, 2009)
O alto índice terapêutico da nimesulida foi relatado em estudos recentes e despertou o
interesse em se avaliar este fármaco principalmente na osteoartrite, nas quais o tratamento
sintomático da dor é uma das abordagens mais importantes (QUATTRINI; PALADIN, 1995).
A nimesulida possui inúmeros estudos clínicos objetivando a área reumatológica,
junto a um grande número de pacientes avaliados frente a outros compostos, porém, até o
momento, não foram realizados estudos comparativos entre a nimesulida e os mais recentes
coxibs, AINE’s aceitos como inibidores específicos de COX-2 (SILVA; MARCZYK, 2001).
Suas princiais indicações aprovadas são para o tratamento da dor aguda, o tratamento
sintomático da osteoartrose e dismenorréia primária em adolescentes e adultos acima de 12
anos. Também é indicada no tratamento de estados febris, processos inflamatórios
relacionados com a liberação de prostaglandinas, musculoesqueléticos e doenças artríticas, e
como analgésico em cefaléias, mialgias e no alívio da dor pós-operatória (FUCHS;
WANNMACHER, 1998; RAINSFORD, 2005 apud Rocha et al., 2010).
A nimesulida deve ser usada durante o menor período de tempo possível, de acordo
com a situação clínica, permanecendo contra-indicada em crianças menores de 12 anos, no
terceiro trimestre da gravidez, durante o aleitamento, em doentes com insuficiência hepática e
16
em doentes com história de reações de hepatotoxicidade à nimesulida (INFARMED, Circular
informativa Nº 079/CA, 2004).
Quanto à posologia para um adulto, a nimesulida deve ser ministrada de 12 em 12
horas por via oral na dose de 100 mg, após as duas principais refeições. Relativamente aos
idosos e adolescentes (de 12 a 18 anos), de acordo com o perfil cinético em adultos e as
características farmacodinâmicas da nimesulida, a posologia mantém-se, pois não há
necessidade de reduzir a dose diária nestes doentes. Quanto às crianças com menos de 12 anos
não devem tomar medicamentos contendo nimesulida, pois está contra-indicado devido ao
risco da síndrome de Reye. Em doentes com insuficiência renal ligeira a moderada, com base
na farmacocinética, não é necessário ajuste posológico (depuração da creatinina de 3080ml/min), ao passo que em casos de insuficiência renal grave o uso de nimesulida está
contra-indicado (depuração da creatinina <30 ml/min). Em doentes que sofrem de
insuficiência hepática, o uso está igualmente contra-indicado (RCM Nimed).
Os excipientes normalmente encontrados nos produtos farmacêuticos orais que têm a
nimesulida são: celulose em pó, lactose mono-hidratada, laurilsulfato de sódio, estearato de
magnésio, croscarmelose sódica e povidona. A celulose em pó e lactose mono-hidratada são
utilizadas como diluentes, enquanto o lauril sulfato de sódio e o estearato de magnésio são
utilizados como lubrificantes. A Croscarmelose de sódio é usada como um agente
desintegrante. Em comprimidos, a povidona é utilizada nos processos de ligantes de
granulação úmida (ROCHA et al., 2010).
FARMÁCIAS MAGISTRAIS
A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe que, para o uso racional de
medicamentos, é preciso, em primeiro lugar, estabelecer a necessidade do uso do
medicamento; a seguir, que se receite o medicamento apropriado, a melhor escolha, de acordo
com os pareceres de eficácia e segurança comprovados e aceitáveis. Além disso, é necessário
que o medicamento seja prescrito adequadamente, na forma farmacêutica, doses e período de
duração do tratamento; que esteja disponível de modo oportuno, a um preço acessível, e que
responda sempre aos critérios de qualidade exigidos; que se dispense em condições
adequadas, com a necessária orientação e responsabilidade, e, finalmente, que se cumpra o
regime terapêutico já prescrito, da melhor maneira possível.
Os medicamentos podem ser classificados em oficinais, especializados e magistrais. Os
oficinais são aqueles cujas formulações são encontradas nas monografias de Farmacopéias ou
17
Formulários Nacionais. Os especializados ou especialidades são as prescrições farmacêuticas
apresentadas ao mercado em embalagem própria, destinada a ser entregue ao consumidor com
alguma designação ou marca privativa. Por fim, existem os medicamentos magistrais,
preparados em farmácias de manipulação (PRISTA, 1995).
A manipulação farmacêutica é uma atividade muito antiga que permite ao farmacêutico
exercer seu papel diante da sociedade, auxiliando o paciente de forma individualizada, e não
coletiva, uma vez que as fórmulas manipuladas são prescritas conforme a individualidade do
paciente, de acordo com suas necessidades terapêuticas particulares (PIRES, 2008).
As farmácias magistrais estão significamente representadas no mercado brasileiro de
medicamentos. Este setor ressurgiu no Brasil no final da década de 1980, após seu
desaparecimento quase completo devido ao aparecimento da indústria farmacêutica na década
de 1950. No início eram poucos estabelecimentos voltados principalmente à dermatologia ou
à homeopatia, com foco na individualização da prescrição. Com a entrada dos medicamentos
genéricos no mercado, o segmento passou a manipular inúmeros medicamentos cujas
apresentações são disponibilizadas pela indústria farmacêutica (SILVA et al., 2006).
Com a implementação da lei de Patentes (BRASIL, 1997) e dos Genéricos (BRASIL,
1999), o mercado brasileiro apresenta uma indústria nacional forte e competitiva. Buscando
um espaço neste mercado outra força se apresenta com características completamente
distintas: o setor magistral, o qual produz uma parcela significativa dos medicamentos aqui
consumidos. Analisar como cada competidor avalia a melhor estratégia para disputar este
mercado e que oportunidades e ameaças se apresentam, se constitui num desafio para as
farmácias magistrais brasileiras em função da enorme disparidade de forças existente entre os
diversos concorrentes desta indústria (SILVA et al., 2006).
Atualmente, mais de 55 milhões de brasileiros não tem acesso a medicamentos. Frente a
isso, a farmácia magistral continua sendo uma forma barata e confiável do paciente adquirir
seu medicamento, somado a uma série de informações por parte do farmacêutico que terá
grande importância na terapia, principalmente através do aumento na adesão do paciente ao
tratamento, parte esta inexistente quando da entrega de medicamentos é realizada por serviços
de tele-entrega, que é feita numa grande parte das vezes por empresas contratadas ou
prestadores de serviços sem qualquer treinamento (PIOTROWICZ, 2003; TOKARSKI,
2002).
Segundo Allen (2006), a farmácia magistral exerce um papel extremamente importante na
área de saúde ao proporcionar a individualização do tratamento permitindo ao médico ajustar
as dosagens de acordo com as necessidades do paciente.
18
O que se observa ao longo dos anos no mercado magistral de medicamentos é um cenário
de constantes mudanças. No início eram poucos estabelecimentos que estavam voltados
principalmente para a dermatologia ou a homeopatia com foco na individualização da
prescrição. As necessidades do mercado função, principalmente, das brechas deixadas pela
indústria farmacêutica e a falta de uma legislação específica proporcionaram novas
oportunidades para o setor que progressivamente passou a atender outras especialidades
médicas. Até a metade da década de 90, o setor era claramente dividido entre manipulação
alopática e homeopática (SILVA et al., 2006).
Neste contexto, todos os fabricantes buscam assegurar aos consumidores a confiabilidade
nos medicamentos que produzem o que reforça a preocupação com a questão da qualidade.
Na produção de medicamentos, os conceitos de garantia e controle da qualidade e boas
práticas de fabricação são aspectos inter-relacionados da gestão da qualidade, pois a
legislação determina que o fabricante é o responsável pela qualidade dos medicamentos que
produz (SILVA, 2008).
Silva (2008) afirma que a legislação, apesar de exigir uma extensa documentação por
parte dos estabelecimentos, aborda a questão da qualidade de forma superficial, deixando de
focalizar pontos importantes como o estudo da estabilidade e capacidade dos processos,
elementos fundamentais para a promoção de melhoria contínua.
Um dos produtos mais solicitados para manipulação nas farmácias magistrais são as
cápsulas. Desta forma, percebe se a importância de garantir a qualidade em todas as etapas do
processo de manipulação para a obtenção de um produto final que não represente riscos à
saúde dos pacientes (BENETTI, 2010).
CÁPSULAS
A Farmacopéia Européia (2001) define as cápsulas como formas farmacêuticas sólidas
com invólucro duro ou mole, de diversos formatos e tamanhos, normalmente contendo uma
dose unitária de fármaco. As farmácias magistrais as utilizam para preparar medicamentos na
forma sólida. O processo de preparação consiste no enchimento dos invólucros gelatinosos
com a mistura medicamentosa que se deseja encapsular através da utilização de equipamentos
específicos operados manualmente.
As cápsulas ou comprimidos são preferíveis quando estes medicamentos são utilizados via
oral por adultos, pois são convenientemente transportados, identificáveis e deglutidos com
facilidade (ALLEN; ANSEL; POPOVICH, 2007).
19
As cápsulas duras são o tipo mais usado pelos farmacêuticos. Os invólucros desta forma
farmacêutica apresentam duas partes desmontáveis, o corpo e a tampa, com diferentes
capacidades. Na manipulação, as duas partes são separadas, o corpo é preenchido com o pó e,
então, a tampa é recolocada (THOMPSON, 2006). Os volumes variam de acordo com o
fabricante (ALLEN; ANSEL & POPOVICH, 2007).
Abaixo (tabela 1) encontram-se as capacidades variadas dos invólucros das cápsulas
gelatinosas duras.
Tabela 1. Capacidade dos invólucros de gelatina
Número da cápsula
Volume (mL)
000
1,40
00
0,95
0
0,68
1
0,50
2
0,37
3
0,30
4
0,21
5
0,13
(FONTE: Pinheiro, 2008)
Seus invólucros são compostos de uma mistura de gelatina, açúcar e água e são
transparentes, incolores e insípidos. A gelatina é um produto obtido pela hidrólise parcial de
colágeno obtido da pele, do tecido conjuntivo branco e de ossos de animais, sendo
comercializado na forma de pó fino, pó grosso, tiras, flocos ou folhas (ALLEN; ANSEL;
POPOVICH, 2007).
Ferreira (2002) cita que as operações unitárias que podem estar envolvidas no processo de
manipulação das cápsulas rígidas em Farmácias Magistrais são a pesagem dos componentes
da formulação, tamisação dos pós, mistura, enchimento das cápsulas, limpeza externa,
acondicionamento e rotulagem. A operação de tamisação pode ser considerada como passos
opcionais, dependendo de características específicas dos componentes das formulações ou de
determinado processo ou produto (PETRY, 1998).
Tornou-se como prática freqüente em hospitais e unidades de saúde abrir cápsulas para
misturar nos alimentos ou bebidas, facilitando a deglutição, porém, deve ser observado junto
ao farmacêutico, as características de liberação da forma farmacêutica, pois a velocidade de
com que o fármaco é absorvido pode prejudicar o paciente (ALLEN; ANSEL; POPOVICH,
2007).
Os
medicamentos
raramente
são
constituídos
somente
de
substâncias
farmacologicamente ativas. Freqüentemente são preparados em formulações que contém,
além do fármaco, excipientes ou adjuvantes de formulação. Os excipientes podem exercer
diversas funções como solubilizar, suspender, espessar, emulsionar e lubrificar, entre outras,
possibilitando a obtenção de diversas preparações ou formas farmacêuticas (AULTON, 2005
apud SILVA et al., 2008).
20
Embora a preparação de cápsulas seja considerada como uma forma farmacêutica
simples, o desenvolvimento destas pode apresentar grandes desafios ao farmacêutico. Na
preparação de cápsulas, normalmente são empregados diluentes para completar o volume de
acordo com sua capacidade de enchimento, lubrificantes para evitara aderência e facilitar o
fluxo do pó na encapsuladora e agentes molhantes para facilitar o umedecimento da
substância farmacêutica pelos líquidos gastrintestinais (JATO, 2001 apud SILVA et al.,
2008).
Portanto, o desenvolvimento de uma formulação eficiente na forma de cápsulas deve
levar em consideração aspectos farmacotécnicos e biofarmacêuticos, contemplando assim a
escolha criteriosa dos excipientes utilizados (FERREIRA, 2010).
EXCIPIENTES
Os excipientes, ou também chamados de ingredientes inativos, são substâncias destituídas
de poder terapêutico, usadas para assegurar a estabilidade e as propriedades físico-químicas e
organolépticas dos produtos farmacêuticos (OLIVEIRA et al., 1999).
Estes são acrescidos a uma formulação com o intuito de fornecer determinadas
propriedades funcionais como fluxo e estabilidade e controlar a velocidade de liberação. A
variação qualitativa e quantitativa dos adjuvantes farmacotécnicos em uma formulação pode
intervir no comportamento da forma farmacêutica (KALASZ & ANTAL, 2006; SHARGEL et
al., 2005 apud MUNIZ et al., 2012).
A maioria dos fármacos administrados em cápsulas requer excipientes para se ter uma
homogeneidade no enchimento das mesmas, melhorar a administração, adequar à velocidade
de liberação do fármaco, facilitar a produção, aumentar a estabilidade da formulação,
identificação e por razões estéticas. Embora tradicionalmente os excipientes sejam vistos
como substâncias inertes, atualmente sabe-se que estes podem interagir com o fármaco
promovendo alterações químicas e físicas, havendo a necessidade de se realizarem estudos de
pré-formulação (ALLEN, 2003).
Para o desenvolvimento de uma formulação apropriada é necessário que se leve em
consideração às características físicas, químicas, físico-químicas e biológicas de todas as
substâncias ativas e matérias-primas usadas na fabricação do produto, bem como a anatomia e
fisiologia do local de administração e absorção. O fármaco e os excipientes utilizados devem
ser compatíveis entre si e com a via de administração desejada (LE HIR, 1997; GENNARO,
1998 apud STULZER & TAGLIARI, 2007).
21
Os excipientes farmacêuticos foram apontados por Napke (2004) como sendo os
responsáveis por inúmeras reações adversas ligadas a medicamentos, um problema importante
que segundo o autor não está sendo abordado de forma adequada no momento das avaliações
de casos suspeitos de Reações Adversas a Medicamentos. Este fato, associado à ausência de
estudos no País justificam a necessidade de se conhecer que excipientes estão presentes em
formulações farmacêuticas disponíveis no mercado farmacêutico nacional (SILVA et al.,
2008).
Segundo Oliveira & Storpirts (1999) a maioria dos excipientes são utilizados em baixas
concentrações, por isso as reações adversas acabam se tornando raras. Porém eles podem
desencadear efeitos indesejáveis por intolerância - mecanismo não imunológico que leva às
reações anafilactóides e idiossincrasias - ou alergia - mecanismo imunológico que pode
resultar em hipersensibilidade imediata ou tardia. Na prática clínica comumente essas reações
são atribuídas, de forma equivocada, ao princípio ativo do medicamento (BALBANI;
STELZER; MONTOVANI, 2006).
Citam-se os lubrificantes e deslizantes incorporados em baixas concentrações e na etapa
final de fabricação, pois apresentam características hidrofóbicas que dificultam a dissolução
do fármaco. Adicionalmente, alguns compostos, administrados em pequenas quantidades,
podem ficar adsorvidos na superfície de algum diluente ou desintegrante, ocasionando a
redução da biodisponibilidade destes fármacos. Por outro lado, incorporando-se adjuvantes
como os desintegrantes, tensoativos e diluentes hidrofílicos, pode-se favorecer a velocidade
de dissolução de fármacos pouco solúveis e hidrofóbicos, pois promove a penetrabilidade dos
fluidos corpóreos no conteúdo da cápsula, favorecendo a dispersão e de imediato a dissolução
dos mesmos (AULTON, 2005; OLIVEIRA & MANZO, 2009).
O fármaco e os excipientes utilizados devem ser compatíveis entre si para gerar um
produto estável, eficaz, atraente, fácil de administrar e seguro. Como alguns fármacos têm
características especiais físico-químicas e de compatibilidade deve-se selecionar os
excipientes que mais se adéquam a eles (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000).
As práticas mais aceitáveis para aumentar a solubilidade de um fármaco pertencente à
classe II, pouco solúvel em água, como a nimesulida, é a modificação do pH do meio e o uso
de tensoativos sintéticos como o lauril sulfato de sódio ou Tween 80. Os tensoativos sintéticos
podem simular o efeito de tensoativos endógenos como ácidos biliares, sais biliares e lecitina
na proposição de um meio de dissolução mais simples e de menor custo (SHAH et al., 1989;
ZOELES & KLEIN, 2007 apud RUELA et al., 2009).
22
Os fármacos, tornando-se molháveis pelos tensoativos, contactam mais facilmente com os
sucos digestivos, o que facilita a sua dispersão, assim, os comprimidos, cápsulas e pós podem
conter agentes que ocasionem diminuição na tensão superficial (PRISTA, 1995).
Os excipientes utilizados na preparação de comprimidos e cápsulas dividem-se em classes
distintas. Os diluentes são produtos inertes adicionados aos pós, quando as substâncias ativas
são empregadas em muito pequenas quantidades, podendo ser solúveis, insolúveis e mistos.
Neste caso, cita-se a lactose como um excelente diluente solúvel, muito recomendável na
maioria dos casos. Como diluente insolúvel os amidos são os mais utilizados (amido de
batata, de mandioca, de trigo, de arroz, de milho). Além dos amidos, também se utiliza a
celulose microcristalina, que apresenta também um poder aglutinante e desagregante, o que a
torna particularmente aconselhada para conferir um adequado grau de aglutinação ao produto,
e por fim, os diluentes mistos, os quais são obtidos por mistura de diluentes solúveis com
insolúveis (PRISTA, 1995).
Os absorventes, por sua vez, são adicionados com a finalidade de absorver a água dos
extratos ou de fixar certos compostos voláteis, como as essências. Em outros casos, servem
para incorporar substâncias higroscópicas, evitando que a umidade atmosférica ou residual
dos pós provoque a alteração dessas substâncias. Já os aglutinantes, são utilizados em
compostos que não podem aglomerar-se, solidamente, qualquer que seja a pressão que sobre
elas se exerça, trabalhando assim com uma menor compressão, reduzindo a força da máquina
utilizada, no caso de comprimidos (PRISTA, 1995).
Segundo Prista (1995), os desagregantes, como o glicolato sódico de amido, são
adicionados em uma formulação para acelerar a dissolução dos comprimidos na água ou nos
líquidos do organismo. Para que se verifique perfeita atividade terapêutica é necessários que
os comprimidos e cápsulas se desagreguem mais ou menos rapidamente, consoante a ação
desejada. Assim, os comprimidos ou as cápsulas devem apresentar um tempo de limite para
que se realize sua total desagregação, tempo esse que pode variar em função das substâncias
ativas ou com a velocidade de absorção que se pretende. Essa velocidade de desagregação é
condicionada por diversos fatores, o que inclui a quantidade e concentração do desagregante
empregado.
Os desagregantes atuam, por três processos: 1º) inchando em contato com a água,
permitindo uma penetração rápida do líquido, favorecendo a separação dos constituintes do
comprimido; 2º) reagindo com a água ou com o ácido clorídrico do estômago libertando gases
e; 3º) dissolvendo-se na água e abrindo canalículos que facilitam a desagregação do
comprimido (PRISTA, 1995).
23
Os lubrificantes são sustâncias capazes de evitarem a aderência dos pós dos comprimidos
aos cunhos da maquina de compressão, ou seja, deve facilitar o deslizamento do granulado,
diminuir a tendência do produto para aderir às punções e matriz e promover uma fácil ejecção
dos comprimidos. Para as cápsulas, os deslizantes são adicionados com função de diminuir a
ação das forças de atração das partículas impedindo que ocorram aglomeração e segregação
do material (DIAS et al., 2011; PRISTA, 1995).
Existem também os corantes, que servem para tornar os comprimidos mais atrativos, os
edulcorantes empregados para corrigir o gosto de uma dada preparação e os aromatizantes,
onde empregam-se várias essências (PRISTA, 1995).
Atualmente, o setor magistral é regulamentado de acordo com a Resolução da Diretoria
Colegiada nº 87 de 21 de novembro de 2008 (RDC 87), que dispõe sobre Boas Práticas de
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias onde está
especificado que no caso dos insumos farmacêuticos ativos e adjuvantes deve-se consultar a
monografia descrita na Farmacopéia Brasileira
ou em outros compêndios internacionais
reconhecidos pela ANVISA e na ausência de monografia oficial pode ser utilizada como
referência a especificação estabelecida pelo fabricante (BRASIL, 2008).
Os excipientes usados nas formas orais de comprimidos de nimesulida são basicamente a
celulose microcristalina, carboximetilamido sódico, dicusato sódico, estearado de magnésio,
hidroxipropilcelulose, lactose e glicolato sódico de Amido (INFARMED, 2012).
Muniz et al. (2012), realizaram um estudo com o intuito de verificar a influência do amido
glicolato de sódio (AGS) na dissolução de nimesulida veiculada em cápsulas gelatinosas
duras. Foram preparadas formulações contendo diferentes concentrações deste excipiente e
submetidos ao ensaio de dissolução in vitro. Determinou-se, para o tempo de dissolução
máximo farmacopeico, a quantidade da substância ativa dissolvida, bem como traçou o perfil
de dissolução a partir da quantidade de substância dissolvida em cada intervalo de tempo. Os
resultados mostram que o AGS, utilizado como desintegrante, tem características que
interferem positivamente na dissolução da nimesulida, facilitando a desintegração da forma
farmacêutica, aumentando a superfície de contato do ativo com a água e, com isso, a
velocidade de dissolução.
Souza et al. (2010), por sua vez, desenvolveram um excipiente específico para cápsula de
nifedipina preparada magistralmente. Para isso, foram propostas seis formulações contendo
10 mg de nifedipina, sendo quatro destas baseadas na composição de um medicamento
industrializado, enquanto outras duas foram baseadas em sugestões opcionais de excipientes
em função do Sistema de Classificação Biofarmacêutico. Estas foram submetidas aos testes de
24
uniformidade de conteúdo e de dissolução. As amostras se comportaram de forma adequada
no teste de uniformidade de conteúdo, entretanto, no teste de dissolução, as formulações não
apresentaram uma quantidade satisfatória de ativo dissolvido no tempo especificado pela
literatura utilizada. Pode-se observar uma evolução das formulações quanto à presença de 3%
de Tween 80 (agente molhante) em uma das formulações, e 10% em outra. Entretanto, o
aumento na concentração deste agente, não ampliou o perfil de dissolução da nifedipina, pois
não houve diferença significativa deste parâmetro entre as duas. Portanto, não foi possível
determinar uma formulação adequada para aprovação do produto.
Silva & Volpato (2002), avaliaram o efeito dos tensoativos Lauril Sulfato de Sódio e
Polissorbato 80, na promoção da solubilidade da nimesulida em meio aquoso, determinandose também o pH, a tensão superficial e a concentração micelar críticados meios testados. A
nimesulida apresentou baixa solubilidade nos meios sem tensoativos (<60 μg/mL), na faixa de
pH de 1,0 a 7,4 e as maiores solubilidades (>300 μg/mL) foram observadas em tampão fosfato
pH 7,4 com polissorbato 80. A concentração de saturação do fármaco aumentou
proporcionalmente com a concentração dos tensoativos, os quais atuam pelo mecanismo de
solubilização micelar. Obtiveram-se perfis de dissolução de três formulações de comprimidos
de nimesulida, em meios com diversas concentrações de tensoativo, empregando-se o
aparelho de dissolução com agitador de pá. Os resultados mostraram que a escolha do meio de
dissolução para nimesulida deve ser criteriosa, de modo a evitar condições de baixo poder
discriminante das formulações.
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO BIOFARMACÊUTICA
O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) está baseado nas propriedades de
permeabilidade e solubilidade das substâncias ativas, e foi proposto como ferramenta para o
desenvolvimento biofarmacotécnico de novas formulações farmacêuticas, contendo novos
fármacos ou não, com a finalidade de auxiliar na predição da sua disponibilidade in vivo
(SERRA, 2009).
Em 1995, esse sistema foi desenvolvido por Amidon e colaboradores, a fim de classificar
os fármacos frente as suas propriedades de solubilidade em meio aquoso e permeabilidade
intestinal. As substâncias farmacêuticas foram divididas em quatro classes, conforme descrito
na tabela 2.
A determinação da classe biofarmacêutica dos fármacos possui grande importância no
contexto atual da política de medicamentos, já que as características de solubilidade e
25
permeabilidade de um fármaco, conforme definidas pelo SCB constituem critério essencial
para bioisenção na obtenção de registro de medicamentos genéricos e similares. O registro por
meio de processo de bioisenção possibilita a diminuição de custos e de tempo de
desenvolvimento de medicamentos, com benefícios para o paciente e para o SUS em termos
de acesso ao tratamento farmacológico (PORTA, 2012).
Tabela 2. Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB).
Classe Solubilidade Permeabilidade
I
Alta
Alta
II
Baixa
Alta
III
Alta
Baixa
IV
Baixa
Baixa
Correlação in vivo/in vitro
Haverá correlação IV/IV se a velocidade de
dissolução for menor que a velocidade de
esvaziamento gástrico; de outro modo não haverá
correlação ou ela será limitada.
Haverá correlação IV/IV se a velocidade de
dissolução in vitro for similar à velocidade de
dissolução in vivo, exceto se a dose for muito alta.
Correlação IV/IV da absorção (permeabilidade)
com a velocidade de dissolução limitada ou
ausente.
Correlação IV/IV limitada ou ausente.
(FONTE: Amidon et al., 1995)
Um fármaco é considerado de alta solubilidade quando a sua dose posológica mais alta
é solúvel em 250 mL de meio aquoso na faixa de pH de 1,0 a 8,0. No entanto, a
permeabilidade é baseada na fração absorvida conhecida das substâncias, sendo ela
considerada de alta permeabilidade quando a fração absorvida é ≥ 90%. Na classe II, a
solubilidade controlará a dissolução do fármaco, sendo a absorção limitada pela solubilidade
(FERREIRA, 2010).
Na farmácia magistral, o SCB poderia ser empregado como um parâmetro de
orientação importante para a escolha criteriosa dos excipientes que contribuam para a
dissolução e absorção adequada do fármaco veiculado. Como exemplo, pode-se citar o caso
da nimesulida, pertencente à classe II (baixa solubilidade e alta permeabilidade) que tem na
dissolução um fator limitante da absorção, sendo recomendável optar por excipientes que
auxiliem na dissolução, como a lactose ou outro excipiente solúvel, e a utilização de agentes
molhantes e desintegrantes (FERREIRA, 2010).
26
CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade é uma ferramenta indispensável para alcançar um produto com
qualidade farmacopéica e que possa ser manipulado, com parâmetros de qualidade, visando
garantir segurança e eficácia ao consumidor. O controle de qualidade abrange uma série de
etapas, desde o recebimento das matérias-primas até a entrega do produto final (FERREIRA,
BRANDÃO, SILVA; 2002).
As farmácias com manipulação copiam e/ou modificam as fórmulas dos medicamentos
comerciais e esses produtos são utilizados sem que tenham sido submetidos a testes de
controle de qualidade. Este fato, somado ao aumento do número de farmácias com
manipulação, ocorrido entre os anos de 1980 e 1990, e a falta de padrões mínimos de Boas
Práticas, levou as autoridades sanitárias a se preocuparem com a qualidade dos medicamentos
manipulados e com a segurança dos seus consumidores (BRASIL, 2005).
Pelo volume de matérias primas associada a essa atividade e as dificuldades de avaliação
da qualidade dos materiais levaram ao surgimento de problemas de diversas ordens,
estimulando a regulamentação oficial do segmento para assegurar a qualidade dessa classe de
produtos. Para isso, o Ministério da Saúde Brasileiro, através da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, editou a Resolução RDC nº 33 (BRASIL, 2000) a qual estabeleceu
parâmetros das atividades das farmácias de manipulação. No entanto, tal norma foi editada
com enfoque predominantemente voltado às boas práticas farmacêuticas e com exigências de
controle de qualidade específicas para fármacos sintéticos, geralmente inaplicáveis aos
produtos da classe de fitoterápicos. Às farmácias, em relação às drogas vegetais, restou a
opção da busca dos conceitos clássicos de Farmacognosia como roteiro básico de controle de
qualidade (TOBIAS et al., 2007)
Atualmente, a RDC 67 de 08 de Outubro de 2007 informa as normas técnicas para o
controle de qualidade de fármacos, produtos intermediários e medicamentos manipulados nas
farmácias magistrais. Essa área de conhecimento é de extrema importância para a garantia de
qualidade de medicamentos dispensados aos pacientes. Sendo assim, tais estabelecimentos
necessitam de metodologia validada para a realização de análises de rotina no seu próprio
laboratório de controle de qualidade (POZZA et al., 2011).
Apesar das possíveis vantagens que o medicamento manipulado oferece, são inúmeros
os obstáculos que dificultam esse crescimento do setor, dentre eles a falta de credibilidade do
produto pela ausência do controle de qualidade rígido das matérias-primas e produto acabado,
ausência do controle do processo de produção e sua reprodutibilidade (FERREIRA, 2002).
27
A preocupação com a qualidade dos medicamentos manipulados, fez crescer a
importância de um controle mais eficaz no desenvolvimento de formulações magistrais,
buscando garantir as boas práticas de fabricação no processo, já que no setor de manipulação
nem toda a metodologia de produção é padronizada (PISSATO et al., 2006)
A maioria dos testes de controle de qualidade que são realizados rotineiramente nas
indústrias farmacêuticas, lote a lote, não é viável de serem executados nas farmácias, a cada
preparação. Umas das razões é que alguns testes são destrutivos, o que implicaria em dobrar,
ou até triplicar a quantidade da preparação prescrita, para possibilitar sua realização; estes
demandam tempo e implicam em demora na entrega do medicamento ao paciente,
conseqüentemente, em atraso para o início do tratamento. Além disso, exigem laboratórios e
equipamentos sofisticados, profissionais capacitados, portanto, grandes investimentos, o que
nem sempre condiz com a realidade de uma farmácia magistral (PINHEIRO, 2008).
As formas farmacêuticas orais devem atender as especificações contidas nos testes
relacionados a seguir.
Determinação de Peso
O teste se aplica a formas farmacêuticas sólidas em dose unitária (comprimidos nãorevestidos, comprimidos revestidos, pastilhas, cápsulas duras e moles e supositórios), formas
farmacêuticas sólidas acondicionadas em recipientes para dose unitária (pós estéreis, pós
liofilizados, pós para injetáveis e pós para reconstituição de uso oral) e a formas farmacêuticas
sólidas e semi-sólidas acondicionadas em recipientes para doses múltiplas (granulados, pós,
géis, cremes, pomadas e pós para reconstituição). As pesagens são feitas em balanças de
sensibilidade adequada (ANVISA, 2008).
O ensaio farmacopéico para determinação do peso de cápsulas manipuladas é, na
maioria das vezes, inviável de ser executado por sua natureza destrutiva. Dessa forma,
descreve-se método para determinação de peso médio em cápsulas duras, empregando ensaio
não destrutivo. Três parâmetros deverão ser determinados para análise do produto: Peso
médio das cápsulas manipuladas, Desvio padrão relativo e Variação do conteúdo teórico (%)
(ANVISA, 2011).
28
Identificação
Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª Edição (2010), os ensaios de identificação
possibilitam verificar, com um nível de certeza aceitável, que a identidade do material sob
exame está de acordo com o rótulo de sua embalagem. Embora específicos, eles não são,
necessariamente, suficientes para estabelecer prova absoluta de identidade. Entretanto, o não
cumprimento dos requerimentos de um ensaio de identificação pode significar erro de
rotulagem do material. Alguns ensaios de identificação devem ser considerados conclusivos
como; infravermelho; espectrofotometria com absorção específica e cromatografia a líquido
de alta eficiência acoplada a espectrofotometria. Esses ensaios devem ser realizados em
complemento ao ensaio do contra íon, quando aplicável.
Desintegração
O teste de desintegração permite verificar se comprimidos e cápsulas se desintegram
dentro do limite de tempo especificado, quando seis unidades do lote são submetidas à ação
de aparelhagem específica sob condições experimentais descritas. O teste não se aplica a
pastilhas e comprimidos ou cápsulas de liberação controlada (prolongada). A desintegração é
definida, para os fins desse teste, como o estado no qual nenhum resíduo das unidades
testadas (cápsulas ou comprimidos) permanece na tela metálica do aparelho de desintegração,
salvo fragmentos insolúveis de revestimento de comprimidos ou invólucros de cápsulas.
Consideram-se, também, como desintegradas as unidades que durante o teste se transformam
em massa pastosa, desde que não apresentem núcleo palpável (FARMACOPÉIA
BRASILEIRA 5ª EDIÇÃO, 2010).
Perfil de Dissolução
Visando prever ou simular o comportamento in vivo de fármacos, foram desenvolvidos
os gráficos de fração de fármaco dissolvido em função do tempo, também chamados de perfis
de dissolução (DRESSMAN et al., 1998).
O perfil de dissolução pode ser definido como um ensaio in vitro que permite a
construção da curva de porcentagem de fármaco dissolvido em função do tempo, empregando
se, geralmente, as condições estabelecidas no teste de dissolução descrito na monografia do
medicamento inscrita na Farmacopéia Brasileira ou, na sua ausência, em outros compêndios
29
autorizados pela legislação vigente. No caso de medicamentos que serão submetidos ao
estudo de bioequivalência, a avaliação do perfil de dissolução comparativo em relação ao
medicamento de referência é indispensável para o conhecimento do comportamento das
formulações. Quando os perfis de dissolução são semelhantes, de acordo com os critérios
aplicáveis, há uma indicação de que o medicamento teste poderá ser bioequivalente ao
medicamento de referência. Entretanto, o método de dissolução deve ser discriminativo,
permitindo detectar alterações significativas nas formulações e nos processos de fabricação
(FARMACOPÉIA BRASILEIRA 5ª EDIÇÃO, 2010).
Os estudos de dissolução representam uma ferramenta indispensável para as várias
etapas dos processos de desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos, permitindo
verificar a estabilidade dessas formulações. Na área de produção farmacêutica e controle de
qualidade, os resultados do teste de dissolução podem ser empregados para detectar desvios
de fabricação, para assegurar uniformidade durante a produção de um lote e reprodutibilidade
lote a lote. Testes de dissolução também podem ser utilizados para avaliar mudanças após o
registro do produto e podem auxiliar na decisão para a realização de estudos de
bioequivalência e no desenvolvimento de Correlação IV/IV (MARQUES, 2002).
O teste de dissolução, que era inicialmente indicado para fármacos com baixa
solubilidade, vem sendo mais amplamente utilizado. Para realização do teste é necessário
estabelecer condições, como: tipo de agitação, volume e características do meio de dissolução
(de acordo com a solubilidade do fármaco e o local do TGI onde ocorre sua absorção) e valor
de cedência do fármaco em função do objetivo terapêutico do medicamento. Para isto são
consideradas as características físico-químicas da molécula e o poder discriminativo desejável
para o teste. Os resultados obtidos devem possibilitar comparar a influência do processo
produtivo e das variáveis da formulação com a adequada e completa liberação do fármaco em
determinado tempo (SATHE et al., 1996; MANADAS et al., 2002).
O estabelecimento de uma correlação entre parâmetros inerentes ao fármaco,
determinados in vitro, e as conseqüências de sua absorção determinadas in vivo, poderia
minimizar custos no desenvolvimento e pesquisa de novas opções terapêuticas (GINSKI;
POLLI, 1999).
Uniformidade de Doses Unitárias
Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª Edição (2010), para assegurar a administração de
doses corretas, cada unidade do lote de um medicamento deve conter quantidade do
30
componente ativo próxima da quantidade declarada. O teste de uniformidade de doses
unitárias permite avaliar a quantidade de componente ativo em unidades individuais do lote e
verificar se esta quantidade é uniforme nas unidades testadas. As especificações deste teste se
aplicam às formas farmacêuticas com um único fármaco ou com mais de um componente
ativo. A menos que indicado de maneira diferente na monografia individual, o teste se aplica,
individualmente, a cada componente ativo do produto.
31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
______________. FARMACOPÉIA EUROPÉIA. Council of Europe. Strasbourg France,
2001.
ALLEN JUNIOR, L. V.; ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. 8 ed., Porto Alegre: Artmed, 2007.
ALLEN, L. Diluentes para cápsulas e comprimidos. International Journal of
Pharmaceutical Compounding, vol. 5, N 4, p 126-131. 2003.
ALLEN, L. V. A importância da farmácia de manipulação nos tratamentos atuais.
Revista ANFARMAG ano XI, n.58, São Paulo, p. 42-46, 2006.
ALLEN JR LV. The art, science and technology of pharmaceutical compounding. 2
edição. Washington, DC: American Pharmaceutical Association; 2002.
AMIDON, G. L. et al. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification: the
correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability.
Pharmaceutical research, vol. 12, n. 3, p. 413-420, 1995.
ANVISA. Consulta Pública nº 50, de 04 de setembro de 2008. D.O.U de 05/09/2008.
ARANCIBIA, A. Calidad biofarmacéutica estudios in vitro e in vivo. Acta Farmaceutica
Bonaerense, La Plata 10: 123-133, 1991.
AULTON, M. E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2 edição. Porto Alegre: Artmed,
2005.
BALBANI, A. P. S.; STELZER, L. B.; MONTOVANI, J. C. Excipientes de medicamentos
e as informações da bula. Revista Brasileira Otorrinolaringologia, vol. 72, n. 3, p. 400-6,
2006.
BENETTI, V. M. Comparação entre dois métodos manuais de obtenção de cápsulas
rígidas de gelatina. 2010.
BOMBARDIER, C. et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and
naproxen in patients with rheumatoid arthritis. New England Journal of Medicine, vol.
343, n. 21, p. 1520-1528, 2000.
BRASIL, Lei 9279 de 14 de maio de 1996. Dispões sobre a regulação dos direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, 1996.
BRASIL, Lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999. Altera a lei n. 6360 de 23 de setembro de 1976
que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a
Utilização de nomes genéricos em procedimentos farmacêuticos e dá outras
providências, 1999.
BRASIL. Farmacopéia Brasileira: Comissão Permanente de Revisão de Farmacopéia
Brasileira. 5ª ed. São Paulo: Atheneu Editora, 2010.
32
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n. 87 de 21 de
novembro de 2008. Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais
para Uso Humano. Diário Oficial da União, 24 de novembro de 2008.
BRASIL. Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira. 2ª edição, 2011.
CARVALHO, W. A.; LEMÔNICA, L. Mecanismos celulares e moleculares da dor
inflamatória. Modulação periférica e avanços terapêuticos. Revista Brasileira de
Anestesiologia, vol. 48, n. 2, p. 137-158, 1998.
COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L. Pathologic basis of disease. Philadelphia:
W.B. Saunders, 1994.
CORAY, T. W.; MUCKE, L. Inflammation in Neurodegenerative Disease—A DoubleEdged Sword. Neuron, vol. 35, 2002.
DASHORA, K.; SHAILENDRA, S.; AND SWARNLATA, S. "Effect of processing
variables and in vitro study of microparticulate system of nimesulide." Revista Brasileira
de Ciências Farmacêuticas, 2007.
DEZANI, A. B. Avaliação in vitro da solubilidade e da permeabilidade da lamivudina e a
zidovudina. Aplicações na classificação Biofarmacêutica. USP, São Paulo, 2010.
DIAS, I. L. T. "Desenvolvimento farmacotécnico de cápsulas de sinvastatina."
desenvolvimento farmacotécnico de cápsulas de sinvastatina, 2011.
DRAY, A. Inflammatory mediators of pain. British Journal of Anesthesia, vol. 75, n. 2, p.
125-131, 1995.
DRESSMAN, J. B.; AMIDON, G. L.; REPPAS, C.; SHAH, V. P. Dissolution testing as a
prognostic tool for oral drug absorption: immediate release dosage forms. Pharm. Res.
vol. 15, n.1, 1998.
FARIA, J. L. Patologia Geral – Fundamento das doenças com aplicações clínicas. 4ª
Edição, 2003.
FERREIRA, A. O. Guia prático da farmácia magistral. 4ª edição. São Paulo: Pharmabooks,
2010.
FERREIRA, A. O.; BRANDÃO, M. F.; SILVA, M. A. D. C. G. Guia Prático da Farmácia
Magistral. 2ª edição. Juiz de Fora: Oesp gráfica, 2002.
FILHO, G. B. Patologia Geral. 4ª Edição, Guanabara Koogan, 2009.
FITZPATRICK, F. A. et al. Regulated Formation of Eicosanoids. Journal of Clinical
Investigation, vol. 107, n. 11, p.1347-1351, 2001.
FLORY, A. B.; LEBLANC, A. K. The role of cyclooxygenase in carcinogenesis and
anticancer therapy. Comp Cont Educ for Pract Vet, vol. 27, 2005.
33
FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L. ―Farmacologia clínica: Fundamentos da terapêutica
racional‖ 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1998.
GINSKI, J. M.; TANEJA, R.; POLLI, J. E. Prediction of dissolution-absorption
relationships from a continuous dissolution/Caco-2 system. AAPS Pharm. Sci., vol.1, n. 3,
p. 1-12, 1999.
INFARMED. Nimesulida – Reavaliação do perfil de segurança. Circular Informativa. N.º
079/CA, 2004.
INFARMED. Resumo das características do medicamento – Nimesulida. Aprovado em 12
de Fevereiro de 2012.
JÚNIOR, S. M.; ADAMS, A. I. H. Avaliação de cápsulas de Nifedipino manipuladas, em
farmácias de Passo Fundo (RS), Rev. Infarma, 2004.
KALASZ, H.; ANTAL, I. Drug excipients. Curr Med Chem. 2006.
KUMMER, C. L.; COELHO, T. C. R. B. Antiinflamatórios não esteróides inibidores da
ciclooxigenase-2: Aspectos atuais. Revista Brasileira Anestesiologia, vol. 52, n. 4, p. 498512, 2002.
LAGES, A. S. et al. Selective inhibitors of prostaglandin endoperoxide synthase-2
(PGHS-2): new target to the treatment for inflammatory diseases. Química Nova, vol. 21,
n. 6, p.761-771, 1998.
LARINI, L. Fármacos e medicamento. Fármacos analgésicos e antiinflamatórios. Artmed,
2007.
LIMA, R. R. et al. Inflamação em doenças neurodegenerativas. Revista Paraense de
Medicina, vol. 21, n. 2, p. 29-34, 2007.
MANADAS, R.; PINA, M. E.; VEIGA, F. A dissolução in vitro na previsão da absorção
oral de fármacos em formas farmacêuticas de liberação modificada. Brazilian J. Pharm.
Sci., vol. 38, p. 375-400, 2002.
MARQUES, M. R. C. Desenvolvimento e validação de métodos de dissolução para
formas farmacêuticas sólidas orais. Rev. Analytica, n.1, p. 48-51, 2002.
MOREIRA, T. S. et al. Extração e purificação de fármacos antiinflamatórios não
esteroidais ciclooxigenase-2 seletivos. Química Nova, vol. 32, p. 1324-8, 2009.
MUNIZ, G. S. O.; OLIVEIRA, J.; GARCIA, M. T. J. Cápsulas gelatinosas duras de
nimesulida: a influência do amido glicolato de sódio, e sua concentração, na dissolução
do fármaco. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, vol. 33, n. 3, p. 361-371,
2012.
MURO, L. F. F. et al. Locais de Atuação dos AINE’s Cox-2 Seletivo. 2008.
34
OLIVEIRA, P. G.; STORPIRTIS, S. Toxicidade de excipientes: carência de informação
nas bulas de medicamentos disponíveis no mercado brasileiro. Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas, 1999.
OLIVERA, M. E.; MANZO, R. H. O sistema de classificação biofarmacêutica e as
bioisenções. Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 186-203, 2009.
PEREIRA, A. V. et al. Determinação da constante de dissociação (ka) do captopril e da
nimesulida - Experimentos de química analítica para o curso de farmácia. Química
Nova, vol. 34, p. 1656-1660, 2011.
PETRY, R. D. Influência de adjuvantes e técnica de enchimento sobre as características
farmacêuticas de cápsulas de gelatina dura contendo teofilina. Caderno de farmácia. Porto
Alegre, RS. Vol. 14, n. 1/2 (jan./dez. 1998), p. 13-19, 1998.
PINHEIRO, G. M. Determinação e Avaliação de Indicadores da Qualidade em Farmácia
Magistral – Preparação de Cápsulas Gelatinosas Duras. Rio de Janeiro, 2008.
PIOTROWICZ, M. R. B.; PETROWICK, P. R. Atendimento Remoto farmacêutico: análise
dos serviços de tele-entrega de medicamentos por estabelecimentos farmacêuticos de
Porto Alegre. Infarma, São Paulo, vol. 15, n.9/10, p.72-77, 2003.
PIRES, C. M. Manipulação de Fórmulas. Portal Educação, 17 de outubro de 2008.
PISSATTO, S. et al. Avaliação da qualidade de cápsulas de cloridrato de Fluoxetina.
Acta farmacéutica bonaerense, vol. 25, n. 4, p. 550, 2007.
PORTA, V. Determinação de solubilidade e permeabilidade de fármacos conforme o
sistema de classificação biofarmacêutica (BCs). 2012.
POZZA, V. M.; KHALIL, N. M.; MAINARDES, R. M. Controle de qualidade de cápsulas
de chá verde manipulados. Revista Salus, vol. 3, n. 1, p. 15-19, 2011.
PRISTA, L.; Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 2, 1995.
QUATTRINI, M.; PALADIN, S. A Double-blind Study Comparing Nimesulide with
Naproxen in the Treatment of Osteoarthritis of Hip. Clin Drug Invest 1995.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.. Farmacologia. 5ª edição. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara, 2003.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.. Farmacologia. 6ª edição. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara, 2007.
RCM, Nimed 100mg. INFARMED. 26 de junho de 2007.
ROBBINS, S. L.; COTRAN, R. S. Patologia Geral. 2005.
35
ROCHA, W. F. C. et al. Determination and validation of nimesulide in pharmaceutical
formulation by near infrared spectroscopy. J. Braz. Chem. Soc, vol. 21, n. 10, p. 19291936, 2010.
RUELA, A. L. M.; ARAÚJO, M. B.; PEREIRA, G. R. Desenvolvimento de um Teste de
Dissolução para Comprimidos de Nimesulida em Meio que assegure Condições Sink.
Lat. Am. J. Pharm, vol. 28, n. 5, p. 661-7, 2009.
SATHE, P. M.; TSONG, Y.; SHAH, V. P. In-vitro dissolution profile comparison:
Statistic and analysis, model dependent approach. Pharm. Res., vol. 13, p. 1799-1803,
1996.
SERRA, C. H.. Avaliação in vitro da permeabilidade de fármacos por meio do modelo da
membrana artificial paralela (PAMPA): aplicação na classificação biofarmacêutica.
2009.
SILVA, A. V. A. et al. Presença de excipientes com potencial para indução de reações
adversas em medicamentos comercializados no Brasil. Brazilian Journal of Pharmaceutical
Sciences, vol. 44, n. 3, 2008.
SILVA, N. A.; MARCZYK, L. R. S. Eficácia e tolerabilidade da nimesulida versus
celecoxib na osteoartrite. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Acta ortop bras,
vol. 9, p. 1, 2001.
SILVA, R. F; NASCIMENTO, A. P.; MENDONÇA, D. Estratégias Competitivas no
Mercado Farmacêutico Brasileiro: Uma Abordagem sobre o Setor Magistral. XIII
SIMPEP, Bauru – SP, 2006.
SILVA, R. L.; VOLPATO, N. M. Meios para dissolução de comprimidos de nimesulida:
ação dos tensoativos. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 38, n. 2, 2002.
SILVERSTEIN, F. E. et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal antiinflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. JAMA: the journal of the
American Medical Association, vol. 284, n. 10, p. 1247-1255, 2000.
SOUZA, K. J.; ALÉSSIO, P. V.; GOMES, A. Desenvolvimento de excipiente específico
para cápsulas de nifedipina preparadas magistralmente: parte I. Revista de Ciências
Farmacêuticas Básica e Aplicada, vOL. 30, n. 3, p. 257-261, 2010.
STULZER, H. K.; TAGLIARI, M. P. Avaliação da compatibilidade entre a fluoxetina e
excipientes usados na fabricação de cápsulas pela farmácia magistral. Visão Acadêmica,
vol. 7, n. 1, 2007.
THOMPSON, J. E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
TOBIAS, M. L. Controle de qualidade de drogas vegetais de farmácias de manipulação
de Maringá (Paraná-Brasil). Revista Eletrônica de Farmácia, vol. 4, n. 1, 2007.
36
TOKARSKI, E. Farmácia Magistral.Tanta Credibilidade, Tanto crescimento. Qual o
segredo? Pharmacia Brasileira, Brasília, vol. 3, n. 32, p. 5-9, 2002.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The rational use of drugs: report of the
conference of experts, Jul 25-29. Geneva: WHO; 1987.
ZAGO, T. M. Inflamação Aguda. Unicamp, 2011.
37
ARTIGO
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas
RBCF
________________________________________________________________
INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS
MANIPULADAS DE NIMESULIDA 100 mg
Geovana Santos1, Giovane Douglas Zanin2
1
Acadêmica do curso de Farmácia, Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Cascavel – PR, Brasil.
2
Docente do curso de Farmácia, Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Cascavel – PR, Brasil.
RESUMO
Mesmo sendo considerada simples, a manipulação de cápsulas gelatinosas duras pode
representar desafios ao manipulador na seleção dos excipientes necessários para o seu
preenchimento. Os estudos de dissolução in vitro tornaram-se fundamentais para assegurar a
qualidade, visto que o processo de dissolução determinará a liberação do fármaco e a sua
absorção. A nimesulida é um antiinflamatório que apresenta baixa solubilidade e alta
permeabilidade, ou seja, a dissolução pode ser o passo limitante da absorção oral do fármaco.
O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dos excipientes no perfil de dissolução de
cápsulas manipuladas de nimesulida 100 mg. Foram manipuladas oito formulações com
diferentes concentrações de excipientes, baseados em sugestões do Sistema de Classificação
Biofarmacêutica (SCB). Os testes realizados foram peso médio e perfil de dissolução. Os
resultados obtidos para peso médio encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pelo
compêndio oficial. Em relação ao perfil de dissolução, observou-se que o aumento das
concentrações dos excipientes amido glicolato de sódio e lauril sulfato de sódio, resultou em
um aumento da velocidade de dissolução do fármaco em questão. Assim, verifica-se a
importância da escolha apropriada desses adjuvantes para a manipulação de cápsulas.
UNITERMOS
Amido glicolato de sódio, Lauril sulfato de sódio, adjuvantes farmacotécnicos.
1
Correspondência: Geovana Santos. Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Avenida das Torres, 500,
Cascavel, Paraná. E-mail: [email protected].
38
INTRODUÇÃO
As farmácias de manipulação têm representado uma alternativa ao cumprimento de
esquemas terapêuticos, pois proporcionam à população o acesso a fórmulas farmacêuticas
diferenciadas e dosagens personalizadas, além de manipularem fármacos de praticamente
todas as categorias, com um custo inferior aos industrializados (Júnior & Adams, 2004).
Frente a isso, as cápsulas gelatinosas duras constituem uma das formas farmacêuticas mais
comercializadas em farmácias de manipulação, devido à sua versatilidade, facilidade de
produção, aceitabilidade pelo paciente e ao custo (Allen Jr, 2002).
Junto a essas formas farmacêuticas e formulações, os excipientes são adicionados com o
intuito de fornecer determinadas propriedades funcionais como fluxo, estabilidade e controlar
a velocidade de liberação do princípio ativo. O fármaco e o excipiente utilizado devem ser
compatíveis entre si para gerar um produto estável, eficaz, atraente, fácil de administrar e
seguro (Ansel; Popovich; Allen, 2007; Shargel et al., 2005).
Embora tradicionalmente os excipientes sejam vistos como substâncias inertes, atualmente
sabe-se que estes podem interagir com o fármaco promovendo alterações químicas e físicas,
havendo a necessidade de se realizarem estudos de pré-formulação para se obter um
medicamento seguro e de qualidade (Allen, 2003).
Deve-se considerar que as características pertencentes ao próprio fármaco como o
tamanho da partícula e solubilidade, bem como a natureza dos excipientes que compõem a
fórmula e os métodos empregados na produção afetam a dissolução do fármaco e,
conseqüentemente, sua biodisponibilidade. Por isso faz-se necessário a escolha criteriosa dos
excipientes que possam contribuir para a dissolução e absorção adequada do medicamento
veiculado (Ansel; Popovich; Allen, 2007).
39
Portanto, a permeabilidade e solubilidade de substâncias ativas constituem um critério
essencial para a escolha do excipiente utilizado. Diante disso, em 1995, o Sistema de
Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi desenvolvido por Amidon et al., a fim de classificar
os fármacos frente as suas propriedades de solubilidade em meio aquoso e permeabilidade
intestinal.
As práticas mais aceitáveis para aumentar a solubilidade de um fármaco pertencente à
classe II, pouco solúvel em água, como a nimesulida, é a modificação do pH do meio de
dissolução e o uso de tensoativos sintéticos que podem simular o efeito de tensoativos
endógenos como ácidos biliares, sais biliares e lectina (Shah et al., 1989; Zoeler & Klein,
2007).
O fármaco antes de se solubilizar deve passar pela dissolução que é o processo pelo qual o
princípio ativo é liberado de sua forma farmacêutica e se torna disponível para ser absorvido
pelo organismo. O ensaio de dissolução nada mais é que um teste físico no qual o fármaco
passa para a forma solúvel a partir da forma farmacêutica intacta ou de seus fragmentos e
partículas formadas durante o teste, no caso de cápsulas e comprimidos (Chowdary &
Rajyalakshimi, 1987).
O Sistema de Classificação Biofarmacêutica possibilita correlacionar os dados in vivo e in
vitro, de valor inestimável para definir a qualidade de um medicamento, sendo útil no
desenvolvimento de formulações, controle de qualidade e determinação de equivalentes
farmacêuticos (Arancibia, 1991).
Entretanto, para se obter uma adequada biodisponibilidade do fármaco, torna-se
imprescindível avaliar os aspectos correlacionados ao mesmo, pois qualquer fator que altere
os processos de desestruturação, desagregação e dissolução dessa forma farmacêutica poderá
afetar a sua biodisponibilidade (Dressman et al., 1998; Storpirtis & Consiglieri, 1995;
Azevedo et al., 2008).
40
A nimesulida é um medicamento amplamente comercializado sob forma de
comprimidos, supositórios, cápsulas manipuladas, gotas orais e suspensão. É um
antiinflamatório não esteroidal pertencente à classe II do SCB, apresentando baixa
solubilidade e alta permeabilidade, ou seja, a dissolução pode vir a ser o passo limitante da
absorção oral do fármaco (Muniz; Junior; Garcia, 2012; Larini, 2007).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar a influência qualitativa e
quantitativa dos excipientes no perfil de dissolução de cápsulas manipuladas de nimesulida
100 mg.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o presente estudo, desenvolveram-se oito formulações utilizando o ativo nimesulida
(All Chemistry®) na dose terapêutica de 100 mg, as quais foram denominadas F1, F2, F3, F4,
F5, F6, F7 e F8.
O processo de encapsulação foi realizado pelo método volumétrico utilizando cápsulas de
gelatina branca no 1.
Os valores de massa do fármaco e de excipientes foram calculados para a obtenção de 20
cápsulas por amostra.
Para preenchimento total das mesmas, utilizou-se diferentes mix’s de excipientes
conforme apresentado na Tabela I.
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade
Assis Gurgacz. As condições experimentais atenderam o preconizado pelo Formulário
Nacional da Farmacopéia Brasileira II (2011) e Farmacopéia Brasileira V (2010), quanto aos
quesitos de determinação do peso e perfil de dissolução, respectivamente.
41
TABELA I. Composição das cápsulas magistrais de nimesulida.
Formulação
Nimesulida
(princípio ativo)
Lauril sulfato de
sódio (molhante)
Amido glicolato
de sódio
(desagregante)
Dióxido de
silício coloidal
(absorvente)
Celulose
microcristalina
(Diluente)
F1
100mg
F2
100mg
F3
100mg
F4
100mg
F5
100mg
F6
100mg
F7
100mg
F8
100mg
-
0,5%
1,5%
2,0%
-
-
-
1,5%
-
-
-
-
4%
8%
12%
8%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
qsp
100%
A escolha dos excipientes foi baseada nas sugestões opcionais de excipientes em função
do Sistema de Classificação Biofarmacêutica da nimesulida, fornecidas por Ferreira (2010).
A determinação de peso foi realizada empregando o método não destrutivo para cápsulas
gelatinosas duras, onde foram pesadas individualmente 10 unidades de cápsulas manipuladas
de nimesulida íntegras e determinado o peso médio, desvio padrão e desvio padrão relativo.
Em relação ao perfil de dissolução, preparou-se um curva de calibração (Gráfico I) nas
mesmas condições que a amostra, utilizando como padrão nimesulida nas concentrações de
0,0005%, 0,0010%, 0,0015%, 0,0020% (p/v) com R 2=0,992, para comparar com as amostras.
O teste de dissolução foi adaptado para cápsulas e realizado com auxílio de cestos
empregados como dispositivos de agitação, a 75 rpm durante 45 minutos retirando-se
alíquotas do meio de dissolução nos tempos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 minutos,
usando como meio de dissolução Tampão Fosfato de Potássio pH 7,4 com Polissorbato 80 a
2% (v/v).
Em seguida, filtrou-se e diluiu-se as amostras em água até concentração adequada para
leitura das absorbâncias em espectrofotômetro UV a 392nm.
Para a realização das respectivas técnicas utilizou-se os seguintes equipamentos: balança
analítica Shimadzu AY220, Dissolutor 299 (Nova Ética) e espectrofotômetro Fento 700 Plus.
42
Após a realização dos procedimentos os resultados foram analisados estatisticamente
através do programa Microsoft Office Excel 2007 incluindo média, desvio padrão e
coeficiente de variação e comparados com os critérios estabelecidos pela literatura oficial.
O Gráfico I apresenta os valores de absorbância e as respectivas concentrações de
nimesulida utilizadas na curva de calibração do fármaco.
Absorbância
GRÁFICO I. Curva de calibração de nimesulida (concentração x absorbância).
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
y = 165x + 0,042
R² = 0,992
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
Concentração
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Determinação do Peso Médio
Na Tabela II estão expressos os resultados referentes à determinação do peso médio.
TABELA II. Resultados obtidos da determinação do peso médio das cápsulas manipuladas de
nimesulida 100 mg.
Amostra
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Média (mg)
237,5
220,7
220,1
220,4
222,8
213,6
215,5
222,8
Legenda: DP – Desvio Padrão; DPR – Desvio Padrão Relativo.
DP (mg)
4,15
5,37
3,47
4,65
2,94
4,24
4,08
7,21
DPR (%)
1,74
2,43
1,57
2,10
1,31
1,98
1,89
3,23
43
O Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira (2011) estabelece critérios de
aceitação, o qual permite uma variação individual de ± 10% em relação ao peso médio para
cápsulas menores que 300 mg e, após calculado o Desvio Padrão Relativo, o mesmo não deve
ser superior a 4%.
Diante dos resultados apresentados, observa-se que todas as fórmulas apresentaram
um desvio padrão relativo baixo, indicando que as mesmas encontram-se dentro dos padrões
estabelecidos.
Assim, os resultados indicam que o processo de manipulação foi realizado de maneira
correta e eficiente, demonstrando haver uniformidade de peso das cápsulas analisadas.
A determinação do peso médio de formas farmacêuticas sólidas e a análise de tais
resultados são de fácil execução, servindo como um indicador razoável da técnica de
preparação, revelando a eficiência do processo de pesagem e de encapsulação (Brasil, 2007).
Este parâmetro está diretamente relacionado com o teor de substância ativa contida nas
cápsulas, uma vez que observada a diferença de peso entre as mesmas, não se pode garantir
que todas contenham o mesmo teor de princípio ativo (Farmacopéia Brasileira IV, 1988).
Scheshowitsch et al. (2007), em uma avaliação da qualidade de cápsulas manipuladas
de piroxicam 20 mg obtidas de farmácias magistrais, verificaram que todos as amostras
apresentaram resultados satisfatórios para o ensaio de peso médio.
Na análise de peso médio das amostras de cápsulas de sinvastatina 20 mg, observou-se
que os resultados estão de acordo com os limites especificados, demonstrando
homogeneidade do peso, segundo Baracat et al. (2009).
Os resultados obtidos para o mesmo teste em um estudo realizado por Pinho et al.
(2011) em três formulações, constatou que o peso médio de uma
das amostras (B) de
cápsulas contendo carbamazepina 200 mg foi significativamente maior em relação as demais
amostras analisadas (A e C).
44
Segundo Pozza et al. (2009), o peso médio constitui uma ferramenta essencial para o
controle de qualidade de rotina das farmácias de manipulação, podendo indicar a ineficiência
da técnica de manipulação empregada. A não conformidade deste parâmetro constitui critério
de reprovação do produto, excluindo a necessidade de execução de demais testes.
Perfil de Dissolução
Um importante parâmetro de orientação que pode ser utilizado nas farmácias
magistrais para a escolha criteriosa dos excipientes é o Sistema de Classificação
Biofarmacêutica desenvolvido por Amidon et al. (1995), o qual baseia-se nas propriedades de
permeabilidade e solubilidade das substâncias ativas. Este classifica os fármacos em quatro
classes em relação à solubilidade e a permeabilidade através das membranas biológicas com a
biodisponibilidade dos mesmos, conforme descrito na Tabela III.
TABELA III. Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB).
Classe Solubilidade Permeabilidade
I
Alta
Alta
II
Baixa
Alta
III
Alta
Baixa
IV
Baixa
Baixa
Correlação in vivo/in vitro
Haverá correlação IV/IV se a velocidade de
dissolução for menor que a velocidade de
esvaziamento gástrico; de outro modo não haverá
correlação ou ela será limitada.
Haverá correlação IV/IV se a velocidade de
dissolução in vitro for similar à velocidade de
dissolução in vivo, exceto se a dose for muito alta.
Correlação IV/IV da absorção (permeabilidade)
com a velocidade de dissolução limitada ou
ausente.
Correlação IV/IV limitada ou ausente.
(FONTE: Amidon et al., 1995)
A nimesulida é um fármaco pertencente à classe II (baixa solubilidade e alta
permeabilidade) do SCB, tendo assim um fator limitante da absorção, sendo recomendável
45
optar por excipientes que auxiliem na dissolução, como a lactose ou outro excipiente solúvel,
e a utilização de agentes molhantes e desintegrantes (FERREIRA, 2010).
Um fármaco é considerado de alta solubilidade quando a sua dose posológica mais alta é
solúvel em 250 mL de meio aquoso na faixa de pH de 1,0 a 8,0. No entanto, a permeabilidade
é baseada na fração absorvida conhecida das substâncias, sendo ela considerada de alta
permeabilidade quando a fração absorvida é ≥ 90%. Na classe II, a solubilidade controlará a
dissolução do fármaco, sendo a absorção limitada pela solubilidade (FERREIRA, 2010).
A absorção de fármacos a partir de formas farmacêuticas sólidas administradas por via
oral depende da sua liberação, da dissolução ou solubilização dos fármacos em condições
fisiológicas e da sua permeabilidade através das membranas do trato gastrointestinal. Devido
à natureza crítica dos dois primeiros, a dissolução “in vitro” pode ser relevante para prever o
desempenho “in vivo” (Aulton, 2005).
Portanto, para o desenvolvimento de uma forma farmacêutica é necessário um estudo
o qual chamamos de pré-formulação, com a finalidade de avaliar as características físicas,
químicas e biológicas de todas as substâncias ativas e excipientes utilizados na preparação. A
escolha dos excipientes é importante, pois pode proporcionar características técnicas
requeridas para a forma farmacêutica, aumentar a estabilidade e modificar a liberação do
fármaco. Enfim, a sua escolha correta é de fundamental importância para produzir um
medicamento estável e efetivo (Kfuri, 2008).
Os valores encontrados para o perfil de dissolução de todas as amostras encontram-se
discriminados na tabela IV.
A literatura oficial tolera não menos que 85 % da quantidade declarada de nimesulida
dissolvida em um tempo de 45 minutos.
De acordo com os resultados expressos na tabela IV, observa-se que as formulações
F3, F4, F6, F7 e F8 estão de acordo com o especificado.
46
TABELA IV. Resultados obtidos dos percentuais médios de nimesulida 100 mg dissolvidas
em cada intervalo de tempo.
Intervalos*
5 min
F1
(%±CV)
5,2±33,4
F2
(%±CV)
4,0±17,6
F3
(%±CV)
39,7±9,4
F4
(%±CV)
24,9±51,8
F5
(%±CV)
14,9±64,1
F6
(%±CV)
4,4±104,1
F7
(%±CV)
50,2±25,6
F8
(%±CV)
15,2±66,1
10 min
44,8±70,5
45,3±20,9
65,0±12,1
71,0±13,1
63,8±26,1
62,4±18,3
84,0±11,34
69,6±23,6
15 min
53,8±15,5
68,9±12,4
69,4±12,5
74,6±12,9
68,6±31,7
72,3±1,5
85,59±15,8
88±5,9
20 min
58,9±13,3
72,6±16,4
71,8±12,8
75,1±12,5
74,6±24,6
87,2±3,4
91,1±18,0
93,6±7,3
25 min
61,8±12,1
77,1±16,1
75,1±10,7
77,4±10,5
76,2±25,5
92,8±1,1
94,4±18,8
95,2±9,3
30 min
63,4±17,1
79,1±18,6
79,1±11,4
80,2±11,2
78,4±27,2
95,2±5,1
97,6±19,3
96,8±8,5
35 min
67,8±11,4
80,0±14,7
80±7,4
83,8±8,7
79,4±30,3
95,2±8,1
97,6±17,8
99,2±8,1
40 min
70,6±10,2
80,8±15,5
84,0±4,3
87,2±8,2
80,6±26,0
96,0±5,5
99,2±19,1
100,8±6,6
45 min
70,9±9,5
81,6±17,1
86,4±4,5
91,1±7,2
81,6±27,9
97,6±1,1
100±18,8
101,6±8,3
*Resultados referentes à média de três determinações para cada intervalo de tempo; CV – Coeficiente de
Variação expresso em porcentagem (%).
Em contrapartida, as formulações F1, F2 e F5 não atingiram a quantidade declarada de
nimesulida dissolvida em um tempo de 45 minutos. Segundo Pifferi & Restani (2003), uma
dissolução abaixo deste valor pode acarretar baixos níveis plasmáticos do fármaco e
comprometer o seu efeito terapêutico.
Para os medicamentos serem considerados de liberação rápida, devem dissolver não
menos que 85% de substância ativa em um tempo de 30 minutos. Considera -se que as
formulações F6 e F7 que continham as maiores concentrações de amido glicolato de sódio
(desintegrante) e a formulação F8 que além deste excipiente possui em sua fórmula também o
lauril sulfato de sódio (molhante) comportaram-se como formas farmacêuticas de liberação
rápida, pois comportaram-se como tal (RDC 31/2010).
A dissolução da nimesulida nas cápsulas que continham maior concentração dos
excipientes analisados foi superior às cápsulas que continham menor concentração e ausência
dos mesmos. Os resultados mostram que as formulações produzem distintos perfis de
dissolução, em função das quantidades de lauril sulfato de sódio (molhante) e amido glicolato
de sódio (desagregante) no sistema.
47
A determinação dos perfis de dissolução das formulações F1-F8 previamente
manipuladas foram ilustradas no gráfico a seguir.
GRÁFICO II. Perfil de dissolução das formulações contendo nimesulida 100mg.
120
Concentração (%)
100
F1
80
F2
60
F3
F4
40
F5
F6
20
F7
0
F8
0
10
20
30
40
50
Tempo (min)
As diferenças observadas nos perfis de dissoluções podem ser explicadas pela
diferença de formulações. Verifica-se que o aumento da concentração do molhante e do
desagregante aumenta a velocidade de dissolução do fármaco.
A formulação F1, que é isenta de amido glicolato de sódio e lauril sulfato de sódio,
apresentou 70,9% de nimesulida dissolvida em 45 minutos, sendo considerada baixa. Já a
formulação F8, a qual contém a junção dos dois excipientes estudados, dissolveu 101,6%, ou
seja, a maior porcentagem de nimesulida liberada, demonstrando ser a fórmula mais adequada
para utilização.
A incorporação destes dois excipientes na formulação ocasiona um aumento
progressivo da porcentagem de nimesulida dissolvida, dependente da concentração dos
mesmos no sistema. Em outras palavras, os excipientes utilizados têm características que
interferem positivamente na dissolução da nimesulida.
48
Como pode ser observada no Gráfico II, a maioria das formulações demonstraram um
atraso na liberação do fármaco no meio de dissolução, este fato se dá devido a forma
farmacêutica analisada estar na forma de cápsulas e as mesmas precisam primeiramente
dissolver o invólucro gelatinoso para posteriormente liberar o princípio ativo (Costa; Lobo;
Lopes, 2005).
As cápsulas de gelatina desintegram-se rapidamente, expondo seu conteúdo aos líquidos
do trato gastrintestinal, entretanto, a tecnologia de fabricação e os excipientes presentes na
formulação podem fazer com que a dissolução não ocorra tão rapidamente quanto o esperado
(Gibaldi, 1991; Oliveira et al., 2009; Marcolongo, 2003).
Em geral, os excipientes contidos na formulação exercem alguma influência na
dissolução. Excipientes com características hidrofóbicas e/ou pouco hidrossolúveis, tais como
o dióxido de silício coloidal e a celulose microcristalina podem dificultar a umectação e,
conseqüentemente, a dissolução da formulação (Scheshowitsch et al., 2007).
Por outro lado, a presença de tensoativos (lauril sulfato de sódio) em uma formulação
pode facilitar a dissolução de fármacos pouco solúveis em água. Os diluentes, como: amido,
lactose, celulose microcristalina, sorbitol, manitol, dextrose, por sua vez, podem aumentar ou
diminuir a taxa de dissolução do fármaco conforme suas próprias características físicoquímicas (Gibaldi, 1991).
Considerando a baixa solubilidade da nimesulida e a insolubilidade da celulose
microcristalina em água, associou-se à preparação o desintegrante amido glicolato de sódio,
nas diferentes concentrações (Tabela I), o mesmo tem a função de inchar em contato com a
água, permitindo uma penetração rápida do líquido, favorecendo a separação dos constituintes
da cápsula (Aulton, 2005).
49
O desintegrante em diferentes concentrações, associado à solubilidade do ativo e do
diluente vai definir a força de desagregação da forma farmacêutica, repercutindo na
dissolução, bem como na absorção do componente ativo (Aulton, 2005).
Por conta da baixa molhabilidade do fármaco em estudo, o tensoativo lauril sulfato de
sódio também foi adicionado à formulação com diferentes concentrações. Os fármacos,
tornando-se molháveis pelos tensoativos, contactam mais facilmente com os sucos digestivos,
facilitando a sua dispersão (Prista, 1995).
O dióxido de silício coloidal, que tem propriedades de sorção, foi incorporado à
preparação, objetivando melhorar a estabilidade da celulose microcristalina e do ativo, frente
à umidade.
Assim, para a obtenção de uma liberação adequada do fármaco, são necessários que a
composição e a escolha dos excipientes sejam devidamente fundamentadas em estudos de
pré-formulação (Muniz et al., 2012).
Pode-se constatar que o solvente utilizado também exerce forte influência nas
características absortivas da molécula do fármaco. Segundo estudo realizado por Silva &
Volpato (2002), observou-se que a nimesulida apresentou maior solubilidade quanto utilizado
Tampão Fosfato pH 7,4 contento polissorbato 80 a 2,5% como meio de dissolução,
constatando-se que soluções aquosas contendo esse tensoativo não-iônico, têm maior poder de
solubilização da nimesulida.
Os tensoativos desempenham papel fundamental na solubilidade da nimesulida devido
à sua baixa hidrossolubilidade, sendo imprescindível a presença dos mesmos nos meios para
dissolução. Porém, a composição destes meios, com altas concentrações de tensoativos, pode
estar superestimando a liberação e dissolução do fármaco in vivo. Meios de dissolução que
apresentam composição e características mais similares aos fluidos do ambiente
gastrintestinal deveriam ser mais adotados nos estudos in vitro (Silva & Volpato, 2002).
50
Somente após um estudo de correlação in vivo-in vitro, as condições para a dissolução
de comprimidos e cápsulas de nimesulida poderão ser mais bem definidas, necessitando, para
isto, a realização de estudos de biodisponibilidade com as formulações envolvidas nestes
ensaios dissolução (Silva & Volpato, 2002).
Para fármacos classe II, pouco solúveis e com alta permeabilidade, fatores como pH
do meio, concentração do tensoativo e temperatura devem ser rigorosamente controlados, pois
exercem grande influência nos resultados experimentais (Ruela et al., 2009).
O perfil de dissolução baseia-se na avaliação do teor de princípio ativo liberado pela
forma farmacêutica em intervalos de tempos determinados, fornecendo uma relação entre teor
dissolvido por unidade de tempo, ou seja, determina quantidade de fármaco dissolvido no
meio de dissolução, em função do tempo, quando o produto é submetido à ação de
aparelhagem específica, sob condições experimentais definidas (Farmacopeia Brasileira V,
2010).
Assim, ensaios foram conduzidos, objetivando caracterizar as cápsulas de nimesulida
em estudo quanto à quantidade da substância ativa dissolvida no tempo de dissolução máximo
farmacopeico e ao perfil de dissolução.
É importante ter o conhecimento do perfil de dissolução dos medicamentos. Visto que é
imprescindível que as cápsulas sejam dissolvidas liberando o principio ativo no meio.
Pinho et al. (2011), realizaram o teste de perfil de dissolução das cápsulas contendo
carbamazepinha 200 mg, um fármaco pertencente a classe II do SCB, onde pode-se verificar
que a formulação A produziu uma liberação muito abaixo de 75% do fármaco após 60
minutos de experimentação, não atingindo os parâmentros oficiais. Em contrapartida, as
formulações B e C liberaram aproximadamente 85% de carbamazepina no tempo de 24
minutos, cumprindo com os requisitos farmacopeicos. Observou-se que essa elevação no
51
perfil de dissolução foi devido à adição do tensoativo PEG 4000 para aumentar a
hidrossolubilidade da carbamazepina.
Outro exemplo é o estudo conduzido por Muniz et al. (2012),
na avaliação da
influência do amido glicolato de sódio (AGS) na dissolução de cápsulas de nimesulida. Os
resultados mostraram que o AGS, utilizado como desintegrante, tem características que
interferem positivamente na dissolução da nimesulida. As cápsulas da formulação N3, que
possuiam 13% (p/p) de AGS, apresentaram uma porcentagem de 97,48% de nimesulida
dissolvidas ao final de 45 minutos, cumprindo com as especificações farmacopeicas em que
85% do fármaco se dissolve em 45 minutos. Porém as formulações N1 que não possuía o
excipiente e N2 que continha 5% do mesmo dissolveram 67,75% e 79,52% respectivamente,
do fármaco, ao final do tempo estabelecido.
Enquanto Scheshowitsch et al. (2007), realizaram a avaliação de cápsulas manipuladas
de Piroxicam 20 mg. De três formulações, duas liberaram mais de 80% do fármaco ao final de
45 min, conforme preconizado pela Farmacopéia Americana. Porém, a formulação A, em 45
minutos de dissolução havia liberado apenas 8% do princípio ativo. Todas as formulações
analisadas, exceto a formulação A, continham um tensoativo em sua composição, o lauril
sulfato de sódio. Pode-se concluir que a presença de um tensoativo na formulação facilitou a
dissolução de um fármaco pouco solúvel em água, como o piroxicam.
As
características biofarmacotécnicas de
formas
farmacêuticas
sólidas
são
principalmente delineadas pelo ensaio de dissolução in vitro, uma vez que este processo é,
geralmente, etapa limitante para a absorção de fármacos (Serra, 2007).
Quando os medicamentos são administrados por via oral na forma sólida, o processo de
liberação do fármaco pode ser o fator que limita a velocidade de absorção, e esta pode ser
incompleta se a velocidade de liberação do fármaco for baixa. A velocidade com que esses
processos ocorrem é influenciada por certas características da formulação e/ou da forma
52
farmacêutica, entre elas: tamanho e forma das partículas, quantidade e características dos
agentes agregantes, desintegrantes e lubrificantes, tempos de mistura entre outros. Portanto, os
excipientes de uma formulação podem acarretar em alterações na dissolução dos fármacos.
Esse fato foi observado durante os estudos do ensaio de dissolução das cápsulas analisadas
(Cruz et al., 2005; Borne, 2002).
Dentre esses fatores que afetam a dissolução do fármaco, tem-se a escolha do
excipiente adequado para determinada fórmula, deve se basear nas características das
substâncias contidas na fórmula, bem como, na possibilidade de interação destas substâncias
com o excipiente. O farmacêutico deve escolher sempre o excipiente adequado que não sofra
interação (Ferreira, 2002).
A falta de padronização dos excipientes utilizados no processo de manipulação pode
ocasionar baixa biodisponibilidade do fármaco no organismo e comprometimento da resposta
terapêutica (Pinho et al.,2011)
Por isso, torna-se imprescindível a escolha criteriosa dos excipientes que contribuam
para a dissolução e absorção adequada do medicamento veiculado com intuito de facilitar a
dissolução
de
fármacos
poucos
solúveis
e
consequentemente
favorecerem
sua
biodisponibilidade (Ansel; Popovich; Allen, 2007).
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que os excipientes amido
glicolato de sódio e lauril sulfato de sódio influenciam positivamente na dissolução de
nimesulida.
A associação do amido glicolato de sódio que é um desintegrante, facilita a ação do
molhante, pois abre caminho para a penetração de líquidos no interior da forma farmacêutica.
53
Verifica-se a importância de ressaltar que os resultados em estudo encontrados não
estão restritos apenas para o fármaco nimesulida e sim, para toda a classe de ativos que assim
como este em questão, possuam baixa solubilidade e necessitam de produtos que facilitem a
sua dissolução.
Portanto, a escolha dos excipientes e de seus teores é de fundamental importância nas
farmácias magistrais visto que a dissolução dos fármacos está diretamente relacionada ao
excipiente utilizado na formulação, sendo essencial para uma resposta terapêutica adequada,
pois o mesmo pode comprometer a absorção do princípio ativo.
ABSTRACT
Effect of excipients on the dissolution profile of capsules 100 mg nimesulide manipulated
Even being considered simple, the manipulation of hard gelatin capsules may pose challenges
to the pharmacist in the selection of excipients necessary for its completion. The in vitro
dissolution studies are fundamental to ensure the quality, since the dissolution process will
determine drug release and absorption. Nimesulide is an antiinflammatory agent which has
low solubility and high permeability, the dissolution may be the limiting step in oral drug
absorption. The aim of this study was to evaluate the influence of excipients on the
dissolution profile of compounded capsules of 100 mg nimesulide. Eight formulations were
rigged with different concentrations of excipients, based on suggestions from the
Biopharmaceutics Classification System (BCS). Tests included weight and dissolution profile.
The results for weight are within the standards set by the official compendium. Regarding the
profile of dissolution, it was observed that the concentrations of the excipients sodium starch
glycolate and sodium lauryl sulfate resulted in an increase in the rate of dissolution of the
drug in question. There is the importance of the proper choice of these adjuvants for handling
capsules.
UNITERMS
Sodium starch glycolate, sodium lauryl sulphate, pharmaceutical adjuvants.
54
REFERÊNCIAS
ALLEN JR, L. V. The art, science and technology of pharmaceutical compounding. 2a
edição. Washington, DC: American Pharmaceutical Association; 2002.
ALLEN JUNIOR, L. V.; ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. 8ª edição, Porto Alegre: Artmed, 2007.
ALLEN, L. Diluentes para cápsulas e comprimidos. International Journal of
Pharmaceutical Compounding, vol. 5, no 4, p 126-131. 2003.
AMIDON, G. L; LENNERNAS, H.; SHAH, V. P; CRISON, JR. A theoretical basis for a
biopharmaceutic drug classification: the correlation of in vitro drug product dissolution
and in vivo bioavailability. Pharmaceutical research, vol. 12, no 3, p. 413-420, 1995.
ARANCIBIA, A. Calidad biofarmacéutica estudios in vitro e in vivo. Acta Farmaceutica
Bonaerense, La Plata 10: 123-133, 1991.
AULTON, M. E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed;
2005.
AZEVEDO, R. C. P.; RIBEIRO, G. P.; ARAÚJO, M. B. Desenvolvimento e validação do
ensaio de dissolução para captopril em cápsulas magistrais por CLAE. Rev Bras Cienc
Farm. 2008.
BARACAT, M. M.; MONTANHER, L. S. C; KUBACKI, C. A.; MARTINEZ, M. R.;
ZONTA, A. N. G.; DUARTE, C. J. Avaliação da qualidade de formulações manipuladas e
industrializadas de sinvastatina. Lat Am J Pharm, v. 28, n. 3, p. 427-32, 2009.
BORNE, R. F. ―Nonsteroidal Anti-inflammatory Agents‖ en “Foye’s principles o
medicinal chemistry” (D.A. Williams; T.L. Lemke, 5 ed.) Editora Lippincott Williams &
Wilkins, EUA, págs. 751-93, 2002.
BRASIL. Farmacopéia Brasileira IV. Atheneu, São Paulo, Vol. 1, 1988.
BRASIL. Farmacopéia Brasileira: Comissão Permanente de Revisão de Farmacopéia
Brasileira. 5ª edição. São Paulo: Atheneu Editora, 2010.
BRASIL. Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira. 2ª edição, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Resolução. RCD número 67, de 08 de outubro de 2007. Dispõe sobre as boas práticas de
manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias.
Diário Oficial da União da república Federativa do Brasil, Brasília, 09 de outubro de 2007.
CHOWDARY, K. P. R.; RAJYALAKSHIMI, Y. Dissolution rate in modem pharmacy.
East Pharm. 1987.
55
COSTA, P., LOBO, J. M. S.; LOPES, C. M. Formas farmacêuticas de liberação
modificada: polímeros hidrifílicos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo,
v. 41, n. 2, p. 143-154, 2005.
CRUZ, A. P.; FOPPA, T.; RODRIGUES, P. O.; CARDOSO, T. M.; STULZER, H. K. &
SILVA, M. A. S. Rev.Ciênc. Saúde 24: 19-27, 2005.
DA SILVA, R. L.; VOLPATO, N. M.; Meios para dissolução de comprimidos de
nimesulida: ação dos tensoativos. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 38, n. 2,
2002.
DRESSMAN, J. B.; AMIDON, G. L.; REPPAS, C.; SHAH, V. P. Dissolution testing as a
prognostic tool for oral drug absorption: immediate release dosage forms. Pharm. Res.
vol. 15, n.1, 1998.
FERREIRA, A. O. Guia prático da farmácia magistral. 4ª edição. São Paulo: Pharmabooks,
2010.
FERREIRA, A. O.; BRANDÃO, M. F.; SILVA, M. A. D. C. G. Guia Prático da Farmácia
Magistral. 2 edição. Juiz de Fora: Oesp gráfica, 2002.
GIBALDI, M. Biopharmaceutics and clinical pharmacokinetics. 4th ed. Philadelphia: Lea
& Febiger; 1991.
JÚNIOR, S. M.; ADAMS, A. I. H. Avaliação de cápsulas de Nifedipino manipuladas, em
farmácias de Passo Fundo (RS), Rev. Infarma, 2004.
KFURI, C. R.; Desenvolvimento de grânulos de carbamazepina por ―hot melt
granulation‖ em leite fluidizado. Faculdade de ciências farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, 2008.
LARINI, L. Fármacos e medicamento. Fármacos analgésicos e antiinflamatórios. Artmed,
2007.
MARCOLONGO, R. Dissolução de medicamentos: fundamentos, aplicações, aspectos
regulatórios e perspectivas na área farmacêutica [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo; 2003.
MUNIZ, G. S. O.; OLIVEIRA, J.; GARCIA, M. T. J. Cápsulas gelatinosas duras de
nimesulida: a influência do amido glicolato de sódio, e sua concentração, na dissolução
do fármaco. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, vol. 33, n. 3, p. 361-371,
2012.
OLIVEIRA, E. F. S; AZEVEDO, R. C. P., BONFILIO, R.; OLIVEIRA, D. B.; RIBEIRO, G.
P.; ARAÚJO, M. B. Dissolution test optimization for meloxicam in the tablet
pharmaceutical form. Braz J Pharm Sci. 2009.
PIFFERI, G.; RESTANI, P. The safety of pharmaceutical excipients. Il Fármaco,
Lausanne, v. 58, no. 8, p. 541-550, 2003.
56
PINHO, J. J. R. G; STORPIRTIS, S. Avaliação da qualidade de cápsulas de
carbamazepina manipuladas. HU Revista, v. 37, n. 1, 2011.
POZZA, V. M.; KHALIL, N. M.; MAINARDES, R. M. Controle de qualidade de cápsulas
de chá verde manipulados. Revista Salus, v. 3, n. 1, p. 15-19, 2011.
PRISTA, L.; Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 2, 1995.
RUELA, A. L. M.; ARAÚJO, M. B.; PEREIRA, G. R. Desenvolvimento de um Teste de
Dissolução para Comprimidos de Nimesulida em Meio que assegure Condições Sink.
Lat. Am. J. Pharm, vol. 28, n. 5, p. 661-7, 2009.
SCHESHOWITSCH, K. et al. Avaliação da qualidade e perfil de dissolução de cápsulas
manipuladas de piroxicam. Latin American Journal of Pharmacy, v. 26, n. 5, p. 645, 2007.
SERRA, C. H. R.; STORPIRTIS, S. Comparação de perfis de dissolução da cefalexina
através de estudos de cinética e eficiência de dissolução (ED%). Revista Brasileira de
Ciências Farmacêuticas. vol. 43, n. 1, jan./mar., São Paulo, 2007 .
SHAH, V. P.; KONECNY, J. J.; EVERETT, R. L.; MC-CULLOUGH, B.; NOORIZADEH,
A. C. & SKELLY J. P. Pharm. Res. 6: 12-4, 1989.
SHARGEL, L.; YU, A. B. C.; PONG, S. W. Applied biopharmaceuticals &
pharmacokinetics. 5a ed. New York: Appleton & Lange Reviews/MacGraw-Hill; 2005.
SILVA, R. L.; VOLPATO, N. M. Meios para dissolução de comprimidos de nimesulida:
ação dos tensoativos. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 38, n. 2, 2002.
STORPIRTIS, S.; CONSIGLIERI, V. O. Biodisponibilidade e bioequivalência de
medicamentos: aspectos fundamentais para o planejamento e execução de estudos. Rev
Farm Bioquím Univ S Paulo. 1995.
TOLLER, A. B.; SCHMIDT, C. A. excipientes à base de celulose e lactose para
compressão direta: disciplinarum Scientia. Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 6, n. 1, p.
61-79, 2005.
Zoeler, T. & S. Klein. Dissol. Technol. 14 (4): 8-13, 2007
57
NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
A REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/Brazilian Journal
of Pharmaceutical Sciences tem por finalidade publicar os seguintes tipos de publicação:
Artigos originais relacionados com as áreas de conhecimento das Ciências Farmacêuticas,
Trabalhos de atualização ou de revisão, que serão incluídos quando solicitados a especialistas
pela Comissão de Publicações ou quando submetidos em forma de Abstract para avaliação
quanto ao interesse. Ressalta-se a necessidade de se incluir visão crítica dos autores, inserindo
os seus trabalhos no tema e avaliando em relação ao estado de arte no País. Notas Prévias
relativas a novas metodologias e resultados parciais, cuja originalidade justifique a publicação
rápida. Nesse caso, o limite é de 2.000 palavras, excluindo-se tabelas, figuras e referências.
Pode-se incluir, no máximo, uma figura, tabela e 10 referências. Resenhas elaboradas por
especialistas segundo sugestão da Comissão de Publicações. Suplementos temáticos e aqu eles
relativos a eventos cientiíficos podem ser publicados mediante aprovação prévia da Comissão
de Publicações. Os trabalhos elaborados por especialistas nacionais e estrangeiros podem ser
apresentados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola. Devem ser originais e inéditos e
destinar-se exclusivamente à REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences.
ESCOPO E POLÍTICA
Os manuscritos submetidos à Revista, que atenderem as "Instruções aos autores", são
encaminhados ao Editor Científico, que indicará dois revisores especialistas no tema abordado
(veja Relação dos Consultores - 2003 e gráfico 10). Após a revisão, cujo caráter anônimo é
mantido durante todo o processo, os manuscritos são enviados à Comissão de Publicação, que
decidirá sobre a publicação. Manuscritos recusados, passíveis de reformulação, poderão ser
re-submetidos após reestruturação, como novo trabalho, iniciando outro processo de
avaliação. Manuscritos condicionados à reestruturação serão reavaliados pelos revisores.
Manuscritos enviados aos autores para revisão devem retornar à Editoria dentro de, no
máximo, dois meses, caso contrário terão o processo encerrado.
58
FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Estrutura dos originais
Cabeçalho: constituído por: título do trabalho: deve ser breve e indicativo da exata
finalidade do trabalho. Autor(es) por extenso, indicando a(s) instituição(ões) a(s) qual(is)
pertence(m) mediante números. O autor para correspondência deve ser identificado com
asterisco, fornecendo o endereço completo, incluindo o eletrônico. Estas informações devem
constar em notas de rodapé.
Resumo (em português): deve apresentar a condensação do conteúdo, expondo
metodologia, resultados e conclusões, não excedendo 200 palavras. Os membros da Comissão
poderão auxiliar autores que não são fluentes em português.
Unitermos: devem representar o conteúdo do artigo, evitando-se os de natureza
genérica e observando o limite máximo de 6 (seis) unitermos.
Introdução: deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho e sua relação com
outros trabalhos no mesmo campo. Extensas revisões de literatura devem ser substituídas por
referências aos trabalhos bibliográficos mais recentes, onde tais revisões tenham sido
apresentadas.
Material e Métodos: a descrição dos métodos usados deve ser breve, porém
suficientemente clara para possibilitar a perfeita compreensão e repetição do trabalho.
Processos e Técnicas já publicados, a menos que tenham sido extensamente modificados,
devem ser apenas referidos por citação. Estudos em humanos devem fazer referência à
aprovação do Comitê de Ética correspondente.
Resultados e Discussão: deverão ser acompanhados de tabelas e material ilustrativo
adequado, devendo se restringir ao significado dos dados obtidos e resultados alcançados. É
facultativa a apresentação desses itens em separado.
Conclusões: Quando pertinentes, devem ser fundamentadas no texto.
59
Resumo em inglês (ABSTRACT): deve acompanhar o conteúdo do resumo em
português.
Unitermos em inglês: devem acompanhar os unitermos em português.
Agradecimentos: devem constar de parágrafos, à parte, antecedendo as referências
bibliográficas.
Referências: devem ser organizadas de acordo com as normas da ABNT NBR-6023,
ordenadas alfabeticamente no fim do artigo incluindo os nomes de todos os autores. A
exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.
Apresentação dos originais
Os trabalhos devem ser apresentados em lauda padrão (de 30 a 36 linhas com espaço
duplo). Utilizar Programa Word for Windows. Os autores devem encaminhar o trabalho
acompanhado de carta assinada pelo autor de correspondência, que se responsabilizará pela
transferência dos direitos à RBCF.
Informações adicionais
Citação bibliográfica: As citações bibliográficas devem ser apresentadas no texto
pelo(s) nome(s) do(s) autor(es), com apenas a inicial em maiúsculo e seguida do ano de
publicação. No caso de haver mais de três autores, citar o primeiro e acrescentar a expressão
et al. (em itálico)
Ilustrações: As ilustrações (gráficos, tabelas, fórmulas químicas, equações, mapas,
figuras, fotografias, etc) devem ser incluídas no texto, o mais próximo possível das
respectivas citações. Mapas, figuras e fotografias devem ser, também, apresentados em
arquivos separados e reproduzidas em alta resolução(800 dpi/bitmap para traços) com
extensão tif. e/ou bmp. No caso de não ser possível a entrega do arquivo eletrônico das
figuras, os originais devem ser enviados em papel vegetal ou impressora a laser. Ilustrações
coloridas somente serão publicadas mediante pagamento pelos autores. As tabelas devem ser
numeradas consecutivamente em algarismos romanos e as figuras em algarismos arábicos,
seguidos do título. As palavras TABELA e FIGURA devem aparecer em maiúsculas na
apresentação no texto e na citação com apenas a inicial em maiúsculo.
60
Nomenclatura: pesos, medidas, nomes de plantas, animais e substâncias químicas
devem estar de acordo com as regras internacionais de nomenclatura. A grafia dos nomes de
fármacos deve seguir, no caso de artigos nacionais, as Denominações Comuns Brasileiras
(DCB) em vigor, podendo ser mencionados uma vez (entre parênteses, com inicial maiúscula)
os registrados.
ENVIO DE MANUSCRITOS
Os trabalhos devem ser remetidos por correio eletrônico, anexando à mensagem os
arquivos correspondentes.
E-mail: [email protected]
Secretaria de edição:
Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical
Sciences
Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das Químicas/USP
Av. Prof. Lineu Prestes, 950
Caixa Postal 66083
05315-970 - São Paulo - SP - Brasil
Contato telefônico: Fone: (011) 3091.3804 FAX: (011) 3097.8627