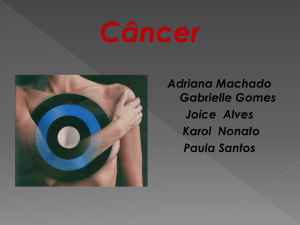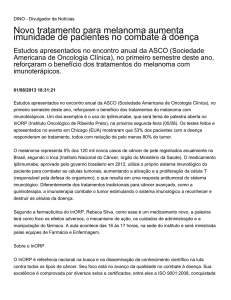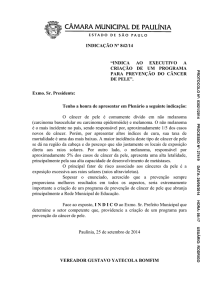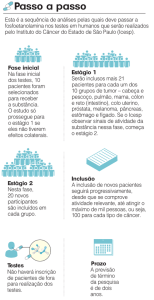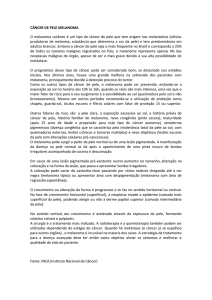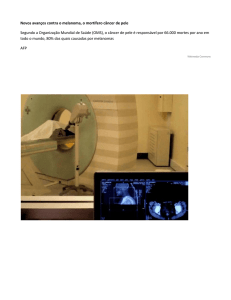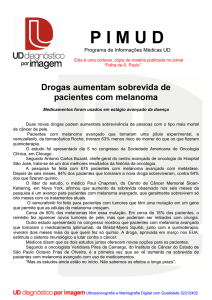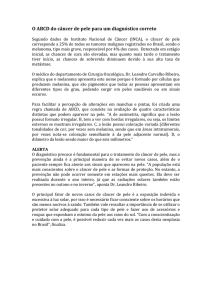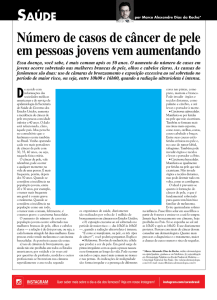Melanoma Cutâneo: Revisão bibliográfica (2011) 1
SANGOI, Renata2; FISCHER, Josseana3; RIGO, Carine4 ALVES, Marta5
1
Trabalho de Pesquisa _UNIFRA
Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil
3
Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil
4
Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil
2
5
Professora Doutora orientadora, Centro Universitário Franciscano
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
RESUMO
Com a diminuição da camada de ozônio, as radiações UV deixaram de serem filtradas com a
mesma eficiência, as UVB que estão intrinsecamente relacionadas ao surgimento dos vários tipos de
câncer de pele, tem aumentado sua incidência sobre a Terra. Desses tipos variados de câncer, o
melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células produtoras de
melanina, substância que determina a cor da pele), e é dividido em melanoma expansivo superficial,
melanoma nodular, melanoma lentiginoso acral, melanoma lentigo maligno. O melhor método de
prevenção é evitar a exposição ao sol nos horários de maior incidência da radiação, usar chapéu,
óculos escuros e o diagnóstico primário é o foco principal, para aumentar a taxa de sobrevida dos
pacientes.
Palavras-chave: Melanoma cutâneo, Melanócitos, Câncer de pele, Radiação UVB.
1. INTRODUÇÃO
A população brasileira apresenta grande heterogeneidade dos tipos de pele, devido á
significativa miscigenação dos grupos étnicos. O Brasil, por ser um país com predomínio dos
climas tropical e equatorial, sofre intensa exposição solar, principalmente nas regiões norte,
nordeste, central e em toda faixa litorânea. (RACHOU, et AL, 2006).
A pele é constituída por três camadas: epiderme, derme e hipoderme, cada uma
delas possui uma ou mais funções, entre elas, papel vital na manutenção da saúde.
Parte da radiação UV incidente é refletida ou refratada nas várias camadas da pele.
Segundo Neves (2008), 90% dos raios UVB são absorvidos pela epiderme e 10% atingem a
camada superficial da derme. Como a sua ação é predominantemente epidérmica, é na
1
primeira camada que poderão surgir os diversos tipos de câncer de pele, como o melanoma
cutâneo (PIAZZA e MIRANDA, 2007).
Os cânceres são doenças complexas que expressam alterações metabólicas
endógenas, desequilíbrios associados ao envelhecimento e mutações genéticas (RACHOU,
et al, 2006).
Melanoma cutâneo é a doença da pele observada por muitas pessoas, apesar da
localização externa, podem ser de difícil visualização para o paciente. Na maioria das vezes
apresenta fase de crescimento superficial prolongada, e é nesse período que as células
tumorais estão confinadas a epiderme (MAIA e BASSO, 2006).
O reconhecimento do melanoma cutâneo em lesões é reconhecido pelos pacientes
pela alteração de cor, tamanho, forma e superfície, crescimento rápido, descamação,
ulcerações, sangramento, prurido, dor. A doença é subdividida em quatro tipos: melanoma
expansivo superficial (MES), melanoma nodular (MN), melanoma lentiginoso acral (MLA) e
melanoma lentigo maligno (MLN) (FERNANDES, et al, 2005).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Não é preciso fugir do sol, pois ele é indispensável à vida, porém é necessário ter
consciência dos riscos, adotando atitudes preventivas. Com a diminuição da camada de
ozônio, as radiações UV deixaram de serem filtradas com a mesma eficiência, as UVB que
estão intrinsecamente relacionadas ao surgimento dos vários tipos de câncer de pele, tem
aumentado sua incidência sobre a Terra. Tem ocorrido da mesma forma, elevação da
incidência das radiações UVC, potencialmente mais carcinogênica que as UVB (NEVES
2008).
A radiação ultravioleta solar é reconhecidamente um carcinógeno humano completo.
Entre os cânceres de pele relacionados à exposição a essa radiação, o mais grave é o
melanoma cutâneo, em virtude de sua letalidade. Apesar dos grandes avanços no seu
tratamento, ele ainda é responsável por um número considerável de óbitos. Estudos
epidemiológicos mostram forte associação entre o desenvolvimento de melanoma e a
freqüência de episódios de queimadura grave induzida pela radiação ultravioleta. A atividade
mais relacionada à ocorrência dessas queimaduras graves é o banho de sol (FISCHER, et
AL, 2004).
2
Além da exposição à radiação solar, aumentou a exposição a fontes artificiais de
radiação ultravioleta. As mudanças comportamentais que levaram ao aumento da exposição
à radiação ultravioleta, tanto a natural quanto a artificial, foram em grande parte
impulsionadas pela valorização estética do bronzeado. A substituição do sol pelo
bronzeamento artificial, para manutenção ou obtenção de uma cor mais "saudável" e
"atraente", eleva o risco, pois aumenta a exposição ao ultravioleta e leva à exposição de
indivíduos com fototipo cutâneo de maior risco. A luz UV é dividida em UVA, UVB e UVC
(FISCHER, et AL, 2004).
O câncer de pele é o tipo de câncer mais incidente em ambos os sexos no Brasil. As
lesões são de fácil diagnóstico e possuem índices de cura superiores a 95% quando
tratadas precocemente e corretamente. Embora a incidência de melanoma represente
apenas cerca de 4% dos tumores de pele, este é considerado o tumor cutâneo de maior
importância, pois representa mais de 79% das mortes por câncer de pele (DIMATOS, et al,
2009).
O melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células
produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em
adultos brancos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).
O melanoma de pele é menos freqüente do que os outros tumores de pele
(basocelulares e de células escamosas), porém sua letalidade é mais elevada. Tem-se
observado um expressivo crescimento na incidência deste tumor em populações de pele
branca. Quando os melanomas são detectados em estádios iniciais os mesmos são
curáveis (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).
Estima-se que o melanoma cutâneo represente cerca de 3% dos cânceres. Para o
estudo da biologia molecular do melanoma maligno, é importante que se conheça sua
classificação segundo o nível de invasão. A classificação é: nível-I, crescimento intraepidérmico; nível-II, invasão da derme papilar; nível-III atinge o limite entre a derme papilar e
reticular; nível-IV, invasão da derme reticular e nível-V, invasão da tela subcutânea
(FIGUEIREDO, et AL, 2003).
A maioria dos melanomas tem duas fases de crescimento biológico: radial e vertical. Os
tipos específicos de melanoma com fase de crescimento radial incluem o lentigo maligno, o
melanoma extensivo superficial e o melanoma lentiginoso acral/mucoso. Com o decorrer do
tempo, o padrão de crescimento assume um componente vertical, quando o melanoma se
aprofunda, invadindo camadas dérmicas mais profundas na forma de massa em expansão,
3
porém sem maturação celular. A probabilidade de metástase a partir dessa fase pode ser
inferida através da medida do índice de Breslow, que consiste em medir, em milímetros, a
profundidade de invasão da lesão em fase de crescimento radial ou vertical a partir do topo
ou porção mais superficial da camada de células granulares da epiderme sobrejacente
(WEBER, et AL, 2007).
O melanoma cutâneo é dividido em quatro tipos: Melanoma expansivo superficial,
melanoma nodular, melanoma lentiginoso acral, melanoma lentigo maligno.
Melanoma expansivo superficial (MES) é o mais freqüente, em 70% dos casos,
segundo Fernandes e colaboradores (2005), possuem várias colorações como castanho,
preto, róseo, violeta, hipopigmentação central e expansão periférica. Possui uma evolução
crônica e depois de meses a anos, podem surgir nódulos elevados, sangramento, o que
caracteriza o estádio mais avançado de crescimento vertical.
Melanoma nodular (MN) é o segundo mais comum, mais freqüente em pacientes do
sexo masculino, apresenta-se como lesão populosa, elevada, de cor castanha, negra ou
azulada. Não há fase prévia de crescimento radial (FERNANDES et al, 2005).
Melanoma lentiginoso acral (MLA) é o tipo histológico mais agressivo dentre os
melanomas, mais freqüente em indivíduos não-caucasianos e não tem predileção por sexos.
Encontrado nas regiões palmo plantares, extremidades digitais, mucosas e semimucosas,
possui coloração acastanhada (DIMATOS et al, 2009).
Melanoma lentigo maligno (MLM) é pouco freqüente, mais comum em idosos,
localiza-se em área de fotoexposiaçao crônica. Apresenta-se na cor acastanhada ou
enegrecida, alcançando vários centímetros de diâmetro (DIMATOS et al, 2009).
A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele. Pessoas
que vivem em países tropicais como Brasil e Austrália, país com o maior registro de câncer
de pele no mundo, estão mais expostos a esse tipo de doença (INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER).
4
As queixas mais comuns relacionadas ao câncer da pele são:
•
Mancha que coça, dói, sangra ou descama;
•
Ferida que não cicatriza em 4 semanas;
•
Sinal que muda de cor textura, tamanho, espessura ou contornos;
•
Elevação ou nódulo circunscrito e adquirido da pele que aumenta de tamanho e tem
aparência perolada, translúcida, avermelhada ou escura.
O rastreamento populacional para o câncer de pele por meio do auto-exame ou do
exame clínico não reduziu a mortalidade por este câncer. Entretanto, o exame clínico da
pele deve fazer parte do exame físico de rotina.
Especial atenção deve ser dada aos
indivíduos de pele clara, trabalhadores rurais, pescadores e outros profissionais com alta
exposição à luz solar. É importante considerar alguns sinais precoces da doença,
conhecidos por (ABCD), os quais indicam a transformação de células normais em
melanoma (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).
•
Assimetria: uma metade diferente da outra;
•
Bordas irregulares: contorno mal definido;
•
Cor variável: várias cores numa mesma lesão;
•
Diâmetro: maior que 6 milímetros.
O foco da prevenção é a proteção solar. A prevenção primária inclui orientação
quanto à associação sol e câncer da pele, aplicação de creme protetor solar, utilização de
roupas apropriadas, chapéus e óculos de sol, permanecer na sombra, limitar o tempo de
exposição ao sol, evitando-se a exposição solar entre 10h00min e 16h00min e evitar fontes
artificiais de radiação ultravioleta (como bronzeamento artificial). A prevenção secundária
inclui rastreamento e diagnóstico precoce em combinação com o aconselhamento para que
se ponham em prática as atitudes relacionadas na prevenção primária. (LOVATTO et AL,
2004).
O acompanhamento dos pacientes deve ser realizado por pelo menos cinco anos
após a cirurgia e devem-se seguir clínica e laboratorialmente os pacientes, em intervalos
5
que variam de acordo com o estadiamento do tumor, para avaliar a presença de
metástases. Nos primeiros anos de doença, o principal objetivo do seguimento é a detecção
da recorrência locorregional, fase em que ainda há perspectivas de tratamento radical de
intenção curativa. Nessa fase, a detecção de metástases à distância por meio de exames
laboratoriais e de imagem tem pouco benefício, já que as perspectivas de tratamento e cura
são muito limitadas (BARBATO, et AL, 2011).
Diante do contexto atual sobre o tratamento do melanoma, estudos recentes
mostram a terapia fotodinâmica (TFD), que é uma modalidade terapêutica onde emprega a
combinação de luz visível, um fármaco fotossensível e oxigênio, que de forma
independente, não apresentam toxicidade para o organismo. De modo geral, o tratamento
das neoplasias cutâneas por terapia fotodinâmica consiste na administração do fármaco
seguida de irradiação com laser monocromático no comprimento de onda de absorção
máxima do fármaco fotossensível (BARBUGLI, 2010).
O objetivo principal da terapia fotodinâmica é induzir a morte do tecido neoplásico
por um processo de fotossensibilização com redução da massa tumoral, minimizando ao
máximo os danos aos tecidos vizinhos e efeitos colaterais, sendo estas as principais
vantagens da terapia fotodinâmica frente aos demais tratamentos clássicos contra o câncer
(BARBUGLI, 2010).
O processo de fotossensibilização de uma célula consiste na associação do fármaco
às membranas plasmáticas e a sua permeação para o citosol de forma passiva, por difusão
ou osmose e de forma ativa por transporte ativo ou endocitose. Nas células, a fotoativação é
capaz de promover a destruição irreversível dos tecidos tumorais através de três formas
principais: 1- produção de espécies reativas de oxigênio, causando diretamente a morte das
células tumorais por apoptose e/ou necrose; 2- efeito antivascular, que pode causar
trombose e hemorragia dos vasos tumorais levando a morte das células neoplásicas por
privação de oxigênio e nutrientes; e 3- ativação da resposta imune, contra as células
tumorais através do processo de inflamação aguda e liberação de citosinas no tumor,
resultando assim, num influxo de macrófagos e leucócitos que podem combinar para a
destruição tumoral, bem como, estimular o sistema imune a reconhecer e eliminar as células
neoplásicas(BARBUGLI, 2010).
O protocolo-padrão empregado em terapia de tumores, segundo Machado (2000),
envolve a administração intravenosa do agente fototerapêutico (cerca de 2 a 5 mg/kg de
massa corporal, no caso das porfirinas, e de 0,1 a 0,5 mg/kg para os agentes
6
fototerapêuticos mais recentes). Essas quantidades são ínfimas se paradas às doses
mínimas que podem induzir efeitos tóxicos em seres humanos (300-500 mg/kg). A TFD tem
se mostrado, no geral, curativa para tumores cujo diâmetro não exceda cerca de 2 cm,
podendo ser empregada com propósitos paliativos no tratamento de massas neoplásicas
compactas 8,57. A fluência da radiação incidente deve se situar entre 100 e 200 mJcm-2, de
modo a evitar o sobreaquecimento dos tecidos, o que reduziria a seletividade do processo.
O início do tratamento ocorre, no caso das porfirinas, de 24 a 72 h após a administração do
agente fototerapêutico.
As fontes de radiação empregadas são, em geral, lasers. A melhor fonte de radiação
tem sido descrita como sendo a que por um baixo custo forneça a maior quantidade de luz
possível no máximo de absorção do sensitizador, sem efeitos térmicos significativo. Uma
alternativa de custo intermediário são os lasers de diodo. Existem atualmente lasers de
diodo cobrindo práticamente todo o espectro visível e infravermelho próximo, podendo assim
atender boa parte dos agentes fototerapêuticos já existentes no mercado. Tais lasers são
capazes de fornecer luz pulsada de considerável potência com precisão sobre o tecido a ser
irradiado, graças a sistemas de distribuição baseados em feixes de fibras ópticas.
(MACHADO, 2000).
Segundo Taveira (2009), em seu estudo observou, que a doxorrubicina (DOX) é um
antineoplásico amplamente utilizado na clínica para o tratamento de vários tumores,
inclusive o câncer de pele. Porém, a sua administração é feita por via endovenosa levando a
um baixo índice terapêutico para os tumores cutâneos e causando vários efeitos colaterais.
Uma alternativa é a aplicação tópica da doxorrubicina para o tratamento do câncer de pele,
contudo a sua baixa penetração cutânea e instabilidade frente aos tecidos biológicos
dificultam a sua aplicação tópica e localizada.
As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) são sistemas de liberação de fármacos que
reúnem as principais vantagens encontradas nos sistemas lipossomais e nas micro e
nanopartículas poliméricas. Os componentes das nanopartículas lipídicas sólidas, possuem
baixa citotoxicidade e possibilitam a obtenção de nanopartículas sem o uso de solventes
(TAVEIRA, 2009).
A encapsulação da doxorrubicina em nanopartículas lipídicas sólidas tem potencial
para melhorar a estabilidade do fármaco e, principalmente, facilitar sua penetração para as
camadas mais profundas da pele, onde esses tumores se localizam. Dentre os métodos
físicos existentes, destaca-se a iontoforese que é um método de aumentar e controlar a
7
penetração de moléculas e macromoléculas carregadas ou não na pele e através dela.
(TAVEIRA, 2009).
Pretende-se, portanto, obter nanopartículas lipídicas sólidas contendo doxorrubicina,
na tentativa de proteger o fármaco, evitando seu contato direto com o estrato córneo e
fazendo com que o mesmo entre nas camadas mais profundas da pele. (TAVEIRA, 2009).
Uma vez dentro da pele, na epiderme viável, é possível que as partículas formem um
reservatório, promovendo a liberação local do fármaco encapsulado por um longo período
de tempo. Para aumentar a penetração cutânea da, doxorrubicina a iontoforese, que utiliza
os anexos cutâneos como principal via de penetração, também será aplicada (TAVEIRA,
2009).
As campanhas de saúde pública procuram atingir a população, primeiro no sentido
de evitar o aparecimento da doença (prevenção primária) e depois chamando atenção para
o diagnóstico precoce (prevenção secundária) (MAIA e BASSO, 2006).
O diagnóstico precoce e a prevenção primária constituem as armas de maior
importância para aumentar as taxas de sobrevida da doença, pois a prevenção secundária
ainda não dispõe de métodos tão eficazes. Os profissionais de saúde devem ser treinados
para reconhecer as lesões suspeitas, que devem ser biopsiadas, dessa maneira, pode-se
esperar uma redução na incidência do melanoma e no índice de mortalidade da doença
(PINHEIRO, et al, 2003).
3. METODOLOGIA
Este trabalho realizou uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, obtido através
de dissertações, teses e artigos científicos em banco de dados, no período de 2000 a
2011. A pesquisa concentrou-se no conceito, tratamento e diagnósticos atuais para o
melanoma cutâneo.
4. CONCLUSÃO
Mesmo que esteja ocorrendo um aumento da radiação UVB, e que ela seja um
carcinógeno humano, responsável pelo surgimento do melanoma cutâneo, o diagnóstico e
as prevenções são de grande importância, pois aumentam a sobrevida dos pacientes, e
através de programas educacionais desenvolvidos por profissionais, melhoram o diagnóstico
8
precoce do melanoma e provavelmente sejam os responsáveis por uma melhor qualidade
de vida do paciente, já que não houve uma substancial mudança no tratamento da doença.
REFERÊNCIAS
BARBATO MT, BAKOS L, BAKOS RM, PRIEB R, ANDRADE CD. Preditores
de qualidade de vida em pacientes com melanoma cutâneo no serviço de dermatologia do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. An Bras Dermatol. 2011;86(2):249-56.
BARBUGLI, P. Estudo dos efeitos da terapia fotodinâmica na progressão tumoral e em
modelos celulares tridimensionais. Faculdade de ciências farmacêuticas de Ribeirão
Preto, 2010.
DIMATOS, D; DUARTE, F; MACHADO, R; VIEIRA, V; VASCONCELLOS, Z; ELY, J; NEVES,
R. Melanoma cutâneo no Brasil. Arquivos Catarinenses de Medicina - Volume 38 –
Suplemento 01 - 2009
FERNANDES, N; CUZZI, T; CALMON, R; SILVA, C; MACEIRA, J. Melanoma cutâneo: estudo
prospectivo de 65 casos. An Bras Dermatol, 2005.
FIGUEIREDO, L. C; CORDEIRO, L. N; ARRUDA, A. P; CARVALHO, M. D. F; RIBEIRO, E. M;
COUTINHO, H. D. M. Câncer de pele: estudo dos principais marcadores moleculares do
melanoma cutâneo. Rev Bras Cancerol, n.49, v.3, p.179-183, 2003.
FISCHER, F. M; SOUZA, S. R. P; SOUZA, J. M. P. Bronzeamento e risco de melanoma
cutâneo: revisão da literatura. Rev Saúde Pública, n.38, v.4, p.588-598, 2004.
INCA - Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Prevenção do câncer de pele. Rev Bras
Cancerol, n.49, v.4, p.203, 2003.
LOVATTO, L; NORA, A. B; PANAROTTO, D; BONIATTI, M. M. Freqüência de
aconselhamento para prevenção de câncer da pele entre as diversas especialidades médicas
em Caxias do Sul. An Bras Dermatol, n.79, v.1, p.45-51, 2004.
MACHADO, A. Terapia fotodinâmica: princípios, potencial de aplicação e perspectivas.
Divulgação; Instituto de Química - Universidade Federal de Uberlândia, 2000.
MAIA, M; BASSO, M. Quem descobre o melanoma cutâneo. An Bras Dermatol, 2006.
NEVES, K. Sol e origem da radiação eletromagnética. Ed.tematica, 2008.
PIAZZA, F; MIRANDA, M. Avaliação do conhecimento dos hábitos de exposição e de
proteção solar dos adolescentes do colégio de aplicação da Univale do balneário Camboriú(
SC) 2007.
PINHEIRO, A; CABRAL, A; FRIEDMAN, H; RODRIGUES, H. Melanoma cutâneo:
característica clinica epidemiológica e histopatologicas no Hospital Universitário de Brasília
entre janeiro de 1994 e 1999. An Bras Dermatol, 2003.
RACHOU, A; CURADO, M; LATORRE, M. Melanoma cutâneo: estudo de base populacional
em Goiânia, Brasil, de 1988 a 2000. An Bras Dermatol. 2006.
9
TAVEIRA, S.F. Nanopartículas Lipídicas Sólidas (NLS) como carreadores de fármacos para o
tratamento tópico do câncer de pele. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto, 2009.
WEBER, A; HOLTHAUSEN, D; SOUZA, J; PINTO, C. Avaliação de 496 laudos
anatomopatológicos de melanoma diagnosticados no município de Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil. 2007 by Anais Brasileiros de Dermatologia.
10