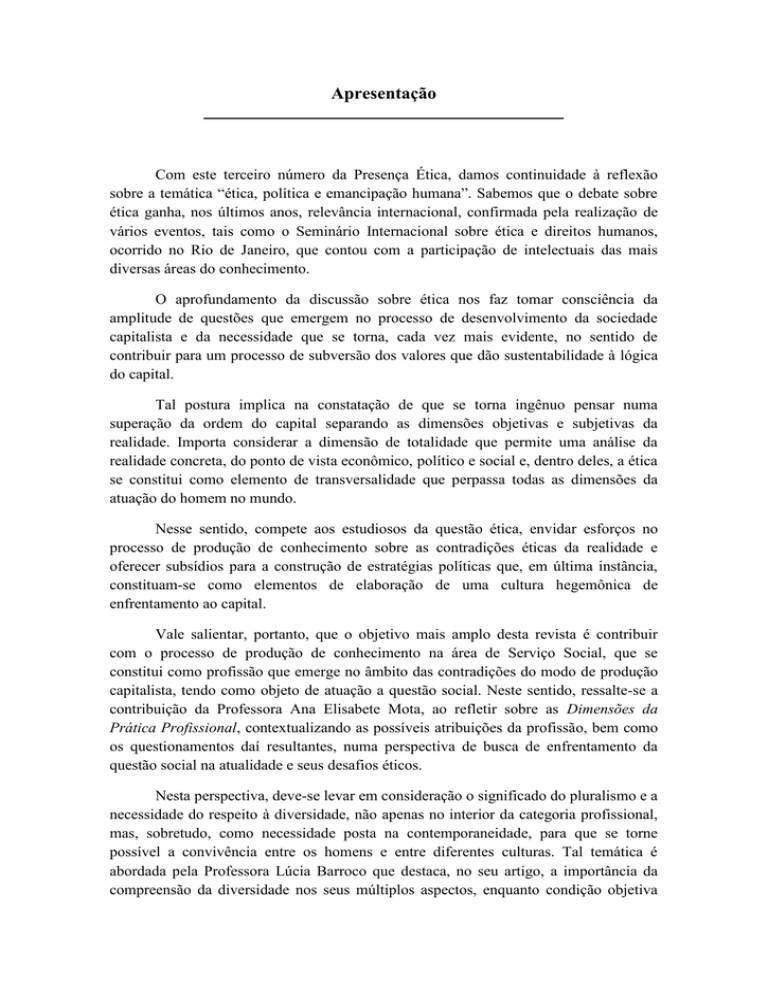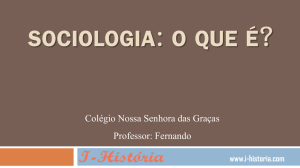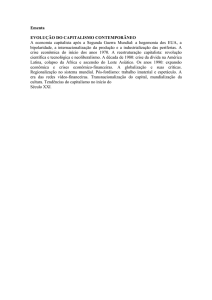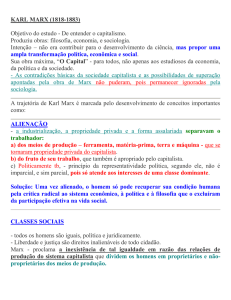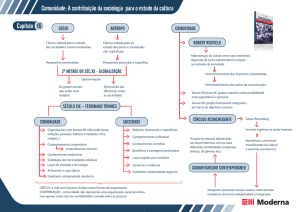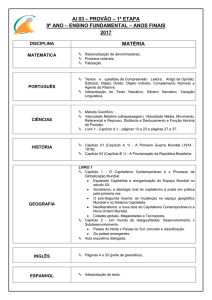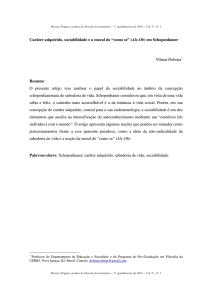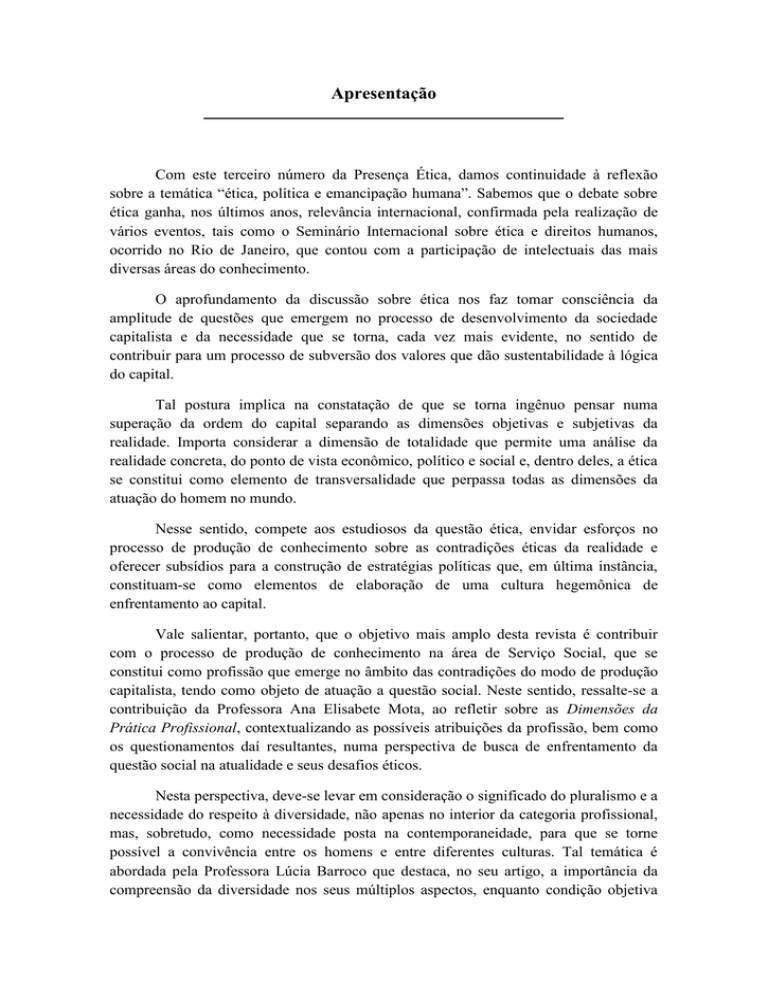
Apresentação
Com este terceiro número da Presença Ética, damos continuidade à reflexão
sobre a temática “ética, política e emancipação humana”. Sabemos que o debate sobre
ética ganha, nos últimos anos, relevância internacional, confirmada pela realização de
vários eventos, tais como o Seminário Internacional sobre ética e direitos humanos,
ocorrido no Rio de Janeiro, que contou com a participação de intelectuais das mais
diversas áreas do conhecimento.
O aprofundamento da discussão sobre ética nos faz tomar consciência da
amplitude de questões que emergem no processo de desenvolvimento da sociedade
capitalista e da necessidade que se torna, cada vez mais evidente, no sentido de
contribuir para um processo de subversão dos valores que dão sustentabilidade à lógica
do capital.
Tal postura implica na constatação de que se torna ingênuo pensar numa
superação da ordem do capital separando as dimensões objetivas e subjetivas da
realidade. Importa considerar a dimensão de totalidade que permite uma análise da
realidade concreta, do ponto de vista econômico, político e social e, dentro deles, a ética
se constitui como elemento de transversalidade que perpassa todas as dimensões da
atuação do homem no mundo.
Nesse sentido, compete aos estudiosos da questão ética, envidar esforços no
processo de produção de conhecimento sobre as contradições éticas da realidade e
oferecer subsídios para a construção de estratégias políticas que, em última instância,
constituam-se como elementos de elaboração de uma cultura hegemônica de
enfrentamento ao capital.
Vale salientar, portanto, que o objetivo mais amplo desta revista é contribuir
com o processo de produção de conhecimento na área de Serviço Social, que se
constitui como profissão que emerge no âmbito das contradições do modo de produção
capitalista, tendo como objeto de atuação a questão social. Neste sentido, ressalte-se a
contribuição da Professora Ana Elisabete Mota, ao refletir sobre as Dimensões da
Prática Profissional, contextualizando as possíveis atribuições da profissão, bem como
os questionamentos daí resultantes, numa perspectiva de busca de enfrentamento da
questão social na atualidade e seus desafios éticos.
Nesta perspectiva, deve-se levar em consideração o significado do pluralismo e a
necessidade do respeito à diversidade, não apenas no interior da categoria profissional,
mas, sobretudo, como necessidade posta na contemporaneidade, para que se torne
possível a convivência entre os homens e entre diferentes culturas. Tal temática é
abordada pela Professora Lúcia Barroco que destaca, no seu artigo, a importância da
compreensão da diversidade nos seus múltiplos aspectos, enquanto condição objetiva
para o respeito à pluralidade e às diferenças, no sentido específico de uma postura de
tolerância como requisito básico para a mútua convivência numa sociedade de
profundos contrastes.
A perspectiva de relação entre singularidade-universalidade nos remete,
necessariamente, a uma análise sobre a cultura política brasileira no intuito de resgatar
as possibilidades de implementação das categorias/princípios constituintes do código de
ética profissional e do projeto ético-politico do Serviço Social. Destaca-se, assim, a
relevância de uma luta permanente pela manutenção e avanço da democracia, na
sociedade brasileira, entendida como valor universal, tema tratado pela Professora
Edistia Abath, que examina a configuração da Democracia no contexto da globalização.
Convém salientar que esse número da revista tem o privilegio de ser lançado na
comemoração dos dez anos do Código de Ética profissional do Serviço Social fato que,
por si só, nos coloca a imensidade e diversidade de questões éticas que perpassam, na
atualidade, o desempenho profissional do Serviço Social. O resgate histórico do
processo de elaboração e implementação do Código de Ética é tema do artigo da
Professora Sâmya Rodrigues que busca estabelecer a conexão entre as dimensões
teológica e deontológica da ética, a partir da relação entre código de ética e projeto
político-profissional.
Como se sabe, a construção de um projeto ético-politico é fruto de um processo
profundo de amadurecimento da categoria, o que reflete um compromisso com as lutas
sociais, no sentido da emancipação humana e com o enfrentamento da questão social
que se agrava no Brasil e no mundo. Neste contexto, a Professora Alexandra Mustafá
busca, no seu artigo, resgatar os fundamentos filosóficos desse projeto ético-politicoprofissional, suscitando questionamentos emergentes nesse processo de elaboração
coletiva, cujos desdobramentos repercutem na formação e no exercício profissional.
Estes fundamentos suscitam, portanto, o tratamento de questões que perpassam a
análise crítica sobre a lógica instrumental e suas implicações no formalismo e na própria
concepção de direito, analisados aqui pela autora Cláudia Gomes. Seu artigo reforça a
perspectiva contida no projeto ético-político do Serviço Social ao criticar algumas
concepções hoje bastante referendadas sobre a ética, sobretudo aquelas derivadas do
pensamento Kantiano, expressas no formalismo do tipo utilitário.
A Professora Silvana Mara contextualiza e apresenta elementos sobre a nova
conjuntura dos movimentos sociais, no contexto mais amplo das lutas históricas da
classe trabalhadora. A autora reflete sobre a necessidade de reconhecimento e garantia
de direitos à liberdade de orientação sexual, tendo em vista a legitimação de tais direitos
numa perspectiva crítica ao tradicionalismo que predomina enquanto valor ainda
arraigado nas sociedades contemporâneas.
O artigo da Professora Marieta Koike ressalta os rebatimentos da lógica
neoliberal no âmbito do ensino superior e as implicações éticas daí decorrentes. Busca
apreender as novas e recorrentes demandas que a sociedade brasileira apresenta à
Universidade, tendo em vista oferecer subsídios à discussão sobre a formação
profissional no contexto do capitalismo.
O artigo de Miriam Inácio trata, da violência contra mulheres procurando
desnaturalizar esta manifestação de poder praticada contra mulheres, assentada nas
relações de gênero dominantes. A autora analisa a violência de gênero numa perspectiva
de totalidade, percebendo uma relação com as questões de classe e etnia. E afirma que
qualquer alternativa de emancipação feminina exige consolidar “um feminismo
socialista”, comprometido com a superação dos processos e relações sociais que limitam
o exercício da sociabilidade.
Mantendo o compromisso do GEPE, em estimular a produção de alunos (as) de
iniciação cientifica do curso de graduação em Serviço Social, a revista Presença Ética
abre mais uma vez um espaço para esses jovens pesquisadores. O artigo das alunas de
graduação, Gabriella Araújo, Gisely Couto e Maria Rosane Martins faz uma reflexão da
antieticidade da realidade em que vivem gerações de crianças e adolescentes no Brasil.
Elas reconhecem os avanços jurídicos alcançados com o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, como uma “conquista ética” enfatizando a necessidade do Estado
colocar em prática Políticas Sociais que garantam a efetivação de direitos pautados
pelos princípios da justiça e da equidade.
Com esse número da revista acreditamos reforçar a contribuição ao debate da
ética, considerando que todos somos sujeitos históricos e, portanto, responsáveis tanto
pela crítica contundente, quanto pela redefinição da análise histórica.
Agradecemos mais uma vez à coordenação da pós-graduação em Serviço Social
da UFPE, em especial à Professora Ana Elisabete Mota, no seu apoio à essa iniciativa
que se materializou graças ao aporte financeiro desta pós-graduação. Agradecemos,
também, aos (às) colaboradores (as); aos membros do conselho editorial e aos que
contribuíram com seus artigos. Esperamos consolidar essas e novas parcerias nas
próximas edições.
Comissão Editorial
As dimensões da prática profissional *
Ana Elizabete Mota**
Sabemos que nossa profissão é furto de um conjunto de contradições, presentes
no desenvolvimento histórico da sociedade capitalista. Tal conjunto relaciona-se com as
expressões da “questão social” e vincula-se diretamente com mecanismos: sóciopolíticos e institucionais requeridos para o seu enfrentamento. Estes mecanismos, na
sociedade burguesa madura, são predominantemente acionados na esfera pública, quer
seja através da ação do Estado, quer seja através de iniciativas dos sujeitos sociais.
No primeiro caso (ação do Estado), o cenário é formado pelas Políticas Públicas,
particularmente as denominadas sociais, e por outros meios que regulam situações
sociais, e por outros meios que regulam situações e relações sociais, como é o caso dos
direitos constitucionais, das leis que regulamentam as condições de trabalho, dos
estatutos formadores de sujeitos de direitos (o caso do ECA, por exemplo) ou ainda, dos
mecanismos de controle social. No segundo (sujeitos sociais), estão situadas as
iniciativas da denominada sociedade civil. Estamos tratando aqui de um ambiente
atravessado/ determinado pela existência de interesses e posições de classe, reveladores
de relações/ posições de confronto, conflito e heterogeneidade política. Em ambas
situações, o que está em jogo é a tensão entre as necessidades do capital e as do
trabalho, cuja natureza antagônica e contraditória é originária do modo desigual como
estas classes participam do processo de produção e distribuição da riqueza socialmente
produzida.
No plano histórico, o Serviço Social participa deste processo por força de
determinações sociais muito precisas. Vejamos: constitui-se como uma profissão que
tem a particularidade de intervir em situações reveladoras das profundas desigualdades
geradas pelo próprio capitalismo, mas que, contraditoriamente, por força das pressões e
dos confrontos daqueles que são espoliados, o capital é obrigado a administrá-las para
manter a sua dominação de classe. Vale lembrar que assim o faz, através de um
conjunto de mediações de ordem econômica, política, ideológica e dependendo das
condições objetivas existentes, quais sejam: a força organizativa das classes subalternas,
o ambiente político-democrático, a ampliação do Estado, etc.
*Texto didático elaborado para a Disciplina Estágio II. Recife, julho de 2002
** Professora doutora do Departamento de Serviço Social da UFPE; atual coordenadora da pós-graduação
em Serviço Social da mesma universidade.
No plano prático operativo, aquelas determinações anteriormente apontadas,
adquirem materialidade na própria constituição da profissão que passa a ter uma
utilidade social marcada pela sua capacidade de dar respostas ao conjunto das demandas
sociais que lhe são postas. Assim, ao longo do seu desenvolvimento histórico, adquiriu
a característica de ser uma profissão de natureza interventiva, possuindo uma
determinada instrumentalidade, qual seja a de conhecer, explicar, propor e implementar
iniciativas voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociais, que, repito, são
inerentes à constituição da sociedade capitalista.
Segundo Yolanda Guerra, essa instrumentalidade da profissão é sócio-histórica e
pode ser apontada em dois níveis:
a) A instrumentalidade face ao projeto burguês que indica o fato da
profissão pode ser convertida num instrumento a serviço do projeto
reformista da burguesia, qual seja o de reproduzir as relações sociais
capitalistas.
b) A instrumentalidade das respostas profissionais que se expressa nas
funções que desempenha na implementação de políticas sociais; no
horizonte do exercício profissional vinculado ao cotidiano das classes
vulnerabilizadas, interferindo no contexto social e nas condições
objetivas e subjetivas de vida dos sujeitos, marcado pelo cotidiano e
pelas necessidades imediatas.
Isto significa dizer que o Serviço Social vincula-se com as práticas sociais que
ora dão visibilidade às desigualdades sociais existentes, ora requerem meios de
atendimento das necessidades delas derivadas, ou ainda, formulam, propõem e operam
ações voltadas para o trato e/ou superação de situações e conjunturas que afetam as
condições de vida e de trabalho daqueles que são sujeitos da desigualdade social.
De igual forma, também significa reconhecer as diversas dimensões presentes na
prática profissional do Serviço Social, tais quais: a dimensão política, a dimensão ética e
a dimensão técnico-operativa da profissão. Estas dimensões possuem uma unidade,
cujos elos que a sustentam são tanto de natureza teórica, vinculada aos fundamentos que
a profissão abraça, quanto ídeo-culturais, reveladores da visão de mundo dos sujeitos
profissionais. Assim, enquanto a dimensão política da prática encontra-se imbricada nos
objetivos e finalidades das ações, principalmente nas possibilidades de interferir nas
relações e situações geradoras das desigualdades e nos mecanismos institucionais para
elas voltados; a dimensão ética reclama por princípios e valores humanos, políticos e
civilizatórios; e a dimensão prático-operativa consiste na capacidade de articular
objetivamente os meios disponíveis e os instrumentos de trabalho para materializar os
objetivos com base nos valores.
Por isso, penso que a chave para desvendar as tendências do Serviço Social
nesse início de milênio é o conhecimento da própria realidade, posto que nela estão
presentes os processos sociais sobre os quais a profissão intervém. Em termos gerais,
significa apreender os processos societários em curso e os modos e meios através dos
quais eles afetam o conjunto da vida social, em cada realidade. Estou defendendo a idéia
de que as tendências da profissão dependem da realidade objetiva e da capacidade que
tenhamos de decodificá-la criticamente, abrindo frentes de intervenção social e
propondo iniciativas que incidam sobre os perversos mecanismos de reprodução das
desigualdades sociais. Aqui estamos pensando nos processos que respondem por
transformações na esfera do trabalho, da ação das classes sociais, do Estado, da cultura
e da ideologia.
Diria ainda que, em função da natureza da ação profissional, o Serviço Social é
instado a fazer recorrências e propostas que tensionem os mecanismos de reprodução
das desigualdades sociais, materializadas (estas últimas) na exclusão econômica,
política, social e cultural e no “desmonte” a que a sociedade brasileira vem sendo
submetida em matéria de direitos sociais e de políticas publicas, por exemplo. Nesta
direção talvez estejam em curso duas tendências básicas no exercício profissional: a da
naturalização da ordem vigente, via incorporação do discurso e das práticas que
“mistificam publicamente” o combate à pobreza através do neo-solidarismo, da
regressão das políticas públicas em prol da criação de novos nichos de mercado e do fim
do trabalho socialmente protegido em função do “empreendedorismo” individual, para
falar somente em coisas básicas; a outra posição, consiste no tato crítico e qualificado
das “exigências da modernidade”, pautado num conjunto de princípios éticos e
políticos presentes no ideário da construção de uma nova sociedade. Esta segunda
posição, longe de qualquer idealismo romântico vem impondo aos profissionais a
necessidade de flexibilizar, rever, propor e criar novos modos e meios de intervenção
que estejam organicamente articulados ao atual movimento da sociedade. Movimento
este que se encontra eivado de desafios e dificuldades derivadas do que anteriormente
chamei de mistificação pública do tratamento dispensado às desigualdades sociais no
Brasil deste final de século. Aqui penso numa idéia gramsciana para partilhar as
angustias profissionais dos que querem construir uma nova ordem: é preciso não ter
medo de ousar porque a firmeza dos princípios determina a flexibilidade das estratégias.
Quais as principais mudanças observadas na profissão nos últimos
anos?
Muitas têm sido as mudanças observadas. O primeiro quesito diz respeito às
profundas mudanças no mercado de trabalho. Não acho que o mercado de trabalho seja
o único determinante das mudanças, mas é um indicador legitimo e necessário para
verificar a legitimação social da profissão, isto é, o conjunto das exigências e demandas
reveladoras da utilidade social do Serviço Social. Também apontam as condições de
trabalho dos profissionais e as competências que estão sendo exigidas do profissional.
Neste ambiente, noto algumas mudanças significativas, dentre elas, a migração dos
postos de trabalho do setor público para as organizações não governamentais, das
empresas para as fundações empresariais, assim como a emergência dos chamados
serviços voluntários que passam a requerer alguma qualificação técnica na elaboração
de projetos, planos de trabalhos, etc. Estes são apenas alguns sinais mais evidentes. Eles
mostram apenas a superfície das mudanças e requerem uma análise mais acurada da
dinâmica social que lhes é subjacente. Já em relação às condições do trabalho
profissional, penso que os Assistentes Sociais como a maioria dos trabalhadores
brasileiros, passam por grandes dificuldades, seja na condição de servidores públicos,
seja na condição de trabalhadores precários, sem segurança no trabalho como é o caso
das ONGs que contratam profissionais por projeto, seja nos chamados trabalhos
temporários, como é o caso dos professores substitutos, ou mesmo em algumas áreas
como ocorreu em Pernambuco na Secretaria da Justiça. Estas condições de trabalho, por
vezes, são instrumentos de desqualificação profissional porque o profissional não tem
condições de fazer proposições, está ali como um mero executor de um projeto, sabe da
vulnerabilidade da sua condição profissional, etc. Isso para não falar dos baixos salários
que inviabilizam o acesso a livros, revistas, cursos e outras atividades necessárias à sua
atualização. No âmbito da formação profissional, em sentido ampliado, também
estamos observando sinais de mudanças que se vinculam a esta conjuntura do “mundo
do trabalho” dos Assistentes Sociais. Há uma pressão muito grande para que a nossa
formação deixe de ser crítica e generalista para adequar-se à cultura pragmática e
efêmera da pós-modernidade. O saber técnico especializado – necessário a qualquer
atividade – está se restringindo ao “saber-fazer”, à formação de competências
especificas e conjunturalmente necessárias para quem nos contrata. Nada tenho contra
formar especialistas; a minha questão é não perder a perspectiva da totalidade, é
permitir que sejamos bons e argutos críticos da realidade. Acho que os Assistentes
Sociais têm obrigação de ter opinião e posição sobre o que ocorre no nosso ambiente.
Ainda hoje estava pensando: diante do escândalo das subvenções na Assembléia
Legislativa, nenhum de nós escreveu no jornal ou deu qualquer depoimento sobre
assistencialismo, clientelismo, assistência, etc. Isso nos qualificaria como trabalhadores,
intelectuais e profissionais. Precisamos publicizar nossos pontos de vista, pensar e
aproveitar seriamente o potencial que temos para reproduzir massa crítica, explorar
nossa experiência. Estamos, ora procurando o que não temos e perdendo o espaço que
conquistamos nos anos 80; ora reféns da passivização dessa ordem que quer desmontar
nossos princípios e valores profissionais e sociais. Neste sentido penso que estamos
num momento decisivo: ou mobilizamos nossas forças para evitar que esta profissão se
transforme num mero exercício técnico-aplicado, ou enfrentamos o desafio de sermos
trabalhadores sociais com capacidade de intervir qualificadamente nos mecanismos de
enfrentamento e superação das desigualdades sociais no país. É preciso ousar intelectual
e politicamente com os meios de que dispomos. O CRESS é um deles.
Referências Bibliográficas
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1995.
Ética, direitos humanos e diversidade *
Maria Lúcia Silva Barroco**
Diversidade e direito à diferença
A diversidade é um tema que envolve profissionais, pesquisadores e militantes
políticos nos debates que se realizam no campo dos direitos humanos. Nesse pequeno
ensaio, sem nenhuma pretensão de aprofundar uma temática tão complexa, nos
propomos a pensá-la como objeto de reflexão ética.
Como componente da realidade social, a diversidade está presente nas diferentes
culturas, raças, etnias, gerações, formas de vida, escolhas, valores, concepções de
mundo, crenças, representações simbólicas, enfim, nas particularidades do conjunto de
expressões, capacidades e necessidades humanas historicamente desenvolvidas. Assim,
é elemento constitutivo do gênero humano e afirmação de suas peculiaridades naturais e
sócio-culturais.
As identidades que unem determinados grupos sociais, diferenciando-os dos
outros, não deveriam resultar em relações de exclusão, desigualdade, discriminações e
preconceitos. Quando isso ocorre é porque suas diferenças não são aceitas socialmente
e, neste caso, estamos entrando no campo das questões de ordem ética e política, espaço
da luta pelo reconhecimento do direito à diferença, uma das dimensões dos direitos
humanos.
Em torno da problemática da discriminação e do preconceito, articulam-se
determinados valores como a tolerância e a alteridade. Tais valores adquirem uma
dimensão ético-política mais abrangente, pois implicam na liberdade e na equidade.
Tolerância e alteridade, mais do que valores, são mediações estabelecidas nas
relações entre os homens, donde sua historicidade. Podemos constatar, recorrendo à
história, que a defesa da tolerância pertence às conquistas da sociedade moderna;
perpassa pela reivindicação da tolerância religiosa, com Locke, pela tolerância política,
com Voltaire e os ilustrados, no século XVIII e por Stuart Mill e Bentham, no século
XIX (Vázquez: 1999).
Costuma-se definir tolerância, em geral, como uma relação social que supõe a existência
de alguma diferença aceita como um direito: o direito de ser diferente.
* Texto elaborado para a pesquisa “Ética e direitos humanos: unidade e diversidade do Fórum Social
Mundial” que integra o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos (NEPEDH) do
Programa de Estudos Pós-graduados em Serviço Social PUC-SP e do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
ética do Programa de Pós-graduação em Serviço Social (GEPE) da UFPE.
** Coordenadora do NEPEDH.
Alguns autores tratam de dois tipos de tolerância: a positiva e a negativa (Exteberria:
2001). A positiva, quando a diferença nos afeta de modo que não possamos ficar
indiferentes a ela (Vázquez, 1999); a negativa, quando não a aceitamos, mas a
“toleramos” com indiferença.
Por outro lado, Jacquard chama a atenção para não confundirmos respeito com
tolerância uma vez que: “A tolerância é uma atitude muito ambígua (Para isso, existem
casas..., dizia Claudel). Tolerar é julgar-se em condições de dominar e de julgar, isto é, é
ter de si mesmo um conceito o bastante positivo para aceitar o outro com todos os seus
defeitos” (Jacquard, 1998:04).
Jacquard está propondo substituir a tolerância pela alteridade: “É necessário
tomar um rumo completamente diferente e tomar consciência da contribuição dos
outros, que se torna tanto mais rica quanto maior for a diferença em relação consigo
mesmo” (Idem, 04).
A alteridade, como o respeito ao outro (que é diferente), complementa a
fundamentação pertinente à defesa da diversidade como direito. “A valorização da
alteridade é também uma crítica ao individualismo burguês, ou seja, à idéia de que
respeitar o outro é entender que “o limite da nossa liberdade acaba onde começa a do
outro”, portanto, uma liberdade “sem o outro”.
A tolerância positiva, assim como a alteridade, implica na liberdade e na
equidade porque exige, como vimos, uma aceitação consciente do diferente; uma
aceitação que vê o outro como sujeito livre e que respeita a sua decisão embora ela não
seja compartilhada. Não existe indiferença, nem isolamento (como na liberdade liberal
do tipo “cada um na sua”, o que representa uma total indiferença), portanto, a relação
social não é rompida, existe uma reciprocidade mediada pela diferença, pela aceitação e
pela alteridade.
Até aqui falamos da diversidade como valor positivo, donde sua relação com a
alteridade, a liberdade, a equidade e a tolerância como direito à diferença. No entanto, a
ética não trata apenas do “bem”, ou do que no campo dos valores entendemos por
valores positivos. A negação de todos esses valores, isto é, a intolerância, o desrespeito
ao outro, a defesa da desigualdade e da não liberdade são também temas da reflexão
ética, uma vez que se trata de compreender que o movimento real entre a afirmação e a
negação dos valores é um movimento muito mais complexo do que parece.
Na intolerância, também ocorre uma relação social em que um dos sujeitos (ou
um grupo, uma raça, etc) é diferente ou faz algo diferente e isso nos atinge. Não ficamos
indiferentes, porém nossa reação é oposta à da tolerância positiva; aqui, diante das
diferenças, assumimos atitudes destrutivas, fanáticas, racistas. A diferença é negada;
mais do que isso: buscamos destruí-la, excluir a identidade do outro, através da
afirmação da nossa tomada como a única válida (Vasquez, 1999).
Historicamente, a intolerância percorre a trajetória da humanidade, destacandose a religiosa e a racial como dois grandes marcos da opressão e injustiça vinculados à
questão da diversidade e aos direitos humanos. Também sabemos que a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi elaborada após a II Guerra Mundial,
teve como uma de suas finalidades tentar evitar que se repetissem atrocidades a
exemplo do Nazismo. Entretanto, mesmo que a partir deste marco muito já se tenha
avançado em termos político-jurídicos internacionais, a história da intolerância continua
a ser escrita, em todos o mundo.
Na prática, o que podemos constatar, sem dúvida, é que os mecanismos de
denúncia de violações aos direitos humanos, a organização crescente dos movimentos
sociais, com destaque para os de mulheres, negros e homossexuais, o uso da tecnologia
virtual e o fortalecimento de movimentos “globais” anticapitalistas, como os do Fórum
Social Mundial, têm contribuído para um enfrentamento mais dinâmico, no sentido de
sua visibilidade e agilidade social no enfrentamento das questões que estamos
analisando.
Uma questão ética e política: a tolerância tem limites?
Destacamos, anteriormente, que a discussão sobre a diversidade não é simples.
Tentaremos traçar novas linhas de sua complexidade através da polêmica que envolve a
relação entre tolerância e intolerância sob o ponto de vista da ética e da política, no
âmbito da defesa dos direitos humanos.
Assinalamos que a tolerância (respeito à diferença) é um valor positivo quando
promove o desenvolvimento de capacidades e vínculos essenciais do homem (como a
alteridade, que é sinônimo de reciprocidade e um vínculo de sociabilidade, e a liberdade
que é o valor ético-político essencial). Por outro lado, tomamos a intolerância como um
desvalor, por negar aquelas mediações. Não podemos esquecer que tais relações e
vínculos – aqui tratados abstratamente – são sociais e historicamente construídos.
Teoricamente, adotamos a seguinte medida de valor para considerarmos uma
ação eticamente positiva:
São de valor positivo as relações, os produtos, as ações, as idéias
sociais que fornecem aos homens maiores possibilidades de
objetivação, que integram sua sociabilidade, que configuram
mais universalmente sua consciência e que aumentam sua
liberdade social. Consideramos tudo aquilo que impede ou
obstaculiza esses processos como negativo, ainda que a maior
parte da sociedade empreste-lhe um valor positivo (Heller,
1972:78).
Nesse sentido, as ações que estariam impedindo a objetivação da liberdade, da
sociabilidade, da consciência e universalidade deveriam ser toleradas? Quando está em
discussão a diversidade cultural, trata-se de indagar sobre a abrangência e validade do
particular e do universal em termos dos valores éticos e das decisões e implicações
políticas que permeiam as diversas práticas culturais da humanidade, ou seja,
perguntamos se é possível e mesmo desejável sob o ponto de vista ético-político que
sejamos tolerantes de forma absoluta.
Historicamente, no campo da antropologia cultural, encontramos
posicionamentos que defendem o ponto de vista do chamado relativismo cultural, que
baseado nos princípios da alteridade e da tolerância privilegiam o respeito à indiferença;
à particularidade.
Para Diniz (2001):
O reconhecimento da existência do humano no plural, da
diversidade cultural da humanidade, fez com que a perspectiva
do relativismo cultural – como uma ferramenta básica da
antropologia – se consolidasse. O problema não parece ser, no
entanto, o relativismo cultural como uma perspectiva
metodológica de apreensão da realidade, mas o relativismo
como uma ideologia que justifica as diferenças em termos
culturais, ou seja, que assume as premissas culturais como
verdadeiras (Idem: 60).
Assim, Débora Diniz chama a atenção para a gênese desse movimento: a recusa
da dominação imperialista, o questionamento acerca dos limites dos padrões universais.
Como ela mesma afirma, o relativismo cultural pergunta:
Sobre quem teria a autoridade do tribunal de julgamento da
diversidade, ou seja, de quem é a voz do tribunal acima das
contingências culturais? Em outras palavras, quem vai ditar a
verdade para a humanidade sobre o que seja ou não um padrão
de cultura válido? Quem vai determinar a validade ou a
legitimidade de uma crença? (idem).
As questões mais polêmicas, no âmbito desta discussão, referem-se a práticas
culturais que representam – para os movimentos de direitos humanos – e para parte da
humanidade, atos de violência inadmissíveis. Podemos citar como exemplos de práticas
culturais: o genocídio, o etnocídio, o racismo e várias práticas culturais relativas à
discriminação contra à mulher, dentre elas a da mutilação sexual. Isso sem contar a lista
interminável de violações que consta dos documentos de direitos humanos e que não se
restringe a práticas culturais, tais como o trabalho escravo, a tortura, o terrorismo de
estado, a guerra, a fome, a prostituição infantil, etc.
Por isso, é importante salientar que embora os exemplos a respeito das práticas
culturais de violação aos direitos humanos acabem recaindo sobre os países não
ocidentais (como é o exemplo das mulheres nos países mulçumanos), isso não significa
afirmar que a civilização ocidental seja um exemplo de não violação. A medida é dada
pelas conquistas da humanidade, em termos genéricos e históricos, levando em conta o
que a humanidade e cada segmento específico já conseguiu avançar em termos de
conquistas dessas questões, sempre tendo por medida a liberdade, a sociabilidade, a
universalidade, isto é, os atributos e capacidades que ampliam as possibilidades do
homem e que estão objetivados em documentos, leis, declarações, em âmbito nacional e
internacional, enquanto produto de lutas por direitos.
Acompanhamos, recentemente, através da mídia, o caso de uma africana
condenada por leis muçulmanas à morte por lapidação1, por um crime de adultério,
apesar de estar separada do marido ao ter concebido sua filha. Para a opinião pública
mundial, tais práticas não deveriam mais existir; porém sabemos que esta é apenas uma
dentre inúmeras questões que envolvem, interesses políticos, religiosos, culturais, mas
também comprometem ativistas dos direitos humanos e estudiosos a se posicionarem
frente a ela.
Perguntamos se em nome do respeito à diferença devemos concordar com essa
condenação; ou, então, se devemos nos omitir.
Segundo Combesque (19998),
Em vinte países africanos e também em certas regiões da Ásia e
do Médio Oriente, mais de 102 milhões de mulheres são vitimas
de mutilações sexuais. Todos os anos a excisão e/a infibulação
são praticadas em cerca de dois milhões de adolescentes (Idem:
114).
As conseqüências da mutilação não se resumem à perda do prazer,
“As conseqüências destes atos bárbaros na sua saúde dão muito
graves e multiplos, por vezes mortais, durante ou após a
‘operação’, realizada como auxílio de uma lâmina de barba, de
uma agulha ou linha, sem anestesia...” (Idem)
Diniz (2001), que pesquisa a questão da mutilação genital feminina; afirma que a
prática é utilizada em 83 países e justificada sob as mais diferentes formas. “Na Etiópia,
por exemplo, 98% das mulheres são mutiladas pelo sistema de mutilação faraônica [...]
que extrai toda a genitália feminina” (Idem: 59). Segundo ela, as diferenças no trato da
questão já aparecem na qualificação dada ao ato de mutilação: para os antropólogos é
um ritual; para os movimentos de mulheres, um ato de violência. Mas embora com
qualificações diferentes, a questão que se coloca, diz ela, é a mesma: “quais valores
culturais justificam tal ato?” (Idem).
1
Trata-se de Amina, condenada à morte, com apedrejamento, na Nigéria, divulgado amplamente pela
Anistia Internacional.
O que podemos observar é que a qualificação da prática (ritual ou ato de
violência) interfere inclusive na caracterização da violação, ou seja, podemos ou
devemos julgar um ato de violência contra as mulheres, mas julgar um ritual já é algo
muito mais ameno, menos caracterizado como objeto de julgamento ético-político.
Ainda para Diniz,
A cirurgia de mutilação feminina é um dos grandes ícones de
uma geração de antropólogos que vem passando os limites da
cultura, da tortura e dos valores universais. O curioso é que a
grande maioria dos antropólogos procura antes justificar a
mutilação da mesma forma que as culturas o fazem, do que sair
à procura de mecanismos de julgamento para a diversidade
cultural (2001: 60).
Observamos a imbricação entre essa discussão e a ética, uma vez que o que está
em pauta são as ações julgadas ou não a partir de valores ético-morais com implicações
políticas, pois o não julgamento não significa uma ausência de valores, mas sim uma
concepção de neutralidade ética e política, uma vez que não contribui para o avanço da
autonomia das mulheres, para o fortalecimento de sua emancipação. O eixo da
discussão posta aponta para a indagação acerca da validade universal dos valores e
normas culturais relativas a direitos. Como vimos, para as correntes do relativismo
cultural a resposta é negativa.
Na base das teorias que defendem o relativismo cultural também observamos a
presença de suportes ético-filosóficos como o relativismo moral que defende a
existência de vários códigos morais na sociedade; cada qual com seu valor relativo e as
tendências do chamado relativismo ético; correntes que se aproximam do
irracionalismo, defendendo a idéia de que “não é possível chegar a um acordo racional
universal na discussão dos princípios éticos, e, portanto, à impossibilidade de discernir,
entre juízos morais em conflito, qual é o correto” (Etxberria, 2002: 256).
Resgatando o caráter universal da ética
As questões já assinaladas recolocam a questão inicialmente proposta: devemos
tolerar tudo? Qual é o limite da tolerância? Ao colocar um limite estaríamos
necessariamente caindo no pólo oposto – o da intolerância?
Não temos todas as respostas, apenas nos propomos a ensaiar algumas reflexões,
partindo de alguns supostos buscados na ética, de acordo com o referencial que tem seus
fundamentos na ontologia social de Marx.
A ética, entendida como uma ação prática consciente, que deriva de uma
escolha racional entre alternativas e orienta-se por valores que buscam objetivar algo
que se considera “valoroso”, “bom”, “justo”, contêm algumas mediações essenciais: a
razão, as alternativas, a consciência, o projeto que queremos realizar, os valores éticos,
a responsabilidade em face das implicações objetivas da ação para os outros homens,
para a sociedade. A questão da responsabilidade é, pois, central na ação ética, uma vez
que ela dá sentido à sociabilidade e à liberdade inerente às escolhas2.
Ontologicamente considerada, a ética é também uma atividade que permite ao
indivíduo sair de sua singularidade para estabelecer uma conexão consciente com o
humano genérico; logo, é uma atividade universalizante, mesmo sendo realizada por um
indivíduo particular. Nesse sentido, a ética se põe como mediação entre todas as esferas
sociais, inclusive da esfera moral, campo institucionalizado de normas e deveres
orientadores do comportamento dos indivíduos sociais e campo propício à reprodução
de valores e deveres assimilados espontaneamente pela tradição, pela repetição, pelo
hábito, ou seja, de forma acrítica, levando à reprodução da alienação no campo do
comportamento ético-moral.
A ética é uma capacidade humana fundada na liberdade de escolha, mas a
autonomia implica na racionalidade crítica capaz de ultrapassar o nível do que é
repetido espontaneamente para recriar a vida em patamares cada vez mais criativos e
livres. A ética tem um caráter universalizante porque sua razão de ser é exatamente a de
estabelecer a conexão entre a singularidade e a genericidade do homem.
Para Marx, a liberdade consiste na participação dos indivíduos sociais na riqueza
humano-genérica construída historicamente: “a humanidade será livre quando todo
homem particular possa participar conscientemente na realização da essência do gênero
humano e realizar os valores genéricos em sua própria vida, em todos os seus aspectos”
(Marx, segundo Heller, 1977: 217).
2
Em nossa sociedade, nem todas as escolhas deveriam ser julgadas moralmente; muitas se referem a
opções pessoais cujo resultado não está impedindo a manifestação das capacidades humanas. São
escolhas, como por exemplo, a orientação sexual, o modo de se vestir ou de se comportar, ou seja,
questões que só são tidas como morais pela presença do preconceito, típico do moralismo.
Por riqueza humana, Marx concebe a universalidade das necessidades e
capacidades, o domínio do homem sobre a natureza, a explicitação absoluta de suas
faculdades criativas. Em suas palavras3: “Uma explicitação na qual o homem não se
reproduz numa dimensão determinada, mas produz sua própria totalidade(...) Na qual
não busca conservar-se como algo que deveio, mas que se põe no movimento absoluto
do devir...” (Marx, 1971, I, 372).
Pelo exposto, podemos considerar que a diversidade, tomada como a
explicitação dos “valores humano-genéricos em todos os seus aspectos”, como a
expressão da manifestação da criatividade humana, da multiplicidade de capacidades e
possibilidades do ser social é, como afirmamos inicialmente algo valoroso porque é
elemento de explicitação do próprio homem, como ser humano-genérico, rico em,
necessidades e formas de satisfação.
Ao mesmo tempo, a existência concreta de relações mediadas tanto pela
tolerância como pela intolerância vem nos mostrar que no processo de desenvolvimento
do homem – marcado pela existência da alienação, que coincide com o surgimento da
sociedade de classes – ocorrem, simultaneamente, o desenvolvimento de conquistas do
gênero humano na direção de sua emancipação e a sua negação, por parte dos
indivíduos sociais, grupos e extratos sociais.
De acordo com esses pressupostos, manifestações culturais que representam atos
de violência que, em termos das conquistas humano-genéricas emancipatórias já foram
negadas, não podem ser toleradas, inclusive porque representam formas de alienação ,
cuja superação significa a apropriação de conquistas já efetuadas em termos do
desenvolvimento humano genérico e significa, também, em termos da liberdade, a
superação, a ruptura com os obstáculos e impedimentos que se colocam como limites à
plena manifestação dos indivíduos sociais.
Isso posto, entendemos que o desenvolvimento da história no horizonte da
emancipação humana encontra na relação entre as particularidade que constituem as
diversas culturas e modos de ser humanos e a universalidade de suas conquistas na
direção da liberdade, a possibilidade de intercambio gerador da riqueza humana
historicamente construída.
”Em todas as formas, ela [ a riqueza representada pelo valor ] se apresenta sob a forma objetiva, quer se
trate de uma coisa ou de uma relação mediatizada por uma coisa, que se encontra fora do indivíduo e
casualmente a seu lado[...] Mas, in fact, uma vez superada a limitada forma burguesa, o que é a riqueza se
não a universalidade dos carecimentos, das capacidades, das fruições, das forças produtivas, etc., dos
indivíduos, criada no intercâmbio universal? O que é a riqueza se não o pleno desenvolvimento do
domínio do homem sobre as forças da natureza, tanto sobre as chamadas da natureza, quanto sobre as da
sua própria natureza? O que é a riqueza se não a explicitação absoluta de suas faculdades criativas, sem
outro pressuposto além do desenvolvimento histórico anterior, que torna finalidade em si mesma essa
totalidade do desenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento de todas as forças humanas enquanto tais,
não avaliadas segundo um metro já dado? ( Marx, 1971, I, 372)
3
E a ética, pelo seu caráter universalizante e valorativo, pode fornecer uma medida para o
julgamento de valor em face de alternativas que se referem à diversidade.
Dessa forma, tanto a absolutização do particular como do universal, sem levar
em conta sua historicidade e, como tal, a presença de relações contraditoriamente
marcadas pela alienação e por possibilidades de sua superação levará a soluções
abstratas e unilaterais.
Vimos que para o relativismo ético não é possível, diante de vários códigos
morais em conflito, chegar a um acordo racional, o que significa deixar de atribuir ao
sujeito ético o uso da razão, a capacidade de escolha e a responsabilidade pelas
escolhas, que, na verdade, deixa de ser um sujeito com autonomia, fundamento
ontológico da capacidade ética do ser social. Ao mesmo tempo, nega-se a possibilidade
de consensos, princípio político democrático produzido pelo confronto entre diferentes.
No limite, caímos no niilismo ético-político, pois se tudo é relativo nada tem valor e se
não é possível consensos também deixa de ter sentido o debate plural.
Assinalamos, também, que a crítica do relativismo cultural fundamenta-se
basicamente na negação do imperialismo cultural ocidental e na indagação em face da
seguinte questão: quem teria a responsabilidade de julgar a diversidade? Essa questão já
implica afirmar que qualquer cultura que se dispuser a julgar terá um ponto de vista
particular.
Se refletirmos sobre o significado ideológico destes questionamentos, vemos que
eles têm sua razão de ser uma vez que, de fato, a cultura dos direitos humanos que
representa a base dos documentos internacionais e que servem de referência para as
violações, é um produto histórico da civilização ocidental; portanto, ideologicamente
marcada por uma determinada forma de sociedade, de cultura e de valores. Entretanto, a
questão é muito mais complexa, pois sua negação, em nome da recusa à dominação
imperialista, tem seus desdobramentos, com implicações éticas e políticas que podem
produzir um resultado objetivo oposto ao desejado pela sua crítica.
Nos parece que o enfrentamento dessa problemática não se resolve pelo
relativismo, pelo já exposto, mas o inverso – a defesa do universal – também implica
em muitas mediações. Por um lado, não podemos aceitar, a priori, que as Declarações
de Direitos Humanos, cujos fundamentos correspondam a uma determinada cultura
(ocidental, cristã, liberal, capitalista), sejam tomadas como um modelo ético0político
perfeito. Sua validade sempre deverá ser mediada pelo nível de incorporação das
diferentes culturas e de uma construção que estabeleça mediações entre o particular e o
humano genérico, através do debate dos movimentos mundialmente articulados e
representativos de todas as diversidades existentes na vida social e tendo por horizonte a
emancipação humana, o que supõe a superação desse modelo.
No âmbito da defesa dos direitos, a mediação entre o particular e o universal
deve ser buscada pela via democrática, através do debate plural que comporte a
diversidade, mas que tenha um objetivo comum: preservar as particularidades, elegendo
alguns princípios universais que garantam um consenso em torno de valores éticos
políticos.
Esse universal – tendo por parâmetros as conquistas emancipatórias – seria então
o limite entre o tolerável e o intolerável, o limite entre o que fere e anula as identidades
particulares, ou seja, os valores e princípios que hoje são utilizados para julgar as
violações contra os direitos humanos e outros que forem criados pelos homens, pois
para o humano, a medida de valor é o próprio homem.
Por isso, a questão do pluralismo, assim como a da diversidade, não significa
ausência de conflitos e interesses, mas sim o posicionamento diante deles, a
possibilidade de todos se manifestarem, a responsabilidade ética de tomar uma posição
diante do que não concordamos e a condição política de lutar pela hegemonia do projeto
que defendemos.
Nesse sentido, nosso Código de ética é bem claro quando, em seus princípios
afirma que os assistentes sociais elegem como princípios fundamentais, a liberdade, a
democracia, a equidade, a justiça social, o empenho na eliminação de todas as formas de
preconceito e de discriminação por questões de classe social, gênero, etnia, religião,
respeito à diversidade, à discussão das diferenças e a garantia do pluralismo, através do
respeito às correntes profissionais democráticas existentes...
De forma explícita, nosso Código indica uma concepção de diversidade e de
tolerância, cujo limite é colocado em torno do campo democrático e da negação
daqueles valores cujas ações e manifestações produzam o racismo, o preconceito, a
discriminação, enfim, a negação dos valores considerados positivos.
Esse posicionamento, que vem sendo conquistado em várias dimensões do
Serviço Social brasileiro, há pelo menos três décadas, evidencia um amadurecimento
teórico – metodológico e ético-político que – se por um lado precisa ser constantemente
realimentado para não se perder – por outro, nos coloca como interlocutores
privilegiados no campo da defesa dos direitos, em suas várias configurações.
Referências Bibliográficas
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São
Paulo, Cortez, 2001.
CFESS. Código de Ética Profissional do Assistente Social, CFESS, Brasília, 1993.
COMBESQUE, Marie Agnès. Introdução aos direitos do homem. Portugal, Lisboa,
Terramar, 1998.
DINIZ, Débora. Direitos Universais, valores culturais. In Novaes, Regiva (Org.),
Direitos Humanos: temas e perspectivas, Rio de Janeiro, Mauad, 2001.
ETXBERRIA, Xabier. Etica de la diferencia. Espanha, Bilbao, Universidad de Deusto,
2001.
HELLER, Agnes. O quotidiano e a história. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1972.
______________. Sociologia de la vida cotidiana. Espanha, Barcelona, Península,
1977.
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Entre la realidad e la utopia: ensayos sobre política,
moral y socialismo. México, Fondo de Cultura Econômica, 1999.
Democracia em tempos de globalização
Edistia Maria Abath*
A constituição da ordem mundial, nos dias de hoje, remete a complexas relações
entre o que se convencionou chamar de principais Países do mundo e, como tais se
legitimaram os Estados Unidos, bloco - G7- se fortalecem e constituem uma hegemonia
configurada por ações de caráter expansionista e por que não dizer recolonizadora,
frente aos demais países do mundo? Nesse sentido, impõe-se a tarefa de compreensão
dos supramencionados processos em curso, com a finalidade de contribuir para o debate
sobre questões teórico-práticas dessas manifestações conjunturais.
Na atualidade, diversas configurações políticas, são chamadas de democracia,
embora, ao serem analisadas, mesmo sob o mero prisma da etimologia da palavra, não
resistem a questionamentos amplos e profundos, sobre as formas que imprimem àquelas
estruturas que chamam de democracia.
Held destaca o fato de que,
Sob a epiderme do triunfo da democracia, surge um aparente
paradoxo: ao mesmo tempo em que o “governo do povo” ganha
novos defensores, a própria eficácia de democracia, como forma
nacional de organização política, pode ser colocada em dúvida.
As nações proclamam-se democráticas, no momento exato em
que as mudanças, no âmbito da ordem internacional
comprometem a possibilidade de um Estado-nação democrático,
independente (Held, 1991: 91).
Constata-se, aqui, um novo aspecto a ser considerado, tendo em vista as
premissas subjacentes à doutrina da democracia – tanto em sua versão liberal, como na
chamada “radical”.
As democracias podem ser tratadas, essencialmente, como
unidades auto-suficientes; e as democracias são, claramente,
separadas umas das outras. Ademais as mudanças, no âmbito de
uma democracia, dizem respeito às estruturas internas e à
dinâmica das sociedades democráticas nacionais; o que a
política expressa, em última analise, é a interação de forças,
operando no plano do Estado-nação (Idem).
* Professora da Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, doutoranda do Programa de PósGraduação em Serviço Social da UFPE e pesquisadora do GEPE/UFPE. E-mail: [email protected]
A democracia liberal, no dizer de Held, provocou um enorme crescimento das
burocracias públicas, congestionando o espaço da iniciativa privada e do exercício da
responsabilidade individual. Nessa perspectiva, observou-se a preocupação da esquerda
como crescimento da congruência entre os representantes políticos e os cidadãos
ordinários, tendo em vista a responsabilidade política e democrática do Estado. A
esquerda, não se alinhou à idéia de que o Estado é uma autoridade independente e deve
manter seu poder circunscrito, em relação à cidadania – proposição que corresponde à
auto-imagem ou à ideologia do Estado Moderno.
Segundo Mcpherson(1985) e Patewrman (1970), o Estado se encontra,
inexoravelmente, comprometido com a manutenção e reprodução das desigualdades da
vida cotidiana. Em diversas formas de democracia participativa e em concepções
republicanas de cidadania, na busca de maior democratização do Estado e da Sociedade
Civil, a ênfase recai na obrigação de levar o processo político a uma maior
responsabilidade com grupos e indivíduos e numa maior transparência e sensibilidade
aos desejos e necessidades do povo.
É preciso, porém, além de assinalar os elementos de continuidade na formação e
estrutura do Estado e da sociedade modernos, considerar os elementos, na sua forma e
dinâmica atual, quando se tem uma ordem internacional que compreende a emergência
de um conjunto complexo de regras, sobretudo econômicas, mesmo para aqueles de
maior relevância, no cenário político. Pode-se destacar que essas normas não permitem
o controle individual em nenhum Estado, nem, também, a expansão de redes
transnacionais de comunicação sobre as quais os Estados, individualmente, têm pouca
ou nenhuma influencia. De acordo com Held, é necessário, também, considerar:
A intensificação da diplomacia multilateral e a interação
transgovernamental, que pode opor contrapesos e limitar a
latitude de ação dos estados mais poderosos; o desenvolvimento
de uma ordem militar global e a edificação de meios de guerra
total como características estáveis do mundo contemporâneo que
podem reduzir o espectro de políticas a disposição dos governos
e seus cidadãos (Idem).
Por meio desses elementos, considera-se que os processos atuais de decisão
democrática devem ser vistos no contexto de uma sociedade multinacional, multilógica
e internacional e no cenário de uma série de Instituições, já existentes ou emergentes,
em nível regional ou global e nas áreas políticas, econômicas e culturais:
A expansão das conexões intergovernamentais e transnacionais
contudo, a era do Estado-nação de modo algum terminou. Ainda
que o Estado-nação territorial tenha declinado, é preciso
observar que esse é um processo desigual e em particular,
restrito ao poder e ao alcance dos Estados-nação dominantes do
Ocidente e do Leste. A sociedade global européia alcançou seu
ponto de máxima influencia na virada do século XX, e a
hegemonia americana caracterizou as décadas do pós guerra (...)
se o sistema global se configura hoje por mudanças
significativas, isso deve ser entendido menos como o fim da era
dos Estado-nação que como um desafio à era dos Estados
hegemônicos (Idem: 92).
Isso constitui um desafio, pela imposição de limites e restrições ao Estadonação, que terá as possibilidades de tornar uma sociedade democrática soberana
diferenciada. Held diz que a soberania é erodida, apenas, quando deslocada por uma
autoridade superior ou independente que reduz o âmbito legitimo de decisão do Estado
nacional. O autor ressalta que soberania diz respeito à autoridade política:
No seio de uma comunidade que detém o direito incontestado de
definir o sistema de normas, regulamentos e políticas num dado
território, e de governar de acordo com esse direito, da
capacidade real do Estado de agir independentemente na
articulação e busca de objetivos políticos domésticos e
internacionais... a autonomia refere-se à capacidade do EstadoNação agir independentemente das restrições internacionais e
transnacionais e de alcançar objetivos quando estes tenham
fixados (Idem: 94).
Nesse sentido é que se pode indaga: será que a soberania se mantém, quando a
autonomia foi reduzida? Como fica a democracia, diante dessas injunções da realidade?
Algumas “disjuntivas” são apontadas no estudo do autor já citado, no tocante à
democracia, tendo em vista os mecanismos, desenvolvidos pelo processo de
globalização, ou seja: “há uma disjuntiva entre autoridade formal do Estado e o sistema
vigente de produção, distribuição e comércio que limita de varias maneiras o poder ou
âmbito de ação das autoridades políticas nacionais (Held, 1989: 13).
Entre essas disjuntivas, destacam-se:
a economia mundial que compreende a internacionalização do que é
produzido ou seja, seu planejamento é realizado, tendo, como referencia a
economia mundial e as operações financeiras, que, devido ao avanço da
informática, passaram a ter mobilidade em relação aos diversos tipos de moeda,
estoques e ações, podendo, desse modo se adequar às operações como todo tipo
de organizações financeiras e comerciais;
o enfraquecimento das fronteiras, provocado pelo progresso tecnológico das
comunicações e transporte, torna mais vulneráveis e sensíveis os mercados;
(anteriormente sem essa aproximação, esse limite era preservado permitia a
administração de políticas econômicas e nacionais independentes);
A interconexão das economias do mundo contribui para a dificuldade de
aplicação das políticas econômicas e sociais, pois estabelece um padrão de
prioridade, geralmente sob a ótica do Mercado.
Outras disjuntivas são, ainda, apontadas por Held1, segundo as quais são
estruturadas novas formas de sociabilidade, ou seja, de pressão para implementação de
políticas mundiais. Dentro do conjunto dessas proposições, pode-se destacar:
O desenvolvimento do direito internacional submeteu
indivíduos, governos e organizações não governamentais a
novos sistemas de regulação legal. O direito internacional
reconheceu poderes e limitações, direitos e deveres que
transcendem a Estados-nação, e que, mesmo não sendo
garantidos por instituições dotadas de poder coercitivo, têm
conseqüências de grande alcance (Held, 1991: 173).
O autor chama a atenção para o fato de que as regras, as quais visavam proteger a
autonomia dos Governos, em julgamentos, no que concerne à sua política externa e
interna e restringir a ação dos tribunais de cada País a ações em seu próprio território,
preservando-se, assim, a soberania das diversas nações, vêm sendo, cada vez mais,
questionadas, indicando forte tensão entre soberania e Direito Internacional. Outra
disjuntiva para a qual o autor chama a atenção é: “O sistema global de Estados,
caracterizado pela existência de grandes potências e blocos de poder, que às vezes
debilita a autoridade r a integridade do Estado (Idem: 176).
Através desse conjunto de aspectos, observa-se que a Ordem Internacional
está mudando e, inexoravelmente, também o papel do Estado. Há bastante tempo, um
complexo global de interconexões vem se difundindo, porém, atualmente, pode-se
identificar uma intensa propagação da internacionalização de atividades domesticas e
uma concentração dos processos decisórios, em nível internacional. A esse respeito,
McGrew e Held afirmam:
O Estado transformou-se numa arena fragmentada de
formulação de decisões políticas, permeada por redes
transnacionais (governamentais e não governamentais) e por
órgãos e forças internos. Do mesmo modo, a vasta penetração
das forças transnacionais na sociedade civil alterou sua forma e
sua dinâmica... Criaram-se novas formas de política multilateral
e
global,
que
envolvem
governos,
organizações
intergovernamentais (OIGs) e uma vasta gama de grupos de
1
Vasta gama de organização e regimes internacionais estabelecida para administrar setores inteiros da
atividade transnacional (comercio, os oceanos, o espaço e assim por diante). O crescimento do número
dessas novas formas de associação política reflete a rápida expansão das ligações transnacionais.
pressão transnacionais e organizações não governamentais
internacionais... Houve um aumento explosivo do número de
regimes internacionais, como o regime de não-proliferação
nuclear (Held, 2001: 31 -32).
Observa-se, ainda, uma intensa rede de atividades nos e entre os principais
foros internacionais, formuladores de política, as quais abrangem as reuniões de cúpula
da ONU, do G7, do FMI, da Organização Mundial do Comércio (OMC), da União
Européia, da Cooperação Econômica Asiática no Pacífico (CEAP), do Fórum Regional
da Associação de Nações do Sudeste Asiático, de reuniões para o desenvolvimento da
Área Livre de Comércio das Américas (ALCA) e Mercado do Cone Sul
(MERCOSUL).Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a globalização revela em uma
magnitude crescente, o aceleramento e o aprofundamento do impacto dos fluxos e
padrões inter-regionais de interação social.
Um outro aspecto a destacar é que o debate sobre a globalização se difundiu
paralelamente à expansão do projeto neoliberal. O consenso, de Washington, acerca da
desregulamentação, privatização, programas de ajuste estrutural (Paes) e limitação do
Governo provocaram a emergência de muitas questões, nos principais países do mundo,
ligados às condições de vida do seu povo e à organização estrutural de produção,
emprego e renda. Embora não se possa atribuir as responsabilidades dos aspectos
citados à globalização, uma vez que se tem claro que o processo globalista resulta de
forças múltiplas, do qual fazem parte , tanto os elementos econômicos, políticos e
tecnológicos, além do fatores característicos de uma determinada realidade, tem-se,
como claro, que o referido processo provocou um conceito de transformação global que
alterou todos os princípios de ordenação da vida social, em nível mundial, sugerindo
questionamentos sobre a nova configuração do Estado Moderno, sobretudo, em relação
aos aspectos da: soberania, Estado-nação, autonomia, igualdade, liberdade e outros.
Tendo em vista o desenvolvimento dos processos, ora citados, o espaço e o sentido de
democracia devem ser reconhecidos:
É essencial dar-se conta de que pelo menos as conseqüências
centrais de globalização: em primeiro lugar, da maneira pela
qual os processos de interconexão econômica política legal e
militar, entre outras, estão modificando por cima a natureza do
Estado Soberano; em segundo lugar, da maneira pela qual os
nacionalismos locais e regionais estão erodindo os Estadosnação por baixo; e em terceiro lugar, da maneira pela qual a
interconexão global cria cadeias de decisões políticas e
resultados interligados entre os Estados e seus cidadãos que
alteram a natureza e a dinâmica dos próprios sistemas políticos
nacionais. A democracia tem de acertar contas com esses três
desenvolvimentos e suas implicações para os centros de poder
nacionais e internacionais (Held, 1991: 179).
O aspecto referido acima, já ressaltado, não pode deixar de ser analisado no
tocante à expansão da proposta de Estado neoliberal, que vem erodindo princípios, antes
consagrados pela democracia, tais como a igualdade, a liberdade e a autonomia, de
acordo com o receituário, que o caracteriza.
Para pensadores, como Friedman, o financiamento do gasto público, em
programas sociais, provocou as seguintes distorções: a ampliação do déficit público, a
inflação, a redução da poupança privada, o desestímulo ao trabalho e à concorrência,
com a conseguinte diminuição da produtividade, e até mesmo a destruição da família, a
falta de motivação para os estudos, a formação de gangues e a criminalização da
sociedade. A ação do Estado, no campo social, deve se ater a programas assistenciais:
auxílio à pobreza, de forma irregular, assistemática, para não provocar distorções no
Mercado.
Observa-se, no entanto, que a fragmentação do agir ou do papel do Estado
gerou impactos negativos, sobre a integridade dos sistemas de proteção social,
introduzindo rupturas, entre os que são empregados e gozam de proteção e os que não
são empregados e, provavelmente, não o serão, precariamente, protegidos. A renda
mínima, baseada no argumento progressista, ou seja, como uma nova forma de conceber
a distribuição da riqueza social, ou como uma nova forma de solidariedade social,
baseia-se na mudança de concepção de Justiça Social. De um ideário de justiça
cumulativa – preconizando que se dê a cada um o equivalente ao que contribuiu para
criar, desloca-se para uma justiça (re) distributiva, entendendo estar assegurado, a cada
um, o direito de participar da riqueza geral, seja qual for a contribuição que deu para
gerar a riqueza social.
A descentralização, a focalização e a privatização foram
implantadas como forma de atendimento a esses segmentos
menos favorecidos. A descentralização é concebida como modo
de aumentar a eficiência do gasto, já que aproxima problemas e
gestão. Busca-se incrementar a interação em nível local dos
recursos públicos e dos não governamentais, para o
financiamento das atividades sociais. A focalização, por sua vez,
significa o direcionamento do gasto social a programas e a
públicos-alvos específicos, seletivamente escolhidos pela sua
maior necessidade e urgência. Justifica-se a partir da visão de
Friedman, que o Estado só deve intervir residualmente e no
campo da assistência e que em geral não são mais necessitados
aqueles que recebem o benefício. A privatização expressa-se
como o deslocamento da produção de bens e serviços públicos
para o setor privado lucrativo. Considera-se uma resposta de
alívio à crise fiscal, racionaliza os recursos. Propõe também o
deslocamento da produção e/ ou distribuição de bens e serviços
públicos para o setor privado não-lucrativo composto por
associações de filantropia e organizações comunitárias.
1.
a transferência (incluindo a venda) para a propriedade privada
de estabelecimentos públicos;
2.
a cessação de programas públicos e o desengajamento do
governo de algumas responsabilidades específicas (privatização
implícita); reduções (em volume, capacidade, qualidade) de serviços
publicamente produzidos, conduzindo a demanda para o setor privado
(Draibe, 1993: 97).
O neoliberalismo não tem, em vista, razões pertinentes à justiça social. Suas
justificativas voltam-se para questões do volume e, sobretudo, da eficácia do gasto
social. A expansão do mencionado sistema vem afetando e, sobretudo, acirrando a
questão social2, manifesta nos mais diversos aspectos da produção e reprodução da vida
material e espiritual e provocando a desigualdade e a exclusão social. Nessa ótica, é que
se questiona o sentido da democracia, na atualidade, quando se percebe que todos os
valores, sobre os quais se balizou, desde a formação do Estado Moderno estão
eqüidistantes ou esvaziados. Como compreender o sentido de tal categoria, na atual
conjuntura? Como interpretar seu significado, frente às contradições da realidade e
adotá-la, como Princípio, no exercício de uma determinada profissão?
Tomando, como referencia, as palavras de Chauí (2003), em analise sobre a
realidade atual, em relação às diversas manifestações dos movimentos sociais, mais
especificamente dos que vêm, há décadas, buscando realizar a reforma agrária:
O que está acontecendo no país, não é uma crise social, mas sim,
pela primeira vez na história, o pleno funcionamento da
democracia. É uma coisa espantosa e certamente deixa as
pessoas desorientadas porque é uma experiência inédita. Contra
a idéia liberal de que a democracia é o único regime da lei e da
ordem da democracia é o único regime político no qual os
conflitos são considerados o princípio do seu funcionamento...
Na democracia graças ao trabalho do conflito, a democracia diz
ao governo o que ela pensa, o que quer e como quer que seja
feito (Chauí, folha de São Paulo: 03/08/2003).
2
Questão social aprendida como conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista
madura, que tem um raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantem-se privada, monopolizada por uma
parte da sociedade. (Iamamoto, 1998: 27)
Nesse entendimento, através da plena expansão do direito de reivindicar o
acesso aos bens e serviços, necessários à sobrevivência e bem-estar, quem sabe pode se
construir uma sociedade, com maiores possibilidades de interferir nos processos
fundamentais da formação de uma sociedade emancipada? Retomando a questão sobre a
performance da formação da democracia, na realidade atual, Bresser Pereira reflete,
acerca dos conflitos, na atualidade, que vêm preocupando os setores conservadores, os
quais priorizam a ordem, em relação à justiça. Os representantes dessa concepção
exigem o respeito à lei, à propriedade e aos contratos bem como a repressão aos
movimentos sociais. Em sua análise, tomando a essência, a natureza do pensamento
autoritário, cujas bases atribui à doutrina liberal-clássica, oligárquica ou tecnocrática,
indaga:
Serão as pressões sociais a melhor forma de obrigar o governo a
pensar por conta própria e a tomar as decisões de interesse
nacional? O pensamento autoritário seja ele de origem
oligárquica, liberal clássica ou tecnocrática, dirá imediatamente
que não. O pensamento oligárquico, porque é autoritário por
definição; o pensamento liberal clássico, porque, para ele, a
democracia representativa significa dar autonomia ao governo
eleito para tomar decisões (que só poderão ser avaliadas pelos
cidadãos nas próximas eleições); o pensamento tecnocrático,
porque entende que a razão técnica deve sempre prevalecer. E o
que diz o pensamento democrático? Afirma que o conflito social
e o debate público são dois elementos constituintes das
democracias modernas. Não existe democracia sem convivência
com conflitos e sua solução através do compromisso ou da
argumentação, ou de uma combinação de ambos. (...) A
democracia é o regime do conflito social, da argumentação e do
compromisso, mas é também o regime da lei e da ordem
(Pereira, folha de São Paulo: 10/08/2003).
O autor, coerentemente à linha do seu pensamento, atribui um papel
significativo à ordem, como imprescindível às democracias. Por outro lado, arroga o
aguçamento das questões sociais, a forma da nossa organização social cujo modelo
buscou, sempre, preservar um certo tipo de ordem, a qual, no decurso da história gerou
tantas incongruências. Nesse sentido, configura-se o tensionamento, gerado entre os
diversos segmentos da sociedade civil brasileira, na atualidade, diante da possibilidade
de expressar e reivindicar direitos, há muito tempo, já definidos e até reconhecidos
como tal. Isso caracteriza o embate, contextualizado pelo autor, acima referido, entre as
diversas forças em conflito, que, há décadas, por que não dizer séculos, vêm se
confrontando, pela manutenção de privilégios, que segmentam e dividem a nossa
sociedade, em classes diferenciadas: de um lado, uma minoria que detém todo o poder,
em detrimento dos direitos de grande maioria, que luta, por eles, ainda, que mínimos.
Ressalte-se que a tese sobre a democracia analisada pelo autor, acima, indica a
perspectiva, adotada por diversas correntes as quais têm um entendimento ligado a uma
visão conservadora de democracia. Tais visões, em geral não admitiam conflitos, como
forma de tentativa de solucionar as questões os impasses. Para o autor, só nas
democracias modernas, os conflitos se estabelecem, como meio de reivindicação de
direitos. Observa-se, entretanto, que em nossa sociedade, considerada, historicamente,
uma sociedade moderna, diversos episódios, provocaram inflexões em seu processo de
se construir como democracia. Em muitos desses episódios, a expressão de conflitos foi
debelada pela força e pelo excesso de autoritarismo. Nesse sentido, acredita-se no
confronto, dialeticamente, empreendido como meio de construção de um novo patamar
de relações, através do qual se fortaleça o entendimento de que só a superação das
desigualdades pode dar esperança à formação de uma sociedade democráticaemancipada.
Referências Bibliográficas
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo.
Tradução Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 3. ed.São Paulo: Ática, 1995.
______. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2000.
CARIELLO, Rafael. Democracia é conflito, não ordem, diz Chauí. Folha de S.Paulo,
São Paulo, 3 ago. 2003. Brasil, p. A10.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma questão de salário.
Tradução Iraci D. Poleti. Petrópolis: Vozes, 1998.
DRAIBE, Sônia M. As políticas sociais e o neoliberalismo. Revista USP, São Paulo, n.
17.
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança
cultural. 5. Ed. São Paulo: Loyola, 1992.
HELD, David. A democracia, o Estado nação e o sistema global. Tradução Régis de
Castro Andrade. Lua Nova: revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 23, mar. 1991.
______. MCGREW, Anthony. Prós e contras da globalização. Tradução Vera Ribeiro.
Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.
IAMAMOTO, Marilda V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e
formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998.
10 anos do Código de ética dos (as0 Assistentes Sociais: dimensão
histórica, lutas e desafios
Sâmya Rodrigues Ramos *
Em 2003 o código de ética dos assistentes sociais comemorou uma década de
aprovação, no entanto, inúmeros desafios ainda se colocam na perspectiva de
materialização dos seus princípios ético-políticos no cotidiano profissional. Discutir os
10 anos do atual código de ética profissional pressupõe contextualizar aspectos do seu
processo de elaboração, tendo como referencia as determinações sócio-políticas e o
processo de renovação da profissão no Brasil.
1. Os determinantes da conjuntura da década de 1990
Vivenciamos desde a década de 1970, e mais explicitamente nos anos de
1980/90, uma crise estrutural caracterizada pelo reordenamento do capital para
recuperar seu ciclo reprodutivo. A ofensiva do capital, destina-se a
Reestruturar o padrão produtivo estruturado sobre o binômio
taylorismo e fordismo, procurando, desse modo, repor os
patamares de acumulação existentes no período anterior,
especialmente no pós-45, utilizando-se de novos e velhos
mecanismos de acumulação (Antunes, 1999: 36).
O cenário internacional, a partir do início dos anos de 1970, vivencia um
quadro de crise estrutural do capital, o que leva o capital a utilizar vários mecanismos de
reestruturação, com destaque para a expansão da acumulação no interior da esfera
financeira (Ghesnais, 1996) e a substituição do padrão taylorista e fordista pela
“acumulação flexível” (Harvey, 1992).
No âmbito dessa crise estrutural do capital, a social democracia e o
socialismo real entraram em crise e expandiu-se fortemente, notadamente na década de
1990, o projeto neoliberal. Referindo-se à década de 1990, Chesnais afirma que;
o triunfo da “mercadorização”, isto é, daquilo que Marx
chamava de “fetichismo da mercadoria”, é total, mais completo
do que jamais foi em qualquer momento passado. O trabalho
humano é, mais do que nunca, uma mercadoria, a qual ainda por
cima teve seu valor venal desvalorizado pelo
* Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; Doutoranda do Programa de
Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e Pesquisadora do GEPE – UFPE. Email: [email protected]
“progresso técnico” e assistiu à capacidade de negociação de
seus detentores diminuir cada vez mais diante das empresas ou
dos indivíduos abastados, suscetíveis de comprar o seu uso.
As legislações em torno do emprego do trabalho assalariado, que haviam sido
estabelecidas graças às grandes lutas sociais e às ameaças de revolução social, voaram
pelos ares, e as ideologias neoliberais se impacientam de que ainda restem alguns cacos
delas (Chesnais, 1996:42).
Essa conjuntura de mundialização do capital (Chesnais, 1996) revela as
orientações ídeo-políticas do neoliberalismo que, dentre outras questões: enaltece o
papel do mercado em detrimento da ação pública; enfraquece os Estados nacionais;
deteriora as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora; reconhece como
sujeito tão somente o cidadão-consumidor; difunde um novo tipo de individualismo;
dissemina a ideologia do neosolidarismo e da filantropia empresarial nas respostas às
múltiplas expressões da questão social.
Para entender o surgimento da perspectiva neoliberal, é importante
salientar que é só a partir de meados do século passado que o capitalismo vive a sua fase
liberal por excelência. Hobsbawm (1982) chamou esse período áureo do liberalismo
compreendido entre 1848 e 1875, de “a era do capital”. Deste período até as primeiras
décadas deste século, o liberalismo torna-se, segundo Teixeira (1998), o credo do
capitalismo, mediação obrigatória para o desenvolvimento da sociabilidade sob o
capital.
Essa fase áurea chega ao seu fim com a grande depressão, ocorrida no final
dos anos vinte e início da década de trinta. Para superar esta grande crise do capital,
entra em cena o modelo social-democrático de desenvolvimento que irá viver seu
apogeu no período compreendido entre a Segunda Guerra Mundial até meados da
década de setenta.
Harvey (1994) indica algumas características do capitalismo no período
de 1945/1973, quais sejam: manutenção de taxas estáveis de crescimento econômico
nos países capitalistas avançados de massa; manifestação de um surto de expansões
internacionalistas; ameaças remotas de guerras intercapitalistas.
Para que este modelo de desenvolvimento obtivesse êxito, foi necessário
efetivar compromissos entre os diversos sujeitos envolvidos naquele processo de
reestruturação capitalista. O Estado Keynesiano teve que assumir novos papéis. Nesse
sentido, o capital e o trabalho assumem novas funções relacionadas aos processos de
produção para garantir a lucratividade. As organizações sindicais, por exemplo, foram
sendo, cada vez mais “convencidas” para “trocar ganhos reais de salários pela
cooperação na disciplinação dos trabalhadores, de acordo como sistema fordista de
produção” (Harvey, 1994:129).
A partir da década de 1970, este modelo econômico e social entrou em
colapso – expressão de uma crise orgânica do processo de acumulação capitalista. O
esgotamento desta forma de organização da economia capitalista, fez emergir uma nova
resposta teórico-sócio-política para enfrentar esta crise: o neoliberalismo.
Retomando a tese básica da economia liberal desde Adam Smith1,
1
Analisando as idéias do liberalismo, Teixeira (1998:209) argumenta que o pensamento de Adam Smith
entende a sociedade capitalista como uma “sociedade na qual o mercado deverá ser a instância suprema e
intranscendível da vida humana”.
a proposta neoliberal, defende que o mercado é a instância perfeita para resolver os
problemas econômicos, argumentando que o que falta é implementá-lo em termos
totais. O desempenho máximo do mercado é designado com a categoria de equilíbrio,
conseguido
Quando todos os consumidores podem gastar seus rendimentos
segundo suas preferências, quando as empresas vendem todos os
seus produtos ou serviços, recuperando pelo menos os custos e
quando todos os fatores oferecidos no mercado são usados na
produção destes produtos (Oliveira, 1995:60).
A perspectiva neoliberal conclui que o mercado possui uma tendência
imanente ao equilíbrio e que duas condições são essenciais para permitir uma
aproximação com essa tendência: a propriedade privada e a liberdade de contrato.
Quanto mais são asseguradas essas condições, mais se caminha para o equilíbrio.
Nesta concepção, portanto, o mercado é reconhecido como solução para o
problema econômico de base, como mecanismo único de coordenação das atividades
econômicas de uma sociedade moderna.
Em vários balanços realizados sobre as conseqüências da implantação do
neoliberalismo, constata-se que há diversos indícios do fracasso econômico deste
modelo na América Latina, que se expressam, sobretudo, nas seguintes questões:
desemprego, aumento da pobreza e pauperização das classes médias, colapso das
economias regionais, incontável déficit fiscal, avassalador aumento da dívida externa,
alienação da quase totalidade do patrimônio público via privatizações (Boron, 1999).
Antunes (1999) sinaliza as conseqüências mais importantes dessas
transformações ocorridas no processo de produção para o mundo do trabalho. São elas:
diminuição do operariado fabril típico do fordismo; aumento acentuado das inúmeras
formas de precarização do trabalho; aumento expressivo do trabalho feminino no
interior da classe trabalhadora; enorme expansão dos assalariados médios,
especialmente no “setor de serviços”; exclusão dos trabalhadores jovens e dos
trabalhadores “velhos” do mercado de trabalho; intensificação e superexploração do
trabalho; ocorrência de um processo de desemprego estrutural.
Por outro lado, a perspectiva neoliberal obteve uma grande vitória no
terreno ideológico e moral, na medida em que disseminou seus desvalores2
individualistas, competitivos, egoístas, alardeando a falsa idéia de que não existe outra
alternativa em termos de projeto societário. O fim da história e o pensamento único são
expressões desse fetiche que convenceu amplos segmentos, inclusive no universo do
pensamento de esquerda em nível mundial.
É nesse contexto da década de 1990, que se desenvolve a materialização
do projeto profissional de ruptura, no âmbito do processo de renovação do Serviço
Social brasileiro.
2. O processo de renovação do Serviço Social brasileiro e a construção
do projeto profissional de ruptura
Na trajetória histórica da profissão no Brasil, podem ser identificados
diversos projetos profissionais que a categoria profissional tem procurado construir.
Silva e Silva (1995) sinaliza a existência de três grupos de respostas que configuram os
projetos profissionais que alcançaram certa hegemonia em determinados contextos
históricos: o processo de institucionalização, marcado pelo esforço de profissionalização
da assistência social; a construção da vertente modernizadora, que teve como marco o
Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil e o desenvolvimento do
projeto profissional de ruptura nas décadas de 1980/90.
Netto, ao analisar o processo de renovação do Serviço Social, resgata a
trajetória de disputas e polemicas no interior da categoria profissional, só possíveis de
se
expressarem
no
período
pós-ditadura.
Segundo este autor,
(...) é inconteste que o Serviço Social no Brasil, até a primeira
metade da década de sessenta, não apresentava polêmicas de
relevo, mostrava uma relativa homogeneidade nas suas
projeções interventivas, sugeria uma grande unidade nas suas
propostas profissionais, sinalizava uma formal assepsia de
participação político-partidária, carecia de uma elaboração
teórica significativa e plasmava-se numa categoria profissional
onde parecia imperar, sem disputas de vulto, uma consensual
direção interventiva e cívica. A ruptura com este cenário tem
suas bases na laicização do Serviço Social, que as condições
Utilizamos a distinção feita por Agnes Heller entre valor e desvalor, segundo a qual “pode-se considerar
valor tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em relação com a situação de cada momento, contribua
para o enriquecimento daqueles componentes essenciais; e pode-se considerar desvalor tudo o que direta
ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de um determinado
componente” (Heller, 1989:45). Os componentes da essência humana são, para Marx, o trabalho (a
objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade.
2
novas postas à formação e ao exercício profissionais pela
autocracia burguesa conduziram ao ponto culminante; são
constitutivas desta laicização a diferenciação da categoria
profissional em todos os seus níveis e a consequente disputa
pela hegemonia do processo profissional em todas as suas
instâncias (projeto de formação, paradigmas de intervenção,
órgãos de representação etc.) (Netto, 1991: 128).
Do ponto de vista de Netto (1991), tal laicização é um dos elementos
constitutivos da renovação do Serviço Social e assim como os demais, tais como a
emergência da produção teórica, só puderam ocorrer graças ao desenvolvimento das
relações capitalistas durante a “modernização conservadora”. Nesse sentido, a crítica ao
conservadorismo foi a primeira condição para a construção do novo projeto profissional.
Embora, na segunda metade dos anos 1960, já tenhamos, através do Movimento de
Reconceituação, questionamentos às tendências conservadoras na profissão, é somente
na transição dos anos 70 aos 80, que a recusa e a crítica destas tendências se
viabilizaram.
Netto (1991), ao analisar o processo de renovação do Serviço Social
brasileiro, sob a autocracia burguesa, sinaliza três direções: a perspectiva
modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. A
perspectiva renovadora, que imprimiu significativa influencia ao processo de construção
do projeto ético-político profissional, foi a intenção de ruptura. Assim,
(...) é precisamente na perspectiva da intenção de ruptura que se
plasmam as conotações inerentes a um exercício profissional (e
suas representações) compatível com a modernidade: o
reconhecimento dos projetos societários diferenciados das
classes e dos parceiros sociais, a compreensão da dinâmica entre
classes/sociedade civil/Estado, a laicização do desempenho
profissional, a assunção da condição mercantilizada dos serviços
prestados pelo profissional etc. (Netto, 1991: 305).
Neste sentido,
A ruptura coma herança conservadora expressa-se como uma
procura, uma luta por alcançar novas bases de legitimidade de
ação profissional do Assistente Social, que, reconhecendo as
contradições sociais presentes nas condições do exercício
profissional, busca colocar-se, objetivamente, a serviço dos
interesses dos usuários, isto é, dos setores dominados da
sociedade (Iamamoto, 1994: 31).
Afinal, a construção de uma nova direção social, expressa na profissão,
não constitui um movimento endógeno ao âmbito profissional, mas integra uma
dimensão mais ampla - a sociedade.
Em relação ao projeto profissional do Serviço Social é, sobretudo, na
primeira metade da década de 1990, que se verifica, no interior da profissão, a conquista
da hegemonia do novo projeto ético-político profissional, materializada, principalmente,
através do crescente envolvimento de segmentos cada vez maiores da categoria nos
eventos profissionais promovidos pelas entidades representativas, e no fato deste projeto
profissional vincular-se a um projeto societário antagônico ao das classes dominantes.
Nesse processo, é fundamental a articulação com segmentos do movimento democrático
e popular nas suas lutas contra o projeto neoliberal (Netto, 1999).
Nesta perspectiva, a manutenção e o aprofundamento do projeto éticopolítico profissional dependem, cotidianamente, da organização da categoria e também
do revigoramento do movimento democrático e popular. Afinal,
A vitalidade desse projeto encontra-se estreitamente relacionada
à capacidade de adequá-lo aos novos desafios conjunturais,
reconhecendo as tendências e contra-tendências dos processos
sociais, de modo que torne possível a qualificação do exercício e
da formação profissionais na concretização dos rumos
perseguidos (Iamamoto, 1999:113/114).
3. O Código de ética de 1993 como expressão do projeto profissional
O projeto profissional do Serviço Social tem, na literatura recente,
recebido a denominação de projeto ético-político. Em relação à dimensão ética, é
somente na década de1990 que esta passa a ser reconhecida explicitamente como
componente fundamental do projeto profissional que, nos últimos vinte anos, tem
construído hegemonia no Serviço Social. Tal reconhecimento se dá a partir, sobretudo,
de dois aspectos. Em primeiro lugar, do contexto sócio-histórico, no início da década de
1990, que, em face da corrupção exacerbada, abre espaço para as reflexões em torno das
possibilidades da ética na política. O ponto alto desse momento é formação de
movimentos pela ética na política e, logo em seguida, a aprovação, pela primeira vez na
história do país, do impeachment do então Presidente da República. Nesta perspectiva, a
ética profissional “se vincula aos projetos sócio-políticos em sua luta pela hegemonia, o
que aponta para a sua conexão com a práxis política e para a moralidade profissional
em suas dimensões individual, cívica e profissional” (Barroco, 1996:216). O segundo
aspecto refere-se aos debates, em nível nacional, sobre a aprovação em 1993, do novo
código de ética profissional.
A renovação do debate ético – profissional, no âmbito da construção do
projeto profissional de ruptura, se configura no contexto da década de 1980, na medida
em que ocorre a explicitação da ruptura com o Serviço Social tradicional. Isto ocorre em
sintonia com o amadurecimento do pensamento crítico, da reflexão marxista e pela
revitalização da organização política profissional, dentre outros aspectos. O Código de
1986 constitui-se numa das grandes expressões deste processo de ruptura com o
tradicionalismo profissional, presente nos Códigos anteriores (1947, 1965 e 1975) que,
fundamentados nas concepções filosóficas neotomista e funcionalista, defendiam uma
ética da neutralidade e valores abstratos.
Estes códigos representaram a hegemonia do tradicionalismo ético no
Brasil em consonância com vários códigos internacionais. O processo de erosão de
bases de legitimação do Serviço Social tradicional se coloca como um fenômeno
internacional na década de 1960. Neste período, o Serviço Social se move entre diversas
propostas que sinalizam perspectivas modernizadoras, reatualizadoras do
conservadorismo e as rupturas. Uma questão que merece destaque é que os códigos de
ética latino-americanos3 ainda não expressavam, no final da década de 1970, os
pressupostos das vertentes críticas da reconceituação, ou seja, os fundamentos
filosóficos do ethos tradicional não foram criticados/superados neste contexto (Barroco,
2001).
Em termos nacionais, o tradicionalismo ético também permanece até a
década de 1970. No código de 1947 prevalece a perspectiva do pensamento católico
tradicional, que defende, dentre comportamentos e a aceitação passiva da autoridade
institucional. O código de 1965 se diferencia do anterior, pois defende uma perspectiva
liberal articulada à concepção neotomista. Já o código de 1975, reafirma o
conservadorismo tradicional ao fundamentar-se no personalismo e na defesa, dentre
outros postulados, do bem comum e da justiça social.
A vigência do tradicionalismo ético - profissional no Brasil prevalece até a
aprovação do Código de 1986; que contribui, portanto, para o desenho de uma nova
moral profissional, fazendo emergir a necessidade quanto ao aprofundamento da
questão ética na profissão.
O código de 1986, apesar da sua inconteste importância para a renovação
profissional, apresentava limitações tanto do ponto de vista filosófico como no âmbito
operacional. Barroco (2001) afirma que o problema deste código não é o compromisso
com as classes trabalhadoras, tomado como princípio de um projeto profissional
articulado a um projeto de sociedade, mas a forma como este é explicitado no âmbito de
um código de ética profissional e a sua abordagem sobre o pensamento de Marx. A
forma como esse compromisso foi exposto, expressa; uma concepção ética mecanicista,
que deriva imediatamente a moral da produção econômica e dos interesses de classe;
uma ausência da mediação dos valores próprios à ética; um comprometimento com uma
classe, como se esta, a priori, fosse detentora dos valores positivos; uma visão idealista
e desvinculada da questão da alienação.
3
Barroco aborda os códigos de ética dos seguintes países do continente americano: Costa Rica, Chile,
Peru, Porto Rico, Colômbia, México, Brasil e Panamá.
Esta autora, cuja tese de doutorado4 foi um marco na reflexão ética
profissional da década de 1990, adverte para existência de uma defasagem em relação à
teorização ética nos marcos dos avanços da vertente de ruptura nos anos de 1980. Do
seu ponto de vista:
A reflexão teórica marxista forneceu as bases para uma
compreensão crítica do significado da profissão, desvelando sua
dimensão político-ideológica, mas não a desvendou em seus
fundamentos do conservadorismo e sua configuração na
profissão, o que não se desdobrou numa reflexão ética
específica. A prática política construiu, objetivamente, uma ética
de ruptura, mas não ofereceu uma sustentação teórica que
contribuísse para uma compreensão de seus fundamentos
(Barroco, 2001: 177).
Nesta perspectiva, a organização política profissional, ao sinalizar aspectos
de uma ética da ruptura na década de 1980, se antecipou à necessária e indispensável
produção teórica nesta área que só viria acontecer nos anos de 1990, como resultado de
diversos fatores, com destaque para o intenso debate coletivo para reformular o código
em 1993; a consolidação da pós-graduação e da pesquisa no Serviço Social brasileiro e
o amadurecimento da vertente marxista.
Este amadurecimento teórico-político no debate profissional,
especialmente pelo percurso às fontes marxianas e pela aproximação com o pensamento
gramsciano, levou à superação do mecanicismo, moralismo e voluntarismo ético-moral,
simplificações encontradas anteriormente na produção teórica desta área.
O código de 1986, além de trazer tais limites filosóficos, apresenta,
também, dificuldades para ser operacionalizado no cotidiano profissional, dada sua
fragilidade enquanto instrumento normativo, ao apresentar artigos abstratos e ambíguos.
Nesta mesma direção, Silva (1996) ao analisar os limites deste código,
Acrescenta alguns desafios para o seu processo de reformulação, dentre os quais,
destaca-se a necessidade de problematizar a relação ética-moral-política; ampliar os
conceitos de classe e instituição; ampliar a concepção de ser social para além da classe,
considerando suas inserções de raça, gênero; incluir aspectos com a relação à crítica das
práticas de discriminação.
A revisão do código de 1986 se processou na perspectiva de manter suas
conquistas e superar as suas insuficiências. Assim,
Intitulada “Ontologia social e reflexão ética” foi defendida em 1996 no Programa de Pós-graduação em
Serviço Social da PUC-SP. Posteriormente em 2001 publicou o livro “Serviço Social e Ética:
fundamentos ontológicos”.
4
(...) teve como pressuposto a consolidação do projeto
profissional nele evidenciado, numa perspectiva superadora, ou
seja, de garantir suas conquistas e ao mesmo tempo superar suas
debilidades (...). Nesse sentido, o recurso à ontologia social
permitiu decodificar eticamente o compromisso com as classes
trabalhadoras apontando para sua especificidade no espaço de
um Código de Ética: o compromisso com valores referidos à
conquista da liberdade (Barroco, 1996:284)
No processo de produção do novo Código de Ética, duas preocupações
foram norteadoras, a saber:
Torná-lo um instrumento efetivo no processo de
amadurecimento político da categoria bem como um aliado na
mobilização e qualificação dos assistentes sociais diante dos
enormes desafios e demandas da sociedade brasileira. Urge
transformá-lo num mecanismo concreto de defesa da qualidade
dos serviços profissionais que desempenhamos; - e,
complementarmente, havia que constituí-lo como um
mecanismo eficaz de defesa no nosso exercício profissional, por
meio da garantia da legalidade de seus preceitos, fornecendo
respaldo jurídico à profissão (Paiva e Sales, 1996:180).
4. Considerações finais
Enquanto expressão do debate ético - profissional, o código de ética de
1993 mantém uma nítida relação com o projeto profissional e com a organização da
categoria. Um determinante que tem sido fundamental para a manutenção da hegemonia
desse projeto, é o nível de organização política da categoria profissional. Esta
organização se constitui como força impulsionadora na materialização das projeções
coletivas, construídas ao longo das duas últimas décadas.
A organização política teve uma importância significativa no processo de
elaboração do atual código de ética profissional, tendo as entidades representativas da
categoria do papel preponderante na coordenação/dinamização do debate coletivo,
notadamente em fóruns realizados no início da década de 1990, com destaques para:
Seminário Nacional de Ética (1991), 7º CBAS (1992), XII ENESS (1992) e XX
Encontro Nacional CFESS/CRESS (1992). Nota-se, mais uma vez, a decisiva
participação dos segmentos que compõem a categoria profissional nas discussões sobre
os rumos da profissão.
Em relação ao processo de discussão para a aprovação do Código de Ética
de 1993, ressalte-se a publicação, pelo CFESS, do livro Serviço Social e Ética: convite
a uma nova práxis, que trouxe reflexões relevantes que contribuíram para o
amadurecimento do debate ético profissional. Este livro constitui-se um marco na
publicação sobre a temática da ética no Serviço Social, demonstrando, dentre outros
fatores, a inclusão de questões que até então não eram levadas em consideração no
debate profissional.
Dentre os avanços obtidos nesses 10 anos de materialização do Código de
ética dos (as) assistentes sociais, a significativa intervenção do CFESS em diversas
frentes, tais como: a atuação da Comissão de Ética e Direitos Humanos, a realização do
Projeto Ética em movimento5, a inserção no âmbito das políticas sociais. Além dessas
atividades, coordenadas pelo CFESS, ressalte-se: o debate ético no processo de
construção das diretrizes Curriculares aprovadas em 1996; o aumento de pesquisas e
publicações sobre a temática da ética e dos direitos humanos6 e o surgimento e a
articulação de grupos de pesquisa sobre ética em Serviço Social, tais como o Núcleo de
Estudos e Pesquisas sobre Ética e Direitos Humanos - NEPEDH da PUC-SP e o grupo
de Estudos e Pesquisas sobre Ética- GEPE da UFPE7.
Apesar desses inegáveis avanços, o Serviço Social brasileiro se depara
com inúmeros desafios no âmbito da intervenção ética, dentre os quais destaco:
problematizar e debater os conflitos morais decorrentes de diferenças entre os
diversos projetos individuais x projetos profissionais x projetos societários presentes na
profissão;
conhecer e utilizar sistematicamente o código de ética no cotidiano profissional;
contribuir para aprofundar/fortalecer o debate da ética na sociedade brasileira,
imprimindo visibilidade à reflexão ética nas diversas dimensões da vida social;
multiplicar o conhecimento e as possibilidades de utilização sistemática do código
de ética no Âmbito da categoria profissional;
5
O projeto Ética em movimento foi criado pela gestão do CFESS 1999/2002 e aprovado no XXVIII
Encontro nacional CFESS/CRESS. Este projeto foi gestado com o objetivo de contribuir para o avanço do
debate ético, tendo como eixos de ação os seguintes: capacitação, denúncias, visibilidade social da ética
profissional, fortalecimento da interlocução com organismos internacionais e nacionais de defesa dos
direitos humanos e sociais. No eixo da capacitação estão sendo realizados, desde 2000, cursos de
capacitação ética para conselheiros e assistentes sociais, em todos os estados brasileiros.
6
Nos anos seguintes outras publicações sobre esta temática somaram-se a esta, tais como: o livro “Ética e
Serviço Social: fundamentos ontológicos”; a revista “Presença Ética”, editada anualmente desde 2000
pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética, GEPE-UFPE; além do nº5 da revista Temporalis periódico semestral da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS, cujo
tema foi “Ética, política e direitos humanos” e dos três livros publicados pelo CFESS no projeto Ética em
movimento, quais sejam: “Ética e sociedade”, “Ética e práxis profissional” e “Ética e instrumentos
processuais”.
7
Estes dois grupos estão realizando conjuntamente o projeto integrado de pesquisa aprovado pelo CNPQ
em 2003, cujo título é “Ética e Direitos Humanos: unidade e diversidade do Fórum Social Mundial”.
disseminar a importância do posicionamento ético do(a) profissional frente aos
conflitos cotidianos postos no ambiente de trabalho, favorecendo a compreensão das
contradições que se apresentam nas estratégias e na construção de alianças com outros
sujeitos profissionais e sociais8;
promover uma capacitação continuada sobre a reflexão ética nos diferentes locais
de trabalho;
ampliar a participação e envolvimento dos(as) assistentes sociais em espaços
coletivos de discussão da dimensão ética profissional;
promover uma intensa capacitação docente para a materialização do debate ético no
cotidiano das Unidades de ensino;
aprofundar, nos ambientes profissionais, estudos e reflexões sobre as diferentes
formas de opressão relacionadas às dimensões: gênero, raça, orientação sexual, dentre
outras;
realizar pesquisas com o objetivo de aprofundar a análise teórica sobre os princípios
éticos-políticos sinalizados no código, qualificando melhor, os termos do debate, o
horizonte e os limites das lutas por democracia, cidadania, justiça social e sua
articulação contraditória com um projeto de emancipação humana;
intensificar as articulações com outros segmentos coletivos na perspectiva da luta
anticapitalista.
Tais desafios requisitam uma profunda atuação teórico-política, no
universo das unidades de ensino, dos locais de trabalho, das entidades organizativas da
categoria profissional. Esta atuação será bem sucedida quanto mais estiver conectada às
lutas e mobilizações desenvolvidas pela classe trabalhadora, na perspectiva da crítica
radical à sociabilidade do capital.
Sousa(2002) reflete esse e outros desafios no seu artigo “A ética e o trabalho cotidiano do assistente
social”, publicado na revista Presença Ética nº2.
8
Referências Bibliográficas
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a
negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999.
BARROCO, Lúcia. Ontologia Social e Reflexão Ética. Tese de Doutoramento
apresentada à PUC-SP. São Paulo, 1996.
_________. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: Cortez,
2001.
BORON, Atílio. Os “novos leviatãs” e a polis democrática: neoliberalismo,
decomposição estatal e decadência da democracia na América latina In: Pósneoliberalismo II. Petrópolis: Vozes, 1999.
CFESS. Serviço Social a caminho do século XXI: o protagonismo ético político do
conjunto CFESS-CRESS. In: Serviço Social e Sociedade nº50. São Paulo: Cortez,
1996.
CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Editora Xamã, 1996.
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ASSITENTE SOCIAL DE 1993.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1994.
HOBSBAWM, Eric. História do marxismo II: o marxismo na época da Segunda
Internacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no Serviço Social:
ensaios críticos. São Paulo: Cortez, 1994.
__________. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. São Paulo: Cortez, 1999.
NETTO, José Paulo. A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à
crise contemporânea. In: Capacitação em Serviço Social e política social: Módulo 1:
Crise contemporânea, questão social e Serviço Social. Brasília: CEAD, 1999.
__________. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil
pós 64. São Paulo: Cortez, 1991.
OLIVEIRA, Manfredo. Ética e Economia. São Paulo: Editora Ática, 1995.
PAIVA, B. A. E SALES, M. A. A nova ética profissional: práxis e princípios In:
Serviço Social e Ética: convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez: CFESS, 1996.
SILVA, Marlise Vinagre. Ética profissional: por uma ampliação conceitual e política In:
Serviço Social e Ética: convite a uma nova práxis. São Paulo: Cortez/CFESS,1996.
SILVA E SILVA, M. O. (coord.) O Serviço Social e o popular: resgate teóricometodológico do projeto profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 1995.
SOUSA, Aione Maria da Costa. A ética e o trabalho cotidiano do assitente social In:
Presença Ética ano II nº2. Recife: UNIPRESS Gráfica e Editora do NE, 2002.
TEIXEIRA, Francisvo José S. O neoliberalismo em debate In: Neoliberalismo e
reconstrução produtiva: as determinações do mundo do trabalho. São Paulo:
Cortez; Fortaleza: Universidade Estadual do Ceará, 1998.
Reflexões sobre o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço
Social *
Alexandra Monteiro Mustafá**
A ética, enquanto disciplina que reflete filosoficamente sobre o agir do
homem no mundo, pode ser entendida como ética teleológica, ou como ética
deontológica. No primeiro caso, importa considerar os fins que se quer alcançar – o
telos da ação. No segundo caso, busca-se seguir normas que regulem o agir humano.
A primeira tendência citada tem suas origens na filosofia aristotélica, onde
os fins eram vistos como o bem ultimo a ser alcançado pelo indivíduo e pela
coletividade – o fim que se basta a si mesmo – a felicidade. Vale considerar que, para
Aristóteles, o telos da felicidade destinava-se ao homem virtuoso, exigia a
contemplação do bem, assim como a posse de bens materiais que possibilitassem o
atendimento das necessidades vitais para uma vida digna.
A segunda tendência encontra seu marco fundamental no início da
modernidade, com Hobbes, que preconizou a necessidade da passagem de um estado de
natureza para um estado social através de um pacto, ou o contrato, entre súditos e
soberano, cabendo a este último estabelecer as leis a serem obedecidas pelos primeiros,
tendo em vista a criação de um Estado autoritário, capaz de assegurar a paz e a
sobrevivência dos homens, visando, em última instância, a preservação da espécie.
Historicamente, a discussão que perpassa entre os dois tipos de ética referese à temática do bem, entendido como consideração dos princípios últimos que
fundamentam a ação, e a temática da justiça, entendida como conjunto de regras que
podem oportunizar uma melhor vida entre os homens.
O debate continua acirrado até os nossos dias, existindo aqueles que
defendem uma discussão pautada nos princípios últimos que, para alguns significa o
resgate da metafísica e, para outros, representa a retomada da ontologia. Para os
defensores da ética deontológica, o dilema se coloca entre a opção por um consenso de
intersecção que elege, dentre as principais teorias do bem já existentes, aquela que
melhor se aproxima da “melhor vida para o homem” ou, a negação dos princípios
últimos (por já estarem previamente definidos) e o estabelecimento de novas normas
que possam assegurar a justiça e a democracia.
*
Palestra apresentada no Seminário Internacional sobre Ética e Direitos Humanos, realizado na UFRJ, no
Rio de Janeiro, em novembro de 2003.
**
Professora do Departamento de Serviço Social da UFPE. Doutora em filosofia. Coordenadora do
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética (GEPE) – UFPE. E-mail – [email protected]
A ética teleológica nos parece aquela que melhor representa a idéia de que o
homem é o sujeito da história (considerando as condições objetivas que determinam
esta história), ao mesmo tempo em que suscita a discussão sobre os princípios e os fins
últimos da existência humana, e considerando também os determinantes que
fundamentam o agir humano e o agir das sociedades contemporâneas.
O próprio Marx, na sua ontologia social, definiu o home como ser teológico:
o ser que pensa o seu trabalho, projeta a sua atividade laborativa antes de confeccionála. A sua célebre frase de que “o pior arquiteto é melhor do que a melhor abelha” abre
espaço para uma discussão fecunda sobre a dimensão teológica do homem. Com efeito,
é através do trabalho que o homem transforma a natureza e constrói suas relações
sociais e é nesta sociabilidade que ele pode formular projetos sociais coletivos e
individuais. É através do trabalho que o homem se objetiva no mundo e pode
desenvolver suas potencialidades. O trabalho é a dimensão concreta da capacidade de
realização humana, pois o homem é um ser de possibilidades ainda não dadas.
Entretanto, vivemos numa sociedade que nega a dimensão teleológica do
homem. Se tomarmos como ponto de reflexão o mundo do trabalho, vamos encontrar
um intenso processo de alienação em que a liberdade de realizar é podada pelos ditames
do modo de produção que sufoca a criatividade humana e o completa a obedecer a
regras, a normas de comportamento, a determinações da máquina – o homem é
robotizado para se enquadrar na nova ordem do capital.
Daí a necessidade ética de por, na ordem do dia, o debate sobre a superação
do capital. Debate este que objetiva a “humanização” do homem, especialmente na sua
atividade fundante que é o trabalho. A reflexão ética aponta para um novo tipo de
sociedade em que a atividade do trabalho seja empreendida como forma de realização
humana, onde o trabalho não seja explorado e alienado e o prazer seja visto não na
lógica utilitarista – como condição da natureza humana, contrário à dor, e como
parâmetro do atendimento das necessidades da maioria – mas como telos subjetivo e
objetivo da humanidade.
Vale ressaltar, entretanto, que, devido ao avanço das civilizações, não é
possível desvincular a ética teleológica daquela deontológica. Com efeito, o direito
subjetivo precisa ser objetivado através de normas, sem perder de vista que estas normas
são históricas e mutáveis. Faz-se necessário refletir se os princípios da “melhor vida
para os homens” está sendo levado em consideração e quais estão sendo desrespeitados
para que se altere o conjunto de normas que regula o comportamento social. Daí a
mutabilidade inevitável das normas. Daí a necessidade de elaboração de novos direitos
tais quais os direitos chamados de terceira geração como direitos ecológicos e das
minorias (mulheres, homossexuais, negros, indígenas, etc.) Não que estes direitos não
fossem necessários de serem regulamentados anteriormente, mas as condições históricas
não permitiam a sua legitimação.
Dada a indissolubilidade entre a ética teleológica e a deontológica, os
princípios devem necessariamente ser objetivados sob a forma de códigos, normas, leis
e práticas para se fazerem cumprir pelos membros da sociedade. A ênfase na ética
teleológica, em detrimento da deontológica, nos faria cair no abstracionismo, na
elucidação de valores universais, sem o devido acompanhamento das condições
objetivas que fizessem vales tais princípios.
É neste sentido que se coloca a proposta do projeto ético-político do serviço
social e o código de ética de 1993. Com efeito, o projeto-político aponta para uma nova
ordem social – princípio este preconizado também no código de ética de 1993 – e, com
isto, indica a necessidade de se rever os princípios em que se fundamenta a atual ordem
social.
Sem sombra de dúvidas, o capitalismo, desde suas origens, se pauta no
princípio da exploração do homem pelo homem, preconizando assim um processo
avassalador de desumanização. A vitória do capital representa o avanço da lógica
instrumental, pautada no princípio da denominação, da transformação do homem em
mercadoria, objeto descartável que pode ser jogado fora quando não se presta aos
interesses do sistema.
Diante dessa realidade concreta, cabe à ética fazer a crítica do modo de
produção capitalista e suscitar a discussão sobre a nova ordem societária que tenha
como telos a felicidade, a humanização e a emancipação do ser social. Isto não é uma
abstração, nem tampouco uma tarefa fácil de ser implementada: a ética de vê buscar
subsídios nas demais ciências para realizar sua crítica e para fazer valer seus princípios.
Daí porque nos currículos de serviço social, a ética, além de ocupar seu espaço enquanto
disciplina, constitui-se também como temática transversal que perpassa todas as demais
disciplinas, sendo o fio condutor da reflexão crítica e propositiva para o exercício
profissional e para a produção de conhecimento sobre a realidade.
O projeto ético-político do serviço social não se propõe, portanto, a ser um
projeto redentor. A profissão de serviço social, ou melhor, os profissionais de serviço
social têm uma direção social que lhes fornece a consciência do caráter contraditório
que caracteriza a profissão, na sua interconexão entre o capital e o trabalho, bem como
da impossibilidade de alcançar o telos de uma nova ordem social sem a conexão com
um projeto societário que aglutine os interesses da classe trabalhadora.
Este projeto societário é, na verdade, o projeto de uma nova ordem social –
daí a sua dimensão política. Não se pode alcançar tal projeto sem passar pela articulação
com os demais setores da sociedade, o que explica que o projeto profissional é também
político. Neste nível da discussão, vale ressaltar que, apesar de historicamente, a política
ter-se caracterizado como aspecto de dominação, isto não faz parte de sua essência. A
política é a forma de organização que assumem as sociedades na sua dinâmica histórica;
o que implica em dois aspectos bastante significativos: primeiro – que a superação da
atual ordem societária requer uma articulação e uma profunda leitura da conjuntura
política, e segundo – ninguém pode prever que a nova ordem social não necessite de
uma organização política.
Sendo assim, o adjetivo “político” não pode ser desprezado, nem
menosprezado na configuração do projeto ético profissional. Trata-se de ver as coisas
como elas são, Istoé, na sua dimensão rela e não utópica... Faz-se necessário, entretanto,
algumas considerações sobre o que acabamos de expor. Em primeiro lugar, fazer
referencia à política não significa dar prioridade à política em detrimento da dimensão
antes de tudo, a consideração, a análise aprofundada dos componentes econômicos do
modo de produção capitalista – enquanto as condições objetivas não forem dadas, não
se dará a transformação. Mas, cabe lembrar, que a objetividade não se dá senão em
sintonia com a subjetividade. Neste sentido, desejar e almejar uma nova forma de
organização social é tão necessário quanto as condições objetivas. Este “desejo” requer
e implica a socialização de valores como a liberdade, a igualdade e a justiça – bases
fundamentais para uma nova ordem societária. O que torna possível falar em
emancipação humana, em nova ordem societária. É a simbiose entre objetividade –
subjetividade; ética – política – economia.
Um outro elemento a considerar é a articulação com os demais setores da
sociedade. Uma única profissão não pode se arvorar a tarefa de transformar a sociedade.
Daí a necessidade de o serviço social estar em sintonia com os anseios populares, com
os movimentos sociais, com as representações da sociedade civil – e tudo isto é política.
Vale lembrar que todo o avanço implementado desde os anos 80, no que se refere ao
código de ética, proposta curricular e desempenho profissional, deve-se à intrínseca
articulação com os segmentos mais progressistas da sociedade e, em alguns casos, com
o pioneirismo do serviço social na defesa incansável dos interesses da classe
trabalhadora.
O caráter ético-político do projeto profissional do serviço social consolida
uma hegemonia no interior da profissão e é reflexo de uma adesão de classe, no sentido
que busca estabelecer alianças com setores progressistas que se empenham na luta pela
amplificação dos direitos sociais, tendo em vista um projeto mais amplo de sociedade.
Não se pode negar, portanto, que o caráter revolucionário não esteja imbricado nesta
postura de mediação política. Na realidade, lidar com a questão social, dentro dos
moldes do modo de produção capitalista, significa estabelecer um processo de conquista
que se efetua e se desdobra em duas faces: a imediaticidade da ação e sua projeção
futura. O grande desafio é não perder de vista esta dupla dimensão unitária.
E é exatamente dentro dessa tensão que foi elaborado o código de ética
profissional de 1993. Com efeito, após as conquistas democráticas da Constituição de
1988, tornou-se urgente assegurar e lutar para ampliar os direitos sociais como forma de
implementar um processo de avanço no âmbito da consolidação das políticas sociais. Se
através destas políticas não se alcança um modelo de sociedade emancipada, não se
pode deixar de entrever aí um processo de mediação, no marco das condições atuais do
exercício profissional, desde que se tenha clareza dos limites e do alcance do projeto
profissional.
Como foi dito anteriormente, o código se insere na dimensão deontológica
da ética e o ético-político-profissional, constitui sua dimensão teleológica. Por isso
mesmo, vale ressaltar que o próprio código de 1993 contém em si, uma dimensão
teleológica, quando, antes de apresentar as normas que devem regular o exercício
profissional, reúne alguns princípios fundamentais que norteiam tais normas e apontam
para o telos de uma sociedade emancipada – tal como previsto no projeto ético-político
da profissão. Os princípios indicam um claro compromisso político com a classe
trabalhadora, apontando na direção da ruptura com a ordem burguesa e se revelam como
fundamento filosófico do agir profissional, denotando o avanço no campo teórico e de
reprodução de conhecimento alcançado pela profissão.
Se o código de 1986 rompia com o tradicionalismo, com o personalismo
cristão e com princípios abstratos e neutros – característicos do neotomismo -; o código
de 1993 preconiza uma apropriação teórica da produção marxiana, pautando-se na
ontologia social de Marx e no seu projeto societário, o que se constitui como
embasamento filosófico à leitura de realidade e atuação profissional.
Vale ressaltar, aqui, que a discussão sobre ética, tão evidenciado hoje no
serviço social, acompanha uma tendência mundial ao resgate do debate sobre a ética
face ao aumento da miséria, das injustiças sociais, da corrupção política, bem como do
agravamento da distancia entre países pobres e países ricos. Ao mesmo tempo, o avanço
da ciência, especialmente na área da biogenética, vem provocando polemicas as mais
diversas sobre o futuro da humanidade e as condições de vida para as próximas
gerações. A inserção da pauta dos direitos humanos, colocada na ordem do dia, tem
suscitado a necessidade de eventos tais como os fóruns sociais mundiais, discussão no
âmbito acadêmico, formação de comissões de ética, assim como o surgimento de grupos
de estudos e pesquisas no interior das universidades, tomando como eixo central a
reflexão sobre a ética. Diante de tal contexto, conclui-se que o direito à vida está
ameaçado, bem como a sobrevivência da própria espécie humana e do próprio planeta.
Os interesses econômicos dos países ricos estão acima de qualquer acordo pela paz
mundial (observe-se o exemplo da guerra dos EUA contra o Iraque), bem como de
acordos ambientalistas em defesa da preservação da natureza.
Isto demonstra que a discussão sobre a ética, no interior da profissão de
serviço social, está em sintonia com um movimento internacional em defesa da vida e
da “melhor vida para o ser humano”. No entanto, vale ressaltar que este movimento se
coloca em oposição à lógica mundial da globalização do capital, visto que esta ameaça
vem da própria contradição entre capital e vida. Neste sentido, a ética é discutida por
setores progressistas, mas é, também, tema de setores liberais que, numa tentativa de
justificação da ordem burguesa, vulgarizam e banalizam o próprio significado da ética.
Podemos citar como exemplo a teoria dos jogos, defendida por Hayeck.
Segundo este pensador, a sociedade funciona como um jogo, onde há ganhadores e
perdedores; o jogo tem suas regras e todos devem aceitá-las, não existindo, portanto, a
possibilidade de os perdedores se rebelarem contra os vencedores. Do nosso ponto de
vista, esta é uma ética que preconiza desvalores, mas, para os liberais, trata-se de
legitimar a lógica do capital.
Podemos afirmar, seguramente, que não existe um consenso no debate ético
mundial: constata-se uma tendência genelarizada de resgatar o pensamento de Kant, o
personalismo comunitário de Jacques Maritain (neotomismo), o pensamento de
Aristóteles (neoaristotelismo). Com efeito, autores como John Rawls e Jürgen
Habermas, por exemplo, apesar das diferenças entre as suas abordagens, discutem a
ética numa perspectiva neokantiana, buscando definir valores universais e normas
procedimentais que regulamentem os princípios da justiça e dos direitos humanos.
Rawls busca teorizar sobre um novo contrato social baseado na “autonomia” (defesa de
interesses universais), identificando o estado da natureza com uma situação originária,
em que todos estão inconscientes quanto à sua condição social através daquilo que ele
chamou de: véu da ignorância. E nesta condição, seriam capazes de definir princípios
de justiça para se alcançar um nível de equidade que, respeitando o princípio da
diferença, atribui vantagens para todos, contudo, sem prejuízo para os mais avantajados.
A teoria habermasiana, por sua vez, apresenta a ética do discurso, ou da
comunicação, buscando estabelecer normas que regulamentem a forma de
argumentação numa ordem democrática. Trata-se da busca do consenso, sem levar em
consideração o conflito de interesses inerente ao conflito de classes, próprio do modo de
produção capitalista.
O comunitarismo, defendido por MacIntyre, resgata a vida virtuosa da polis
e preconiza uma possibilidade de vida ética entre os que compõem uma mesma
comunidade. Com efeito, seu livro “Além da virtude” é uma tentativa de salvar a cultura
a partir do resgate da vida virtuosa de pequenos grupos.
Rorty, por sua vez, enaltece o discurso da solidariedade, mas o transforma
numa forma mesquinha de ser solidário: para ele, a solidariedade só é possível entre
pessoas pertinentes ao mesmo grupo cultural, que comunguem da mesma língua e da
mesma nacionalidade. Enquanto defensor do pós-modernismo, Rorty defende o radical
nacionalismo e os interesses das grandes potências, amortecendo a luta por direitos
humanos universais e por uma solidariedade entre os povos, em suma: Rorty não tem
perspectiva do ser humano genérico.
Esta rápida abordagem sobre o debate ético mundial nos possibilita
constatar que não raras vezes, nele encontram-se verdadeiras deturpações do significado
da ética. No debate ético mundial o que muitas vezes predomina são normas que
possam dar sustentação ao capital, em detrimento de princípios que questionem a lógica
da exploração. Por motivos de tal gênero, é que consideramos que tais abordagens não
merecem ser chamadas de “teorias éticas”. É mais adequado chamá-las de teorias
“antiéticas” que se camuflam em valores como solidariedade, justiça, equidade tendo
como objetivo mais profícuo legitimar a ordem burguesa.
Diante deste quadro internacional, vemos que o Brasil não foge a estas
influências. Aqui também, o pós-modernismo invade, por meio de pura retórica, todas
as áreas do conhecimento e da cultura nacional e a defesa de princípios verdadeiramente
éticos torna-se cada vez mais difícil. No entanto, alguns setores resistem a esta
influência neoliberal e conseguem formular um pensamento livre do pós-modernismo e
de suas tendências nefastas. Entre estes segmentos, encontra-se o serviço social. Neste
sentido, tanto o projeto ético-político do serviço social, quanto o código de ética de
1993, ao serem coerentes com a perspectiva marxiana, assumem uma postura
revolucionária face ao caos instalado pelo capitalismo. Ele dá uma direção social à
profissão, pautada nos ideais de emancipação humana, constituindo-se num
protagonismo que desafia a realidade concreta e pretende transformá-la, numa
perspectiva realista.
Tal perspectiva encontra eco na leitura de realidade que serve como
fundamento para a identificação dos princípios que dão sustentabilidade ao novo código
de ética. Numa conjuntura adversa, marcada pelo neoliberalismo, busca-se redefinir o
conceito de liberdade, entendida não como valor liberal, burguês, mas como ponto de
partida e condição sine qua non para a relaização do homem como sujeito histórico e
como ser capaz de auto-reprodução. A liberdade significa não apenas a capacidade de
decidir e fazer escolhas individuais e coletivas, mas também a condição concreta de
exercer o trabalho sem amarras da exploração e da alienação – o que só será possível em
outro modo de organização social e não sob a égide do capital. Para isto, não basta ao
serviço social restringir-se ao campo das políticas sociais que minimizam o desemprego
e a miséria, mas buscar compreender criticamente as condições de trabalho que
reproduzem as relações sociais que caracterizam a sociedade contemporânea. De um
ponto de vista ético, a definição de mínimos sociais – herança do utilitarismo - não
contempla o princípio da justiça social, nem tampouco da democracia que pressupõe
uma “socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida” (Código
de Ética de 1993).
No entanto, é fundamental reconhecer a ambiguidade no fato do lócus de
atuação do profissional de serviço social ser a política social, mais especificamente, a
política de assistência. Como lidar, então, com esta contradição? O código de 1993
prevê dois princípios que parecem responder a esta interrogação: “posicionamento em
favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática”
e “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional”. Na atualidade,
os programas e políticas sócias são cada vez mais focalizados e seletivos, mesmo
aqueles que tinham a universalização como proposta inicial.
O assistente social, assim como qualquer outro profissional ou trabalhador,
seja individualmente ou como categoria, não tem força política para assegurar a
universalidade. Apenas à classe social cabe este papel. Mas o assistente social pode
posicionar-se a favor desta universalização e somar com outros segmentos sociais, numa
perspectiva de classe, sendo assim, protagonista de uma ideologia enfocada em
princípios éticos.
Na realidade, tais princípios parecem inserir-se na ótica da promoção de um
Estado de Bem Estar Social, mais do que de uma sociedade emancipada. No entanto,
entre o real e o possível, existe muito caminho a ser percorrido e é da competência ética
fazer análise crítica do existente e oferecer subsídios que apontem para o devir. Optar
por uma nova ordem social, exige uma atuação crítica e competente que favoreça o
desmonte da realidade objetiva adversa e sinalize os princípios para uma nova ordem
social. Trata-se de conquistar espaço dentro dos limites impostos pela lógica neoliberal
e pela dinâmica do capital, enquanto esta for hegemônica. Tais elementos nos induzem
a identificar no código de ética de 1993 e no projeto ético político do serviço social
sinais de uma proposta revolucionária, não evidenciada em outras profissões.
Seus princípios apontam para um compromisso com o aprimoramento
intelectual, para possibilitar a competência profissional. E esta competência se revela,
no cotidiano, na implementação de programas e políticas sociais. Compete ao
profissional desvendar a lógica, os fundamentos e a direção de tais políticas e
programas, produzir um acúmulo de conhecimentos sobre o seu significado e repassar,
para o usuário, o serviço com boa qualidade e a concepção de direito nele contida. Na
realidade, esta consciência do direito é ainda muito frágil na sociedade brasileira; nela
vigora, ainda, o clientelismo e suas implicações mais desumanas de transformar o
homem-sujeito no homem-mendigo, receptor de favores e das sobras dos mais
abastados. É preciso, portanto, suscitar na sociedade um nível de indignação pelo
agravamento da questão social, pelo empobrecimento da classe trabalhadora e pelo grau
de miséria em que se encontram os considerados pela estatística como os que vivem
abaixo do nível de pobreza. A indignação é o sentimento ético que reclama a justiça e
faz emergir da indiferença e da naturalização da pobreza, a perspectiva da
transformação, da crítica radical contra o antiético.
Vale ressaltar que o conhecimento produz indignação, na medida em que
desvenda a realidade e revela seu lado mais perverso: a exploração e o individualismo –
desencadeadores de um processo de má distribuição de renda que se revela como
questão social, expressa na fome, na morte prematura, na miséria, na violência e na
desumanização. Estes desvalores fazem parte da lógica do capital que se alimenta
continuamente da exploração do homem pelo homem; e porque não dizer,
transformando seres iguais em seres desiguais, já que dentro desta lógica, o explorado
assume a condição de animal. Um animal adestrado, obediente, servo, mas útil e
fundamental ao processo de acumulação. Ou ainda, um objeto descartável, porque não
produz, não consome, não existe para o capital – o miserável, abandonado nas ruas,
vítima de toda sorte de violência: é este é o usuário do serviço social. Como contribuir
para reverter este quadro? Como se inserir num processo de transformação?
Hoje, o assistente social adquiriu consciência e conhecimento dos limites e
possibilidades da profissão. O arcabouço teórico-metodológico e ético-político,
acumulação nos últimos anos lhe dá segurança para compreender a realidade e intervir
profissionalmente. Além disso, existe o sentimento de indignação que o impele a buscar
os “porquês” e os “como”. Em outras palavras, busca-se o aprimoramento intelectual –
ético – político que forneça os elementos necessários ao desvendamento da
continuidade e um competente exercício profissional.
Com isto, podemos afirmar que a ética é um movente, um elemento
desencadeador de um processo que se inicia com a indignação e se consolida na postura
crítica e investigativa. Como se vê, a ética não é uma abstração, não é apenas um
conjunto de regras; é, antes de tudo, um componente de luta social.
No que se refere ao projeto ético-político do serviço social, vale ressaltar
ainda, que ele se gesta nas décadas de oitenta e noventa que foram décadas
caracterizadas pelo processo de democratização do país e, por isto, o serviço social
tende a ser protagonista de um processo que busca assegurar esta democracia como
valor supremo da sociedade e das relações sociais. Apontando para o telos de uma
sociedade emancipada, traz no seu bojo a necessidade de assegurar os direitos
adquiridos e conquistados pela classe trabalhadora. Por combater as teorias neoliberais e
pós-modernas, o projeto ético político do serviço social se embate contra o clientelismo,
contra o assistencialismo, contra o conservadorismo e contra o tradicionalismo. E nada
disso seria possível sem o esforço concreto das instâncias que representam a categoria
profissional, como o CFESS, os CRESS’s, a ABEPSS, a ENESSO; nem também sem os
segmentos progressistas no interior das universidades, no processo de formação
profissional e produção de conhecimento, seja na graduação, seja nas pós-graduações.
Trata-se de um protagonismo que se inicia com a “intenção de ruptura” e tem
continuidade e rebatimento nas instâncias de representação da categoria que estiverem e
estão presentes, de forma atuante, na defesa dos interesses dos trabalhadores, lutando
lado a lado por mais conquistas sociais, pelo fim da exploração e da alienação, enfim,
por uma sociedade emancipada.
Este é o verdadeiro compromisso ético da profissão e é, através dele, que
pretendemos contribuir com a dimensão ético/política para um processo social que
elimine a exploração do homem pelo homem e resgate os princípios da igualdade, da
liberdade e da justiça social.
Referências Bibliográficas
ABBAGNANO, N. Ética in Abbagnano N. Dizionario di Filosofia, UTET, Torino,
1988, pp. 437 -446.
GEPE, Coletânea de códigos de ética profissional do (a) assistente social. Recife,
CTC, 2003.
HABERMAS, J. Teoria dell’agire comunicativo: I Razionalità nell’azione e
razionalizzazione sociale, II mulino, Bologna 1997.
HAYEK F. A. Legge, legislazione e libertà In MAFFETTONE S. – VECA S. Lídea di
giustizia da Platone a Rawls. Laterza, Roma- Bari, 1997 pp. 304-318
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre Feuerbach. São
Paulo: Moraes, 1984.
RAWLS J. Una teoria della giustizia, Milano: Feltrinelli, 1983.
RORTY R. La filosofia dopo la filosofia: contingenza, ironia e solidarietà. Laterza,
Roma-Bari, 1989.
A crítica ética do sistema vigente: uma abordagem a partir
da racionalidade instrumental e do formalismo moral de tipo utilitário
Cláudia Maria Costa Gomes*
Introdução
A exclusão que se aprofunda radicalmente com o processo de globalização
do capital no final do século XX e inícios do séc. XXI é um problema que afeta a
realidade concreta de milhares de seres humanos, condição absoluta de apreciação da
ética e das alternativas já presentes de libertação humana nesta experiência do processo
de sociabilidade. O marco ou contexto desta ética é o processo de globalização do
capitalismo, como processo de exclusão que afeta grandes minorias da humanidade e
que se apresenta, sobretudo, como uma estratégia de enfretamento dos problemas que,
paradoxalmente, solapa as bases do seu próprio sistema.
Este cenário se configura, na realidade, como uma profunda crise deste
projeto societário, que se expressa em uma conjuntura histórica particular, capaz de
revelar o movimento orgânico que estrutura a vida social.
Como efeito desta crise, verificamos hoje um amplo movimento de
desagregação desse moderno processo civilizatório, onde a solução de conflitos na vida
pública e na democracia ingressam numa frágil relação com o capitalismo, que se
agrava com a desvairada corrida neoliberal, radicalizando ainda mais a ocorrência, a
troca de mercadorias, a luta, a aquisição de propriedades e de poder, fazendo do cultivo
à individualidade o valor supremo, como “fruto de um novo ethos social”, nos termos
de Oliveira (1995:43)
Ora, na forma em que se encontra tal processo, os apelos éticos e morais
dessa nova sociabilidade fracassam em sua responsabilidade porque destroem as
pessoas tidas no sistema como “sujeitos livres”. O homem não é, pois, verdadeiro
sujeito, mas como contribuiu Marx1 na sua crítica à sociedade mercantil-capitalista, é
identificado, pura e simplesmente como coisa, mercadoria, alienado do próprio gênero
humano; ou seja, um indivíduo isolado e egoísta, para o qual a sociabilidade ética é
apenas um apêndice. Por essa razão;
* Doutoranda pelo programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE e Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética – GEPE/UFPE. Email:[email protected]
1
Foi exatamente a partir desta concepção do homem como indivíduo isolado que se articulou a ética da
sociedade moderna, contra a qual Marx vai construir toda a sua crítica. Já nos Manuscritos econômicofilosóficos, considera a eticidade capitalista como a perda do homem. O capitalismo aliena o homem do
homem, e isso tem consequências na relação do homem com a natureza, com os outros homens e consigo
mesmo.
A eticidade capitalista significa a inversão do homem em nãohomem, já que os predicados atribuíveis ao hoemem (liberdade,
propriedade) não são seus, mas sim do capital, o verdadeiro
sujeito ontológico dessa configuração ética. (Oliveira,
1993:275).
Neste argumento, parece-nos implícita a identificação com aquilo que, no
pensamento da Escola Crítica, corresponde ao que Adorno denomina de mundo
administrado. Um mundo no qual, “a consciência das pessoas foi manipulada de tal
forma que elas perderam a capacidade de pensar criticamente” (Adorno, 1995:16).
Consequentemente, a constituição de tal processo incide numa série de
implicações no campo da ética, tornando na prática completamente inviável o exercício
da máxima moralia no sentido Aristotélico. Para este filósofo, “a ética pressupõe um
agir do homem em consonância com a natureza. Nesse agir, ele encontra o seu fim, o
seu bem, a sua felicidade” (Palanca, 2001:49).
O atrofiamento do pensamento crítico, promovido nas modernas sociedades
do mundo globalizado, resulta na predominância da instrumentalidade da razão apoiada no progresso tecnológico e no hedonismo, característico do utilitarismo inviabilizando a sua dimensão emancipatória.
Neste sentido, a superação da moralidade capitalista (fundamentado em um
sistema formal de normas, juízos de valor e princípios) para uma eticidade alternativa
significativa, pensando com Marx, a passagem para a constituição da sociabilidade onde
“o homem é posto como sujeito verdadeiro2”.
Isto implica, portanto, um modelo alternativo de sociabilidade onde a
liberdade humana, significa a produção de homens livremente socializados, regidos por
um modo de produção comunitária, autotransparente, expressando o que denomina
‘reino da liberdade’. E se isto não for ética, a expressão teria perdido seu sentido.
A Razão Instrumental como expressão do Formalismo Moral
O conceito de razão se apresenta na história do pensamento ocidental sob
diversos aspectos. A partir da filosofia grega, várias expressões foram usadas para
determinar o sentido correto do termo como noção, conceito, idéia, pensamento,
palavra, visão (inteligível), sentido e significação. No entanto, é na modernidade que o
conceito ganha autonomia, rompendo com a querela da filosofia medieval entre fé e
razão. Kant foi um dos pensadores modernos que enfrentou esta situação, convertendo a
metafísica em crítica da razão. Para ele,
Cf. K. Marx. Na crítica ao Programa de Gotha ver a problemática do “reino da necessidade” e do “reino
da liberdade”, 1984, p. 88.
2
A razão é toda faculdade de conhecer superior, caso em que o
racional se distingue do empírico. É a faculdade que
proporciona os princípios do conhecimento a priori. A razão se
distingue do entendimento; este é a faculdade das regras, isto é,
a atividade mediante a qual se ordenam os dados da
sensibilidade pelas categorias, enquanto aquela é a faculdade
dos princípios, a atividade que unifica os conhecimentos do
entendimento nas idéias. (FM., 1974: 2457)
Muitos são os significados da razão filosófica kantiana, mas o principal tem
como endereço ser a faculdade que regula princípios orientadores que liberem a
humanidade; eis a essência do ideal Iluminista. Segundo Horkheimer (1991:20), “o
Iluminismo desde sempre seguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer
deles senhores”. A razão que calcula, que faz ciência, nos primórdios da modernidade,
tinha como finalidade precípua libertar e emancipar o homem da ignorância, da
irracionalidade e do despotismo da Idade Média. Kant vai não apenas ser influenciado
por essa postura, como também legitimá-la, tematizando a razão como
primado/princípio da liberdade e da autonomia do homem. Ao defender a Revolução
Francesa, ele dirá: “vivemos uma época de esclarecimento, de emancipação, de
libertação. A humanidade começa a sair de sua menoridade”. (ibid, p. 23).
No entanto, não obstante, a razão iluminista conter em sua gênese uma
concepção emancipatória, foi sendo suprimida pela dimensão instrumental, imposta
pelo domínio da burguesia emergente. A razão entra em crise na medida em que
renuncia à busca pela racionalidade capitalista. O significado da razão, que deveria
levantar questões fundamentais do sentido da existência humana, se reduziu a uma
concepção meramente operatória, manipuladora das coisas e dos próprios homens.
Em termos de reflexão filosófica, a crítica da concepção moderna de
racionalidade é empreendida pela Krtische Theorie, a partir das análises de Adorno e
Horkheimer sobre os impactos da barbárie fascista e a monstruosidade da segunda
guerra mundial, compartilhado com a crítica marxiana da economia política, a análise
da transformação da razão emancipatória para a razão instrumental no capitalismo
monopolizado. Ao se referir ao logos grego, Horkheimer dirá que: “A razão, em seu
sentido pleno, era uma autêntica ‘potência espiritual’, uma instância suprema que dirigia
a vida dos homens”. No Iluminismo, “a razão se autoliquidou enquanto meio de
julgamento ético, moral e religioso” (1991:23)
Esta concepção instrumental da razão, que nasce com a ciência moderna e
seu projeto de dominação da natureza, é um marco que cinde a subjetividade humana,
transformando-a em objetividade coisal. Ora, o uso exato da razão, para assim, a ser
condição fundamental de possibilidade de exploração, seja da natureza fora de nós ou da
natureza em nós. Ao mencionar a origem da modernidade, Marx (1974:313) dirá que
“pela primeira vez a natureza se transforma puramente em objeto para o homem, em
coisa puramente útil; cessa de poder ser reconhecida como poder para si”.
Assim, numa perspectiva instrumental da razão, a natureza passa a ser
concebida como instrumento do próprio homem, sendo validado como racional
unicamente o esforço de autoconservação, perdendo a razão, a preocupação em definir
as tarefas mais nobres da existência humana. De tal modo, é coerente a afirmação “que
o crescente poder de razão instrumental equivale ao aumento das formas irracionais de
dominação, seja da natureza ou do próprio homem” (Silva, 2001:61), expressa tão bem
pelo imperialismo sem limites, voltado para um ideal de progresso, que ideologicamente
explica, a insaciabilidade do homem e os comportamentos dela resultantes.
Na sociedade capitalista avançada, a reificação da produção material, a
organização social e a ambição do homem, tornaram-se uma força cega, determinada
pelo utilitarismo do mercado. Eis o que caracteriza, de maneira geral, a globalização;
forma atualizada da dominação do liberalismo econômico.
Trata-se de uma disseminação em escala mundial da economia de mercado,
transformado no principal mediador das relações sociais. Neste processo, vão sendo
gestadas no âmbito da sociedade, um certo ethos, uma dada moral e um modo de ser
cujos valores vão legitimando o projeto societário , imposto pela nova ordem do capital.
A moral passa a ser constituída como elemento que funda, não apenas o agir humano,
mas, sobretudo as normas, os juízos de valor, as leis, os sistemas de eticidades e a
política de um modo geral. Conforme Barroco,
Na sociedade de classes, a moral cumpre uma função ideológica
precisa: contribui para uma integração social viabilizadora de
necessidades privadas, alheias e estranhas às capacidades de
“subordinação das necessidades, desejos, aspirações particulares
às exigências sociais” (Helle, 1975:133), ainda que não
diretamente, mas através de mediações complexas, a moral é
perpassada por interesses de classe e por necessidades de
(re)produção das relações sociais que fundam um determinado
modo de produzir material e espiritualmente a vida social.
(2001:45).
Assim, a moral constituída aí está presente na própria aquisiçãotransmissão de valores, tacitamente carregados de significações direcionadas para um
jogo de regras formalizado, onde que domina é aquele que estabelece os padrões de
regras socialmente impostas por grupos detentores de hegemonia. Tal jogo também se
naturaliza de maneira sutil, mas ostensiva, no campo da política, pelo jurídicoinstitucional e convenções morais na sociedade. Na cultura, esta moral constituída
aparece sobremaneira na forma de várias vertentes éticas, que não obstante, se
constituírem com vistas ao bem comum, à equidade social, ou ainda, o melhor para os
indivíduos humanos, contraditoriamente têm reforçado a manutenção de um sistema
iníquo.
Algumas correntes se destacam pela defesa de determinados princípios
racionais, baseados em convicções, crenças e valores morais, visando ao
estabelecimento da paz e da segurança universal entre os homens, graças a uma
racionalização da vida, pretendendo instaurar uma concepção de político, calcado numa
ordem de racionalidade ética e econômica de mercado. Destacaremos o utilitarismo
como uma das principais vertentes do neocapitalismo.
A Racionalidade econômica na perspectiva do Utilitarismo
Sondando os fundamentos desta racionalidade, uma das doutrinas que se
destacou na modernidade e teve como representantes Stuart Mill (1806), Adam Smith
(1723) e Jeremy Bentham (1748) foi o utilitarismo moral, de tipo liberal, que tem como
princípio o individualismo, fundamentado numa concepção do agir humano a partir de
sua própria experiência e razão, caracterizado pelo interesse no particular, no que tange
às ações, o bom é útil para o maior número de pessoas, na medida em que o meu
interesse pessoal está envolvido. Ela aponta também para o fato de a utilidade ter uma
relação direta com a conseqüência da ação, ou seja, o ato será apropriado se conferir
bons resultados. A liberdade, assim, se expressa pela felicidade na satisfação dos
interesses particulares, realizados como resultado último. No campo político, o
utilitarismo assume maior alcance na doutrina liberal. Para Ramos, “Sua base está na
primazia do indivíduo e dos seus direitos subjetivos; a política e o Estado são
derivações da questão básica dos direitos individuais. O poder político não possui
autonomia, ele participa da própria lógica dos interesses individuais” (1995:108).
Assim, a discussão sobre o Estado e suas políticas se dá no sentido de
limitar o poder deste, assumindo uma forma negativa em face à positividade da natureza
(individual) humana. No campo técnico-científico, a tendência do econômico em anular
conflitos é tremenda. A objetividade de que goza a racionalidade científica é técnica,
substitui controvérsias ocorridas em vários graus ideológicos, anulando conflitos,
produzindo uma espécie de neutralização, pela aceitação de soluções técnicas, das ações
efetivamente políticas.
A face ideológica resultante dessa racionalidade da doutrina moral
hegemônica constituída no político, culmina no ideal das ações ético-políticas, que
devem pairar acima dos conflitos existentes na base real da vida, visando ao consenso
de grupos majoritários, estabelecendo a felicidade e a paz, no sentido de dar estabilidade
social em pleno surgimento do caos. Como afirma Vásquez,
Por não considerar as condições histórico-sociais nas quais deve
ser aplicado o se princípio, o utilitarismo esquece que, nas
sociedades baseadas na exploração do homem pelo homem, a
felicidade não pode ser separada da infelicidade que a torna
possível. (1997:143)
Desse modo, tal perspectiva não consegue ir além de uma visão de mundo
calcado num ideal infinito; o progresso3 O movimento que caracteriza este processo
consiste na superação da própria finitude do indivíduo, onde o absoluto é o termo. Neste
sentido, esse ideal projeta os indivíduos para a acumulação infinita da produção e
riqueza, a maximização do lucro e da propriedade, concebidos em última instância
como o bem-estar e a felicidade.
Ora, para se tornar válida e aceita sua visão de mundo, o liberalismo
também se utiliza de um discurso de tipo formal4, abstrato e racional-instrumental, que
se expressa através de um procedimento institucionalizado de argumentação, fundado
sobre regras políticas. Seu caráter nuclear se baseia na ética de tipo formal-discursiva,
operando um deslocamento da finalidade última da política, que é a decisão para o
campo discursivo.
Esta outra característica da ética liberal encontra-se respaldada nas visões de
alguns pensadores contemporâneos, que não obstante, elaborem todo um leque de
teorias distintas acerca da relação ético-política, confluem malgrado, suas boas
intenções, para uma ratificação da força avassaladora do liberalismo econômico. Os
mais representativos são Jürgen Habermas, com sua teoria Ética Comunicacional e Jonh
Rawls5 com a Teoria da Justiça.
Estas teorias se fundamentam a partir da busca de princípios morais6,
dotados de caráter universal (Istoé, válido para todos os casos) e concomitantemente
formal (ou seja, que tal validade comece de uma dimensão pura, que anteceda a
qualquer situação empírico-prática da vida humana, embora que deva servir para regular
esta).
A partir de uma compreensão da função ideológica que cumprem estas
teorias, no que pensem as propostas destas éticas em estabelecer parâmetros éticos para
uma redefinição do modelo de justiça, de verdade, liberdade, apregoados pela tradição
liberal – que vem atropelado os direitos às necessidades básicas da humanidade, pela
sua voracidade econômica, defendendo a ilimitada liberdade de acumular riquezas e
concentrar-expandir a miséria global - elas não sabem criticar o capitalismo; não
sugerem uma eticidade pós-convencional crítica, como parecem propor, mas se atêm a
uma pós-convencionalidade formal no interior da hegemonia da eticidade, da cultura e
do sistema dominante, sem consciência explícita da sua cumplicidade.
“No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o
objetivo de livrar os homens do medo e investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente
esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal”. (Dialética do Esclarecimento, 1985:19).
Através de uma análise da negatividade inerente ao movimento Iluminista europeu Adorno e Horkheimer
desmascaram a pretensão pseudo-humanista do progresso total da humanidade.
4
Nas nossas reflexões, as críticas referidas à moral constituída se endereçam a dois eixos mais
importantes na constituição da moral hegemônica: o utilitarismo e sobre este, o desdobramento das éticas
formais.
3
Contudo, é preciso ter presente, que tal postura, torna em princípio, toda
ética impossível, já que o pressuposto da ética é a ação consciente e livre do indivíduo a
respeito das coisas, do mundo e de si mesmo, ao passo que aqui, a liberdade projeta-se
para um mecanismo exterior, autômato, regido pela lógica do mercado, e este realiza
uma outra contradição, que consiste na recusa da ética em suas relações.
Ora, esta moral constituída sobre a visão de mundo liberal, que
instrumentaliza formalmente nosso mundo vivido, colocando toda a atividade política e
as relações sociais no âmbito do discurso, radica com muito mais força e com uma nova
versão na atualidade – o neoliberalismo - ignorando, cinicamente, os afetados-excluídos
das mesas de negociação. Para Yasbek,
Esta regressão liberal ao impor-se como lógica do capitalismo
atual, consolida a dissociação entre mercado e direitos,
aprofunda a cisão entre o econômico e o social, separa a
acumulação da produção, instala desregulações públicas, reitera
a desigualdade e a diversificação, busca eliminar a referencia ao
universal e constrói, uma forma despolitizada de abordagem da
questão social (2001:38).
Ora, só a partir do exercício da razão ético-crítica é que podemos apontar a
verdade deste sistema hegemônico, que se transfigura em sistema negativo, tão bem
analisado pelo fetichismo de Marx, a dialética negativa de Adorno e Horkheimer, a
inversão dos valores de Nietzsche, O princípio opressione de Dussel, entre tantos outros
pensadores que lembram a razão moderna sua própria contradição, que se dá a partir de
suas próprias vítimas, dominadas, oprimidas e excluídas, submersas na dor, na
infelicidade, na fome, na pobreza e no analfabetismo.
Já em 1996, a Organização das Nações Unidas – ONU – declarava que a
pobreza a nível mundial atingia uma média de 400 milhões de pessoas, sendo 1,5
bilhões desesperadamente pobres e mais de um bilhão sobrevivendo com uma renda
diária abaixo de um dólar, inclusive nos países desenvolvidos. No Brasil, de acordo com
o IPEA, em 1999, 60 milhões de brasileiros já se inseriam em condições de vida abaixo
da linha da pobreza, recebendo oitenta reais por mês e dentre estes, 24 milhões
sobrevivem abaixo da linha de indigência, com quarenta reais por mês. A concentração
de renda e riqueza é extrema; 1% da população detém 13,8% da renda total do país e os
50% mais pobres ficam com 13,5% sem contar que o salário mínimo é um dos mais
baixos do mundo.
Uma das principais obras de referencia de Rawls encontra-se traduzida para o português: “Uma teoria
da Justiça”. Lisboa, Presença, 1993.
6
Na tradição filosófica é com Immanuel Kant (1724-1804) que se estabelecem as bases para uma
elaboração das morais formais, acentuando o caráter racional da ação como único garante de atos
genuinamente livres.
5
Marx (1997:144), ao criticar o modo concreto pelo qual o capitalismo nega
a vida humana, vai dizer que “esta propriedade privada material, imediatamente
sensível, é a expressão material e sensível da vida humana alienada”.
A crítica se origina, a partir da análise da dialética da produção e reprodução
humana que se desenvolve, através e/ou pelo trabalho, e que no sistema capitalista é
objetivado, transformando o trabalhador em objeto determinado num mundo objetivo.
Ora, porque na sociedade capitalista os indivíduos são tidos como proprietários de
objetos trocáveis, cada um é relacionado com o outro à medida que pode obter dele algo
equivalente a seu produto. Desta forma, se do ponto de vista da ética,
O homem é fundamentalmente eticidade, ou seja, na própria
terminologia de Marx, o conjunto das relações sociais, o reino
da liberdade é a eticidade alternativa, pressuposta em todas as
análises de O capital, como a totalidade que instaura o homem
como sujeito ontológico, em contraposição à totalidade
contraditória, conflitual, que é o modo de produção capitalista,
fundado numa sociabilidade objetivamente mediada (Oliveira,
1993:277)
Assim, quando Marx realiza uma hermenêutica da negatividade do sistema
capitalista, que aponta na sua forma mais preemente para a desrealização do
trabalhador, o faz, a partir do exercício da razão ético-crítica utópica num nível material,
colaborando para a construção do sujeito histórico, como coletivo anti-hegemônico de
vítimas, capazes de criar uma nova validade para além do capital.
Portanto, a liberação do mundo vivido e de sua submissão aos ditames da
autovalorização do capital, pressupõe a superação da moral por uma eticidade
alternativa, que considere “a socialização plena da natureza humana, tendo como
condição de possibilidade a socialização plena das relações humanas” (Idem: 281)
Considerações finais
Não obstante o enorme predomínio do capital financeiro globalizado, que
impõe hegemonicamente todo seu poder, o mundo não pode ser induzido a esta única
dimensão. Tal perspectiva é própria da concepção positivista, que instrumentaliza o
mundo vivido e ideologicamente reduz o pensamento social.
Não é à toa que a ética utilitária conta sempre com uma economia
distribucionista, cujo valor da mercadoria é excepcionalmente estabelecido pelo desejo
ou preferências do comprador, negando sempre que o produto já foi produzido por um
produtor (o operário), cuja sorte significa o cumprimento de necessidades, não só
preferências que nunca poderão ser descobertas pelo utilitarismo.
Por isso, é preciso “ampliar a perspectiva, e pensar a sociedade e a cultura
fora da prisão do mercado e do fetichismo tecnológico, imposto pelo neo-imperalismo
realmente existente” (Castro, 2001:43). Negar as estruturas reais, que impedem a
liberdade e a justiça a partir da crítica dialética dos problemas éticos.
Como tal crítica é o lado teórico, assim a subversão e a
revolução do lado prático da base da ética da libertação. Ela é,
em realidade, na prática, o imperativo categórico, de derrubar
todas as condições, nas quais o homem é um ser rebaixado,
escravizado, abandonado, desprezível. (...) Sem tal negação
como crítica e como subversão, não existe justiça positiva, nem
concreta nem abstrata (porque, como diz a boca do povo, o
pelego não pode ser lavado sem que seja molhado) (Thielen,
1994:2014).
Assim, a crítica da sociedade é fundamentalmente ética, pelo fato de negar,
abertamente a opressão, a destruição e a injustiça social. E o é também, porque
transforma os sistemas de eticidades convencionais, ideológicas, numa forma de crítica
teórica revolucionária e subversiva. Finalmente a crítica será ética se, na medida em que
refletir a própria práxis ética, for capaz de mostrar os caminhos concretos para a
emancipação da humanidade.
Referências Bibliográficas
BARROCO, Maria L. Silva. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos. São
Paulo, Cortez, 2001.
BICCA, Luiz. Racionalidade Moderna e Subjetividade. São Paulo: Loyola, 1997.
DUSSEL, Henrique. Ética da Libertação na Idade da Globalização e da Exclusão.
Trad. Ephraim F. Alves et all. Petrópolis: Vozes, 2000.
GOMES, Cláudia M. Costa. O Logro do Empresariado: Uma Discussão sobre o
Trabalho Precoce. Dissertação de Mestrado, Recife: UFPE, 2000.
HORKHEIMER, M.e ADORNO, T. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido de
Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
KANT, Emanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo
Quintela. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Atur Morão. Lisboa:
Edições 70, 1975.
__________.Capítulo Inédito de O’Capital. São Paulo: Morais, 1992.
MORA, Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Paulinas, 2001.
NABUCO, Luiz Calmon (Org.). Teoria Crítica, Ética e Educação. Campinas:
UNIMEP, 2001.
OLIVEIRA, M. Araújo de. Ética e Economia. São Paulo: Ática, 1995.
__________.Ética e Sociabilidade. São Paulo: Loyola, 1993.
PIVATTO, Pergentino S. Ética da Alteridade. In: Correntes Fundamentais da Ética
Contemporânea. (org) Manfredo de A. Oliveira. Petropólis: Vozes,2000.
SILVA, Rafael Cordeiro. Razão Instrumental, Dominação e Globalização: A Dialética
como tarefa da Filosofia em Max Horkheimer. In: Teoria Crítica, Ética e Educação.
Campinas: UNIMEP, 2001.
THIELEN, Helmuth. Ética e Experiência. In: Ética do Discurso e Filosofia da
Libertação. (org.) Antonio Sidekum. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1994.
YASBEK, M Carmelita. Pobreza e Exclusão Social: Expressões da Questão Social
no Brasil. Temporalis nº3, Brasília: ABEPSS, Grafline, 2001.
O pensamento de esquerda e os limites da luta pela liberdade
de orientação sexual*
Silvana Mara de Morais dos Santos**
Considerações Iniciais
Nas últimas décadas do século XX, seguindo o ritmo e as reivindicações dos
múltiplos sujeitos coletivos que se formaram a partir das lutas e problemas postos pelos
movimentos feminista, gay e lésbico, surgiram uma pluralidade de abordagens teóricas
que cercaram o tema da sexualidade humana em suas diversas manifestações.
Rompendo com o tratamento da sexualidade em sua dimensão estritamente biológica,
vários estudos trouxeram, para o debate, enfoques que transitavam em torno do
reconhecimento das identidades sexuais, dos direitos reprodutivos e, mais recentemente,
dos direitos sexuais. A orientação sexual constitui-se numa dessas temáticas que
compõem a questão da diversidade, termo que utilizaremos, aqui, como uma definição
estratégica que designa um conjunto de reivindicações sócio-culturais: igualdade de
gênero e racial; liberdade de orientação sexual, dentre outras. Nosso objetivo é analisar
como as forças de esquerda intervêm para modificar os limites da liberdade de
orientação sexual. Esta temática ganha visibilidade quando o assunto é a violação dos
direitos humanos. Entre algumas conquistas e um universo amplo de tratamento sóciopolítico-jurídico desigual, os problemas se repõem e as soluções, até aqui, soam
epidérmicas. Resta-nos interrogar: quais os limites impostos por esta ordem de material
na resolução das questões no campo da diversidade, notadamente na efetivação da
liberdade de orientação sexual?
A homofobia como prática sócio-cultural legitimada na sociabilidade
vigente
Partimos de três pressupostos fundamentais. Primeiro, a sexualidade
humana, aqui, é pensada de forma concreta a partir da constituição da individualidade,
que assume características e expressões determinadas de acordo com a sociabilidade
capitalista, uma forma inteiramente histórica e essencialmente limitada de organização
da vida social.
* Agradeço as contribuições das por Andréa Lima, Sâmya Rodrigues e Marylucia Mesquita que
discutiram este artigo comigo.
** Professora do DESSO/UFRN, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE
e pesquisadora do GEPE/UFPE. E-mail: [email protected]
Essa limitação se explica em virtude da “produção de mercadorias – não
importa sob que forma concreta – ser o momento fundamental desta ordem social”
(Tonet, 1999:101) e não a satisfação das necessidades humanas. Temos, assim, como
segundo pressuposto que uma das características da sociabilidade do capital é a sua
indiferença às identidades culturais e às diferenças subjetivas dos indivíduos sociais
submetidos ao seu sistema de exploração. O terceiro aspecto refere-se ao fato de que,
em nossa reflexão, as questões no âmbito da sexualidade humana não se constituem
expressões superficiais ou periféricas da vida, mas representam uma dimensão
profundamente significativa das relações humanas e do desenvolvimento da
individualidade.
A individualidade constitui-se um complexo social parcial1 e, como tal, é
indissociável da totalidade da vida social. Dessa afirmação não resulta nenhuma
apreensão mecânica entre a totalidade e os complexos sociais parciais, pois mediante o
desenvolvimento da formação social, os complexos particulares se tornam cada vez
mais mediados, contraditórios e enriquecidos com dilemas e desafios postos de modo
permanente. Isso implica que a individualidade possui movimento e demandas próprias,
embora, do ponto de vista ontológico, prevaleça, em sua configuração, as determinações
oriundas do lugar e da função que ocupa na totalidade social.
Nessa perspectiva compreender a sexualidade, como uma dimensão da
individualidade, não significa admitir que esta possa ser pensada como uma espécie de
essência, própria de um sujeito singular que vive isolado e independente das relações
sociais. Ao contrário disso, o processo de individuação é uma construção social que
revela o modo como os homens e mulheres produzem seus meios de vida e usufruem da
riqueza socialmente produzida. De acordo com Palangana (1998:07),
o ser humano nasce como um membro da espécie igual aos
demais e se distingue, quer dizer, desenvolve propriedades
diferenciadas na práxis social. Para torna-se um indivíduo em
particular há que se apropriar da cultura, do legado das gerações
precedentes, fazendo-o seu.
Nessas condições, “a práxis social é o elo ontológico que articula de modo
absolutamente necessário indivíduo e sociedade” (Lessa, 1995:82).
“lukács denomina de complexo de complexos: as diferentes necessidades, cada vez mais humanas,
postas pelo processo reprodutivo à sua continuidade, exigem o desenvolvimento de complexos sociais
que, para cumprirem as funções que lhes são específicas, devem se desenvolver enquanto complexos
distintos de processualidade social global. Quanto mais desenvolvia a formação social, maior a
diferenciação entre esses complexos parciais e maior a autonomia de movimento e reprodução que
exibem frente à totalidade social” (Lessa, 1995:72).
1
Na vivência da sexualidade, mulheres e homens expressam os conflitos da
singularidade com tipos variados de dilemas, controles e critérios que orientam as
escolhas individuais e as decisões afetivo-sexuais, ao tempo em que expressam,
também, ainda que não de forma linear, as tendências históricas da generalidade
humana2. Com isso, podemos afirmar que a realidade das relações afetivo-sexuais é
construída historicamente, levando-se em consideração, dentre outras, as mediações da
cultura e da afetividade não se constituindo, portanto, numa mera derivação biológica,
nem algo estático, voltado, exclusivamente, para a reprodução da espécie e para o
desenvolvimento imanente do indivíduo.
A vivência amorosa e a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo
integram, praticamente, todas as sociedades, nas mais distintas épocas3. Resta, no
entanto, identificar as razões sócio-históricas que fazem com que o capitalismo apesar
de se apresentar, desde suas origens, como um projeto societário voltado para o
reconhecimento dos indivíduos, na condição de sujeito de direitos, além de não absorver
um conjunto de reivindicações de segmentos particulares que ficam destituídos do
acesso a direito, não cumpre sua promessa de igualdade e liberdade, mesmo numa
perspectiva formal, para todos os indivíduos sociais. Apresenta, ainda, enorme
capacidade de utilizar, em benefício próprio, várias formas de opressão que atingem
segmentos específicos da população. Exemplo disso é que o relacionamento entre
indivíduos do sexo oposto se impõe como orientação aceita socialmente, enquanto
qualquer envolvimento afetivo-sexual diferente da relação heterossexual é alvo de
práticas discriminatórias. Temos que considerar, no entanto, que os problemas
relacionados à discriminação e ao preconceito contra indivíduos que vivenciam relação
homo-afetivo-sexual é anterior à sociabilidade do capital.
Pela metade do século XIV, a visão de sociedade quanto à
identidade sexual era muito diferente da que existira no mundo
antigo. Essa mudança radical foi produzida pelas autocracias
combinadas da Igreja e do Estado, que se recusavam a admitir a
bissexualidade. A sexualidade estava agora tocada pela
divindade de Deus e tornou-se sagrada (as mulheres eram tão
marginalizadas que sequer eram consideradas). Em termos
práticos, qualquer expressão sexual fora do casamento (...)
estavam contaminadas pelo demônio (Spencer, 1999:119).
“A generalidade humana, por ser a portadora última das necessidades originárias da reprodução
humana, por ser a expressão máxima do patamar de universidade efetivado pelo gênero a cada momento,
exerce o momento predominante no desenvolvimento social global e, portanto, seu movimento é
ontologicamente prioritário frente aos processos dos complexos parciais”(Lessa, 1995:72)
3
Para resgatar o modo como relação afetivo-sexual entre indivíduos do mesmo sexo era tratada nas
sociedades antigas Cf. dentre outros, Spencer (1999).
2
A bissexualidade, que até então era tida como dimensão integrante da
sexualidade humana, torna-se proibida. Foi nesse período, quando a prática bissexual
ganhou status de perversão sexual, que se instituiu uma espécie de polaridade na prática
sexual, dividindo-a entre práticas que deveriam ser estimuladas, ou seja, àquelas
desenvolvidas entre indivíduos de sexo oposto e as que deveriam ser reprimidas,
porquerealizadas entre indivíduos do mesmo sexo. Estava consolidada, assim, o que
Spencer (1999) denominou como sendo a criação do Estado Homofóbico, ou mais
precisamente, a formação da sociedade homofóbica4.
Dissemina-se, então, a naturalização de ações autoritárias e conservadoras
voltadas para o controle social da sexualidade que, em nome do ideal “heterossexual”,
procuram expurgar, com a utilização de formas extremamente violentas, a dimensão da
bissexualidade da vida dos indivíduos. O resultado disso foi a institucionalização de
práticas e valores no âmbito da família, da escola, enfim as relações sociais são
impregnadas pela imposição da “heterossexualidade” como a única orientação sexual
considerada legítima e saudável. Estavam decretadas, assim, as condições sóciohistóricas quanto à impossibilidade dos indivíduos orientarem sua vida afetivo-sexual
com liberdade de expressão e de acordo com o desejo e o sentimento.
Durante o século XIX, sucessivas gerações de médicos, na
Europa e na América, dedicaram-se à busca da causa do que
consideravam ser uma disfunção sexual. Até 1700 isto era tido
como um pecado contra Deus e, portanto, uma falha moral e
teológica. Tornou-se, a seguir, um crime social, contra o qual o
Estado legislava. Agora estava por transformar-se numa
inadequação médica e psicológica, que muito rapidamente
poderia vir a ser uma doença mental. Esta passagem de pecado
para crime, e daí para insanidade, foi provocada por mudanças
sociais (Spencer, 1999:273)5.
4
O termo homofobia designa um conjunto de práticas que limitam a vivencia afetivo-sexual dos
indivíduos, restringindo, ainda mais, as possibilidades para a realização da liberdade humana. “Fobia é
um sentimento ou reação externa de rejeição a algo de que não gostamos, sobre o qual não
concordamos, que não aprovamos ou do qual temos medo” (Gonçalves, 2001:13). A fobia é o medo e
rejeição a uma determinada situação, levados ao extremo. Existe um tipo de fobia que se desenvolve em
relação às pessoas, ao jeito de ser e viver. Nestes casos, a fobia se manifesta em relação à sexualidade,
mas também à religião, à raça, ao estilo de vestir e falar, entre tantos outros aspectos que configuram o
modo de vida dos indivíduos em sua contidianeidade.
5
O poder da medicina, tal como ocorreu com a questão racial, intensificava-se e muito contribui na
formação da homofobia. As teorias médicas contrárias ao livre exercício da sexualidade foram bem
aceitas pelos segmentos dominantes da sociedade, que assimilaram e disseminaram a relação afetivosexual, entre indivíduos do mesmo sexo, como uma anomalia da natureza, uma doença, algo que deveria
ser extirpado da vida humana.
No desenvolvimento histórico da sociabilidade humana, diferentes
obstáculos sócio-culturais foram superados. Entender a relação específica entre cada
uma das dimensões da diversidade e o sistema vigente remete à análise ontológica do
direito e da política e à análise sócio-histórica, considerando as particularidades do
desenvolvimento do capitalismo nos diferentes contextos e a função que assume
determinadas ideologias. Obviamente, não faremos isto aqui. Observamos, no entanto,
que a sociabilidade capitalista, ao se constituir numa forma de organização da vida
social que se caracteriza pela subordinação de todos os valores humanos aos ditames da
acumulação do capital e sua exigências de lucro, torna-se flexível, ora integrando, ora
descartando a solução para as opressões particulares. O que é relevante ressaltar é que
toda a vida dos indivíduos, em todas as suas manifestações é, de
algum modo, colocada sob a ótica do capital. Desde o trabalho
propriamente dito, até as manifestações mais afastadas dele,
como a religião, os valores morais e éticos, a afetividade e as
relações pessoais. O que não significa (...) que os aspectos, em
sua totalidade, estejam subsumidos ao capital. Se assim fosse,
sequer os indivíduos poderiam existir como indivíduos. Esta
afirmação significa, apenas, que nenhum aspecto da vida social
e individual, hoje, deixa de ser perpassado pelos interesses do
capital (Tonet, 1999:102).
Em nossa realidade, podemos afirmar que a homofobia está profundamente
enraizada como prática sócio-cultural e ideológica legitimada. A homofobia está
presente quando a vivencia afetivo-sexual diferente da heterossexualidade é considerada
doença ou quando tomamos as diferenças de orientação sexual, entre as pessoas, como
fonte de discriminação. Em maior ou menor grau de desenvolvimento, as práticas
homofóbicas significam rejeição do outro que orienta sua vida afetivo-sexual desejando
e amando indivíduos do seu mesmo sexo. Desse modo, fica estabelecido, no campo da
convivência afetivo-sexual, uma separação radical entre práticas que são socialmente
aceitas e estimuladas e aquelas que são condenáveis e proibidas6.
Em síntese, podemos afirmar que são características desse tipo de fobia toda
ordem de violência física, emocional e psicológica cometida contra quem vivencia
relação homo-afetivo-sexual. As práticas de violência que avançam pelas ruas, pelas
casas e pelas instituições das pequenas e grandes cidades são realizadas pela política,
pelo Estado, mas, também, por homens e mulheres comuns, no seu cotidiano. Das
piadas preconceituosas, passando pela violência policial e avançando para a violação
e/ou não reconhecimento dos direitos.
6
Alguns historiadores discordam que esta separação tenha ocorrido no século XIV, argumentando que
ela aconteceu mais tarde, no século XIX, quando passa a vigorar uma identidade sexual que se separa e se
distingue da bissexualidade.
O clima hostil e violento contra os segmentos homossexuais se passa num ambiente de
“normalidade” que expõe as contradições e os limites da igualdade e da liberdade nesta
forma de sociedade.
As esquerdas e a questão da diversidade
As práticas individuais e coletivas em defesa da liberdade de orientação
sexual estiveram presentes nas mais diferentes épocas. Passo a contextualizar, em linhas
gerias, duas tendências que repercutem mais fortemente no pensamento das esquerdas
nos dias atuais.
A partir da década de setenta e, principalmente, nos anos oitenta e noventa
do século XX, o debate em torno da questão da sexualidade humana ganha novo
destaque no ambiente político. Isto ocorre no contexto da crise de caráter estrutural da
ordem do capital e das mudanças objetivas operacionalizadas para enfrentar esta crise;
ao mesmo tempo é, também, a partir desse período que surge um conjunto de
movimentos sociais (MS) com potencial contestatório dos valores sócio-culturais
dominantes. De início, são as mulheres que, através do movimento feminista,
conseguem apresentar, aos partidos políticos, suas reivindicações particulares, exigindo
da esquerda uma redefinição do seu ideário político-cultural, até então centrado numa
linguagem em práticas marcadas pela desigualdade de gênero. A idéia de que “a classe
operária tem dois sexos” abriu o debate em torno da diversidade subjetiva da classe
trabalhadora e da pertinência da esquerda assumir estas reflexões no seu campo teóricopolítico. Na esteira do movimento feminista, vieram, dentre outros, o movimento de
negros e negras e o movimento pela liberdade de orientação sexual. Esse processo
colocou em discussão o próprio conteúdo das lutas históricas da esquerda.
A entrada na política cultural era mais compatível com o
anarquismo e com o liberalismo do que com o marxismo
tradicional, levando a nova esquerda a se opor a atitudes e
instituições tradicionais da classe trabalhadora. Ela abraçou
novos movimentos sociais que eram eles mesmos agentes de
fragmentação da política da velha esquerda. Na medida em que
esta última era, na melhor das hipóteses, passiva, e, na pior,
reacionária (no tratamento das questões de raça e de gênero, da
diferença, e de problemas dos povos colonizados e das minorias
reprimidas e das questões ecológicas e estéticas), algum tipo de
mudança política da espécie proposta pela nova esquerda por
certo se justificava. Mas, ao fazer esse movimento, a nova
esquerda tendia a abandonar a sua fé tanto no proletariado como
instrumento de mudança progressista como no materialismo
histórico enquanto modo de análise (Harvey, 1999:319-320).
É nesse quadro histórico, de crise estrutural do capital, de decadência das
sociedades pós-capitalistas e de crítica às estruturas históricas de organização política da
classe trabalhadora, que se dá o fortalecimento do arcabouço teórico-político-cultural da
pós-modernidade. O anúncio do fim da centralidade do trabalho na vida social e todas
as conseqüências que advém daí, destacando-se, entre estas, a centralidade da política
na vida social e o cancelamento das classes sociais, têm direcionado a análise e as
estratégias de luta de boa parte da esquerda em nível mundial e nacional. No tratamento
teórico-político dispensado às questões da diversidade, notadamente no campo da
orientação sexual, este novo tipo de esquerda, denominado de “esquerda democrática”
procura se diferenciar da “esquerda tradicional”7. Com o objetivo apenas de ilustrar esse
debate, considerando os limites deste artigo, apresentaremos essas duas grandes
tendências.
A primeira tendência, protagonizada pela “esquerda tradicional”, herdeira de
uma tradição determinista, mostra-se solidária com as lutas de grupos específicos, mas,
na sua ação política, considera desnecessário e sem relevância social definir estratégias
voltadas ao enfrentamento dos problemas apresentados no campo da diversidade, que
ficam subordinados, de forma mecânica, à superação da ordem do capital. Tal
subordinação fez com que o debate em torno dessa questão da orientação sexual, por
exemplo, não ganhasse nenhum tipo de destaque no horizonte das estratégias de
intervenção partidária. A “esquerda tradicional”, ao admitir que as reivindicações sócioculturais atravessam a luta como um todo, acaba por cometer uma espécie de
desqualificação das demandas específicas, com o argumento de que a classe
trabalhadora não pode se fragmentar nem se dividir. Reitera-se, desse modo, uma
concepção restrita na articulação entre classe e cultura e entre indivíduo e gênero
humano. Além disso, as reivindicações particulares no campo da diversidade são
entendidas, equivocadamente, como uma questão “das minorias”. O equívoco consiste
em desconsiderar que as demandas postas por esses segmentos, que são identificados
como “minorias”, dizem respeito ao modo de organização da vida social e, portanto, seu
enfrentamento vincula-se ao processo de desenvolvimento da sociabilidade e do gênero
humano, não se constituindo questões de interesse apenas de determinados indivíduos,
uma suposta “minoria”. Isso posto, podemos afirmar que a “esquerda tradicional”,
pressionada pelos movimentos sociais e por militantes que vivenciam, em sua
singularidade, algum tipo de opressão específica, admite a gravidade de múltiplas
formas de opressão, no entanto, não agrega essa reivindicações à sua plataforma de luta.
A segunda tendência revela-se através da “esquerda democrática”, que opera
uma mudança significativa em relação ao tratamento dado pela “esquerda tradicional”,
posto que há o reconhecimento quanto a relevância social e política de estabelecer, em
seu ideário e no seu campo de atuação, estratégias de enfrentamento das questões que
denotam a opressão em suas particularidades, seja em relação ao gênero, à raça, à
orientação sexual, dentre outras.
7
O termo esquerda tradicional se refere aos segmentos que se identificavam com os postulados do
marxismo-leninismo e com a orientação dada aos partidos comunistas em nível internacional.
Esse reconhecimento não ocorreu de forma espontânea e imediata, mas num processo
complexo de interação e disputa política, entre diferentes sujeitos individuais e coletivos
que tensionaram a estrutura e os membros partidários para que acolhessem e
valorizassem a agenda dos movimentos sociais e de outros diferentes segmentos sociais.
Essa agenda tem sido trabalhada, no âmbito da “esquerda democrática”, a partir de um
conjunto de iniciativas políticas que dão visibilidade social às formas de opressão
particulares. Integra essas iniciativas, a defesa de que os sujeitos, protagonistas das
reivindicações específicas, devem se auto-organizar para que possam ser reconhecidos
como sujeitos demandatários de direitos. Isto denota a diferença do tratamento
secundário e invisível que essas questões recebem na perspectiva da “esquerda
tradicional”.
Do ponto de vista da “esquerda democrática”, as reivindicações, quanto à
questão da orientação sexual, devem ser incluídas no campo e no horizonte da luta pelos
direitos humanos. À luta pelos direitos civis, políticos e sociais deve-se acrescentar os
direitos sexuais, raciais, dentre outros. Assim, vislumbra-se que compete ao Estado,
através do aparato jurídico-político, a resolução da desigualdade entre os indivíduos.
Verificamos, desse modo, que a questão é remetida ao tratamento jurídico sem que se
realize, no entanto, uma reflexão mais profunda sobre a desigualdade estrutural da
sociedade capitalista e suas particularidades neste momento histórico de mundialização
da economia em que o poder do capital define, conforme seus interesses de acumulação,
a agenda social e política para o presente e o futuro da humanidade. Nos países de
capitalismo periférico, a situação se agrava mediante o fato de que tem prevalecido, até
aqui, uma integração subalterna à ordem mundial, com efetivação de uma agenda social
contrária aos interesses da maioria da população. Segundo Sader (2000)8, “ se fosse
definir sinteticamente a época em que vivemos, diria que se trata de uma época de
expropriação de direitos. Do lado econômico, é uma época de desregulamentação e, do
lado político e social, é uma época de regressão da civilização, de expropriação de
direitos”.
O horizonte da luta proposta pela “esquerda democrática”, no campo da
diversidade, consiste em alcançar os direitos já conquistados pela população branca, no
caso das reivindicações raciais ou atingir os mesmos direitos dos heterossexuais, no
caso dos homossexuais. A “esquerda democrática” orienta os grupos específicos a
conquistarem o que compreende que outros grupos já possuem. Desse modo,
chegaríamos à conquista da cidadania e liberdade plenas e, assim, supostamente, ao
ápice da liberdade humana. A individualidade é, então, entendida sob o signo da
fragmentação e de uma concepção de identidade que, ao reconhecer as diferenças entre
os indivíduos, centra-se em referencias teórico-políticas que deixam intacta a
exploração capitalista.
8
Cf. Sader, Emir. Direitos humanos e subjetividade In: Psicologia, direitos humanos e sofrimento mental.
Conselho Federal de Psicologia, 2000.
Os fenômenos se explicam em sua imediaticidade e as estratégias de enfretamento,
adotadas pela “esquerda democrática”, não possibilitam a superação das formas de
economicismo e reducionismo da “esquerda tradicional” e nem conseguem ampliar a
luta anticapitalista. Ao contrário disso, verifica-se uma espécie de definição estratégica
compulsiva para a aceitação da ordem social existente e suas possibilidades de
aperfeiçoamento.
Para além da identidade de grupos específicos e da igualdade de
oportunidades
A “esquerda democrática” implementou, ao longo das três últimas décadas,
uma ampla revisão teórica dos conceitos, tais como socialismo, democracia, cidadania,
revolução, dentre muitos outros. O ponto de partida de suas reflexões, que resultaram
nesta revisão conceitual, foi, em linhas gerais, determinada pela crítica às sociedades
pós-capitalistas que suprimiram, por completo, a liberdade humana e não efetivaram a
socialização da política. Trata-se de uma crítica à postura da “esquerda tradicional”,
que, até aproximadamente a década de 1940, divulgava amplamente a tese de que a
democracia e cidadania eram valores burgueses e que deveriam ser superados tão logo
fosse instituída a sociedade socialista.
Diversos fatos, contudo, vieram abalar essas convicções. Por
outro lado, as conseqüências trágicas deste modo de pensar, nos
países ditos socialistas. Todos tinham suprimido as liberdades
democráticas e tinham se transformado em ditaduras brutais,
tornando os homens menos livres e não mais livres como se
supunha que aconteceria no socialismo. Por outro lado, nos
países ocidentais, a sociedade capitalista tinha atingido um grau
de complexidade muito grande, aí incluindo as instituições
democráticas e os direitos do cidadão, de modo que seria
impossível suprimi-los para substituí-los por uma ditadura,
mesmo que essa fosse a da classe trabalhadora (Tonet, 2001:17).
Os fundamentos teóricos e as estratégias políticas desse tipo de esquerda instituíram
uma perspectiva de politização da totalidade9. Isto significa que a propriedade é discutir
e intervir exclusivamente no plano político, desconsiderando a totalidade da vida social
e os pressupostos que fundam esta sociabilidade.
9
As classes dominantes fazem, na sua trajetória histórica de intervenção na realidade, uma nítida
distinção o discurso econômico e o discurso político como forma de estabelecer os procedimentos
ideológicos de sua dominação. Assim, sob a égide do capitalismo, o indivíduo é destituído de suas
determinações em nome da decomposição da totalidade em esferas particulares: a arena da política, da
economia, da cultura etc.
É uma das maiores e mais sutis vitórias da situação (...) fazer
precisamente a oposição propor e polemizar, viver
exclusivamente o “político”, enquanto ela própria – a situação –
retendo todos os comandos, realiza seu projeto global (Chasin,
19977:147).
Trata-se do enfrentamento da concepção determinista, legado dos
postulados da II e III internacional e de uma série de interpretações teóricas e práticas
que se formaram no último terço do século XIX, pela via da centralidade da política na
vida social. Isto ocorre em detrimento da consideração da anatomia do social e implica
no entendimento de que a política, a moral, o direito, a cultura, dentre outros complexos
sociais parciais, podem ser apreendidos, exclusivamente, a partir de seu próprio
movimento e do desenvolvimento da vontade humana. Os partidos políticos de
esquerda, como é o caso do Partido dos trabalhadores, e outros movimentos sociais, que
haviam participado de mobilizações contestatórias importantes, constituíram-se, em
grande parte, nos países do ocidente, intermediações favoráveis ao conjunto da
organização do modo de vida capitalista, ou como afirma Bihr (1988:11), estas forças
de esquerda estão desempenhando muito bem “seu papel de força supletiva do capital”.
As armas teórico-políticas, com que se reveste a “esquerda democrática”
para enfrentar as opressões particulares, se estruturam no apelo à população e ao Estado
para o desenvolvimento da esfera pública com participação ativa da chamada
“sociedade civil”. A conquista da cidadania aparece como substituto da crítica à
sociabilidade capitalista. As categorias da identidade, da diversidade e da diferença são
tidas como aglutinadoras e capazes de explicar o tempo presente e o indivíduo atual
com as suas crises de sentido na vida. Fundamentadas na concepção de que a
singularidade, o cotidiano e a pluralidade regem a história, a “esquerda democrática”
revitaliza um conteúdo quase que puramente liberal, afastado do horizonte teórico de
um projeto de emancipação humana, quando não em explícita oposição a este. Essa
orientação traz, como conseqüência prática, o fato dos indivíduos sociais representativos
de grupos específicos, como é o caso de homens e mulheres homossexuais, terem que
remeter suas reivindicações ao terreno jurídico-político, como horizonte máximo para a
realização da igualdade. Nesse sentido, acredita-se que é pela correlação de forças
estabelecida, principalmente, no parlamento, que será possível fazer avançar seus
direitos, num processo contínuo até conquistarem cidadania e liberdade plenas na vida
social. A perspectiva é de que a aprovação da lei resulte na conquista do direito, que por
sua vez, implica na conquista da cidadania, dos direitos humanos e da liberdade. Duas
questões derivam dessa orientação dada pela “esquerda democrática”. Em primeiro
lugar, igualdade formal e liberdade são entendidas como sinônimo e, em segundo lugar,
ao invés de incluir as demandas sócio-culturais no universo de um projeto societário
alternativo, as forças de esquerda tendem a se distanciar da elaboração desse projeto,
fixando-se na luta por uma suposta igualdade de oportunidades para diferentes
indivíduos e segmentos sociais. Observa-se, aqui, que não se trata de desvalorizar as
lutas por direitos, mas de reconhecer a incapacidade do aparato jurídico-político para
resolver opressões ideologicamente consolidadas. Afinal, os valores têm fundamentação
objetivo-subjetiva.
Desse ponto de vista, na reconstituição de um projeto político alternativo à
sociabilidade do capital é vital a inclusão das questões relacionadas à individualidade e
à diversidade, que, no entanto, não podem ser explicadas a partir, exclusivamente, da
identidade de grupos específicos, numa apologia à política da fragmentação, em que as
questões, alem de serem descoladas da base material, são entendidas em sua dimensão
estritamente singular e cotidiana, sem conexão com as conquistas e dilemas históricos
do gênero humano. Extravia-se, assim, a relação dialética entre a individualidade e a
forma societária vigente com seus avanços, contradições, ambigüidades e condições
destrutivas. Essa ruptura entre o gênero humano e a singularidade; entre a política, o
direito, a cultura e a totalidade da vida social tem sido a tônica das teorias pós-modernas
que atestam e investem numa posição teórico-política centrada na narrativa do “Eu”, em
que a concepção de identidade “torna-se uma celebração móvel” (Hall, 2003:13) que
está fundada numa estrutura deslocada com pluralidades de centros de poder (Laclau,
1992) em contraposição às grandes narrativas e, notadamente, ao fato de que “os
complexos sociais sempre funcionam com base em reciprocidade dialéticas” (Mészáros,
2002:269).
Tem sido neste ambiente teórico-político, deslocado da totalidade da vida
social, que a “esquerda democrática” de modo hegemônico, elabora e estabelece sua
estratégias. Uma das conseqüências dessa forma de pensar é a contraposição entre os
interesses de classe e as questões da diversidade, como se a valorização de uma das
dimensões, implicasse, necessariamente, na desvalorização da outra. Na perspectiva de
criticar a “esquerda tradicional” que, simplificava, numa redoma economicista10, o
entendimento da identidade de classe, da individualidade e da formação do sujeito
revolucionário, a “esquerda democrática” tem contribuído para enfatizar o processo de
formação de identidades de grupos específicos à medida que obstaculiza, de modo
acentuado, a identidade de classe. Isso porque tem se configurado uma tendência de
pensar os indivíduos a partir de demandas cada vez mais específicas. Essa concepção
fragmentada do sujeito, que o aprisiona em sua dimensão singular, traz como
conseqüência imediata o fato de que a esquerda passa a estruturar suas lutas, no
horizonte do pensamento burguês, que instaura a cisão entre o ser genérico e o ser
singular, fixando sua atenção para a imediaticidade da vida cotidiana, onde reinam os
indivíduos entregues aos seus interesses particulares.
No horizonte da “esquerda tradicional”, questões como a coragem, a disciplina e a solidariedade de
classe pareciam encerrar o debate em torno da subjetividade. As determinações de gênero, etnia e
orientação sexual, que tantas implicações trazem na formação do indivíduo, dando, inclusive, origem a
vários dilemas da vida pessoal, não foram consideradas na constituição de um projeto societário
alternativo. Formou-se, assim, uma identidade política do sujeito revolucionário, sem problematizar, em
profundidade, determinações no campo sócio-cultural.
10
De outro modo, trata-se de recuperar os fundamentos teóricos para a
compreensão da individualidade em sua relação dialética com a genericidade humana. A
sociabilidade constitui a determinação central da individualidade por se tratar do
conjunto de relações que os indivíduos desenvolvem entre si, à medida que produzem
sua existência. Nesse sentido, as possibilidades de desenvolvimento estão circunscritas
e delimitadas pela sociabilidade. Isto implica admitir que os indivíduos são,
necessariamente, sociais e que suas ações e sentimentos não podem ser entendidos fora
da vida social, de forma isolada e autônoma. A vida social constitui-se numa totalidade
articulada das relações que os indivíduos estabelecem entre si. Há um caráter
nitidamente social determinando a individualidade e isto faz com que o processo de
individuação seja algo que acontece na dinâmica societária, configurando um processo
extremamente complexo de determinações e contradições.Diante disso, pensar, do ponto
de vista de classe, não significa destituir os indivíduos de sua individualidade,
diferenças e diversidade.
A classe como “unidade na diversidade” é especificada, ela
própria, pela autonomia dos indivíduos que a compõem. Pensála como matriz única a partir da qual se constituem os
indivíduos como sua repetição ao nível micro é não entendê-la
como produto da multiciplicidade desses indivíduos. A classe é,
portanto, um coletivo de indivíduos. Coletivo que deve ser
enriquecido pela história empírica desses indivíduos enquanto
construtores da(s) racionalidade(s) social (ais) (Dias, 1996(b):
39).
Trata-se, pois, de um processo histórico de construção de uma “coletividade
individualizada” que, sendo heterogênea e diversa na sua constituição, através do seu
modo de ser, de viver e de aprender a realidade, busque homogeneizar sua intervenção,
através da elaboração de um projeto societário que apanha a totalidade da vida social,
distinguindo, do ponto de vista ontológico, o momento predominante da dominação
burguesa e suas formas de alimentar ou desconsiderar variados tipos de opressão sóciocultural. Vale enfatizar que, sob o controle do capital, o reconhecimento da diversidade
sócio-cultural tem implicações sócio-jurídicas. No entanto, tais implicações são
revestidas de um caráter formal e não podem se objetivar como resultado meramente da
vontade humana ou do consenso intersubjetivo forjado, de modo político, entre as parte
dos indivíduos e suas representações coletivas. Apostar nessa perspectiva de
enfretamento é “desconhecer, por um lado, a força e o peso material das ideologias, e
por outro, reduzir a luta hegemônica ao jogo iluminista do esclarecimento (...).
Nenhuma Ciência destrói ideologia alguma. Enquanto a ideologia criticada tiver base
social/material ela permanece” (Dias, 1996(b): 19).
Considerações Finais
A causa da igualdade das mulheres, dos segmentos afrodescendentes e
homo-afetivo-sexuais, dentre outros segmentos específicos, tende, até aqui, a
permanecer não-integrável à dinâmica societária atual, apesar de muitas conquistas
históricas.
A promessa de oportunidades iguais “é utilizada como desvio mistificador
pela ideologia dominante, permanecendo para os que aspiram a uma oportunidade tão
impalpável como um sonho impossível, é grande a tentação de virar as costas para toda
essa questão da igualdade e procurar vantagens relativas para porções mais ou menos
limitadas de homens ou mulheres em posição ideológico oco da igualdade de
oportunidades tenciona obter prometendo um avanço em direção a uma condição cuja
realização está negando e ao mesmo tempo excluindo a possibilidade de uma ordem
social equitativa” (Mészáros, 2002:301).
A impossibilidade objetiva para efetivação da igualdade substantiva e real
nas microestruturas e no plano das relações interindividuais reside no fato histórico de
que o sistema do capital não pode se manter sem reproduzir relações hierárquicas de
poder entre os indivíduos sociais, inclusive “nas menores microestruturas ou
microcosmos da reprodução e do consumo habitualmente teorizados sob o nome de
família” (Mészáros, 2002:268). Embora as variedades existentes de hierarquia com
potencial discriminatório expressas nas relações de gênero, nas relações raciais e no
campo afetivo-sexual, não se constituam na causa original da desigualdade e do
exercício de relações antagônicas do sistema de funcionamento do capital, neste
momento histórico, elas estão emaranhadas numa rede de relacionamento dialéticos,
profundamente afetados pelas características estruturais fundamentais de todo o
complexo social.
Isto não significa que as lutas e iniciativas contra as formas de
discriminação e preconceito, no tempo presente, não sejam necessárias e importantes. A
questão está em discernir, do ponto de vista teórico-político, tanto as estratégias como o
horizonte da luta. É preciso considerar que o paradigma hegemônico, em busca de sua
legitimidade, vai se remodelando e, mediante as lutas dos movimentos sociais e demais
organizações coletivas, incorpora algumas reivindicações postas pelos sujeitos coletivos
que atuam no terreno da orientação sexual. Esse processo tem sido tenso e
profundamente ambíguo, pois se, por um lado, identificamos algumas mudanças, que
são importantes para o reconhecimento dos direitos e valorização dos diferentes
segmentos, por outro lado, este processo é feito mediante a lógica mercantil, em que os
sujeitos são respeitados, sobretudos, por sua condição de consumidor. Nossa
constatação é que, mesmo depois de tantas décadas de lutas, ao invés da resolução, os
problemas se repõem e as novas gerações são formadas num ambiente sócio-cultural
que tende a ignorar ou tratar, em nível formal e superficial, as diferenças reais e
subjetivas, presentes no modo de vida dos indivíduos. Isso porque as questões da
diversidade só entram no circuito de atenção do capital quando podem ser reapropriadas
para os propósitos do lucro e da mercantilização.
A família ocupa uma função ideológica de destaque no processo de
reprodução social, à medida que, além de ter a responsabilidade na garantia das
condições físicas e emocionais das futuras gerações, é no convívio familiar, onde
primeiro ocorre a socialização dos valores que incidem na formação de homens e
mulheres. Esses valores tendem a reproduzir, ainda que não de forma mecânica, os
fundamentos básicos da sociabilidade do capital, em que os interesses particulares
prevalecem face aos interesses da humanidade. Assim, a família, mesmo se
constituindo, também, um núcleo afetivo, nesta sociabilidade, é atravessado pelas
determinações mais gerais da produção material, não sendo, pois, um espaço
independente e autônomo das relações sociais. Ao contrário, por seu intermédio, se
repõe, de modo permanente, uma espécie de treinamento sócio-afetivo voltado para a
produção de individualidades subalternas à lógica de convivência sócio-cultural, posta
pelo projeto societário dominante.
As práticas afetivo-sexuais, desenvolvidas entre indivíduos do mesmo sexo,
têm potencial questionador sobre essa estrutura familiar, afinal, por intermédio dessas
práticas, entra em discussão o questionamento da relação afetivo-sexual ter como
principal finalidade a reprodução da espécie, assim como podem ser questionados os
valores machistas e a própria estrutura hierárquica e de posse entre homens e mulheres,
instituídos pelo casamento monogâmico e pela dominação masculina, dentre outras
questões. No entanto, para que esse potencial questionador se consolide e possa integrar
as reflexões e estratégias no processo de elaboração de uma nova hegemonia, é
necessário compreender que as mudanças nas instituições, como é o caso da família, por
mais bem intencionados e profundas que possam parecer, não têm força para
transformar o solo matrizador da formação sócio-econômica da sociedade. As
iniciativas de mudanças sócio-culturais, quando postas isoladas da luta pela
emancipação humana, acabam se constituindo em ações insuficientes e fragmentadas,
desenvolvidas por alguns indivíduos que, apesar de todo o empenho, são derrotados na
perspectiva de superar as diversas modalidades de opressão que incidem na forma da
individualidade.
A sociabilidade vigente, em sua dinamicidade, absorve reivindicações, no
campo da diversidade, submetendo-as, no entanto, ao controle do capital, longe,
portanto, da valorização do gênero humano e de suas diferenças subjetivas. Não foi à
toa que ao final do longo estudo sobre a história da orientação sexual, Spencer
(1999:13) tenha sido levado a concluir que “nossas sociedades ocidentais têm se
mostrado ultimamente mais homofóbicos do que nunca; não talvez na legislação, mas
nas atitudes morais”.
Referências Bibliográficas
ANDREUCCI, Franco. A difusão e a vulgarização do marxismo. In: HOBSBAWM,
Eric J. História do Marxismo II: o marxismo na época da Segunda Internacional.
Tradução de Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1982.
BIHR, Alain. Da grande noite à alternativa: o movimento operário europeu em
crise. São Paulo: Boitempo, 1998
CHASIN, J. A “Politização” da totalidade: oposição e discurso econômico. In: Revista
– Temas de Ciências Humanas nº 02. São Paulo: Editorial Grijalbo, s/d.
DIAS, Edmundo Fernandes. Cidadania e Racionalidade de classe. In: Universidade e
Sociedade. Ano VI Nº 11, Junho, 1996(a).
__________.Hegemonia: racionalidade que se faz história. In: DIAS, Edmundo F. (et
al.) O outro Gramsci. São Paulo: Xamã, 1996(b).
GONÇALVES, Eliana. Você é fóbico? Uma conversa sobre democracia sexual. In:
Jornal da rede saúde, nº 24, 2001.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu
da Silva e Guacira Lopes de Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
LESSA, Sérgio. Sociabilidade e Individuação. Maceió: Edufal, 1995.
MESQUITA, Marylucia; RAMOS, Sâmya R.& SANTOS, Silvana M. M. Contribuições
à crítica do preconceito no debate do Serviço Social. In: Revista Presença Ética nº 01.
Recife: UNIPRESS, 2001.
MÉSZÁROS, Istvan. Para Além do Capital. Tradução de Paulo Sérgio Castanheira e
Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo Editorial; Editora da UNICAMP, 2002.
PALANGANA, Isilda Campaner. Individualidade: afirmação e negação na
sociedade capitalista. Saõ Paulo: Plexus Editora, 1998.
SPENCER, Colin. Homossexualidade: uma história. Tradução de Rubem Mauro
Machado. Rio de Janeiro: Record, 1999.
TONET, Ivo. Educação e Concepções de Sociedade. IN: Revista Universidade e
Sociedade. Brasília, v.09 nº 19, 1999.
__________.Educação, cidadania e emancipação humana. Marília (Tese de
doutorado), 2001.
Ética e educação: dois termos de uma mesma realidade*
Marieta Koike**
Com alegria por ter sido distinguida com o honroso convite para participar
desse evento comemorativo da Semana dedicada aos assistentes sociais, quero
consignar meus agradecimentos e render homenagens às entidades organizativas da
categoria no Brasil. Refiro-me à ABEPSS, ao conjunto CFESS/CRESS e à UNESSO
que, de maneira articulada e solidária, carregam a desafiadora tarefa de coordenar a
construção do Projeto Ético0político que imprime direção aos processos da formação e
do exercício profissionais no campo do Serviço Social em nosso país.
O fato de ser a última a falar me dá o privilégio de ir aprendendo,
agregando, reformulando e, desse modo, fortalecendo minhas próprias idéias, no
decorrer das apresentações de cada conferencista. Assim, os temas desenvolvidos,
aparentemente díspares em suas especificidades, reforçaram a argumentação que irei
desenvolver no debate que vamos aqui estabelecer.
Com isso, foi possível perceber que os temas tratados constituem aspectos
de uma mesma realidade, forjada sob determinações sociais que configuram o processo
contemporâneo da reprodução social, cuja determinação maior são as atuais condições
da valorização do capital. O denominador comum articula e dá sentido a esta Mesa na
qual se analisa a saúde, a assistência social, as questões da criança e do adolescente,
previdência, ética e educação, refere-se ao caráter das estratégias necessárias para criar
as condições que possam restabelecer os padrões de lucratividades do capital.
Enredados em seus próprios limites, potencializados pela extensão e durabilidade de
uma das mais complexas crises experimentadas pelo capitalismo, os desdobramentos do
fenômeno ampliam as necessidades da produção e realização do valor, única forma do
capital combater sua imanente tendência de queda da taxa de lucro.
A necessidade de superar ou moderar os efeitos daquela tendência instaura
um movimento de contra-tendências no qual, tudo o que pode representar obstáculo à
restauração do lucro, deverá ser destruído/recriado ou simplesmente
remodelado/atualizado, em função do estabelecimento de outros padrões de
sociabilidade e de acumulação capitalista. Mecanismos e práticas sociais consolidados
no embate das classes sociais, assegurados pela ideologia e pelo aparato estatal, perdem
organicidade, transformam-se e se recriam no movimento desencadeado no
enfrentamento da crise contemporânea do capital.
* A autora preservou a forma da apresentação feita por ocasião do evento comemorativo ao Dia do
Assistente Social, realizado na Universidade Federal de Pernambuco, em 15-5-2003.
**Professora do Departamento de Serviço Social da UFPE.
Assim, o que foi construído como coisa pública, no período compreendido entre a crise
de 30 e esta que se inicia nos anos 70, conquistado como direito coletivo, patrimônio
das classes trabalhadoras, encontra-se, presentemente, em radical processo de reconfiguração ou mera supressão. A sociedade vive um momento em que se redefinem as
condições da reprodução social sob as quais o trabalho se reestrutura, emergindo em
condições de maior subalternidade e conseqüente precarização.
Avalizado e amparado pela ideologia neoliberal que legitima a reforma do
Estado destinada, prioritariamente, a ceder o espaço público ao privado e firmar a
primazia do mercado, o capital lança mão de tudo o que pode ser mobilizado para
produzir taxas adequadas de lucratividade.
Os pressupostos apenas citados indicam o fio condutor da análise das
questões que este seminário enfeixa como Situação das Políticas Públicas no Brasil.
Passemos aos aspectos que me foram designados: ética e educação, que possuem entre
si uma íntima relação no processo da reprodução social.
Não se pode pensar em educação sem uma recorrência à dimensão ética
dessa prática social. Do mesmo modo, não dá para falar da ética sem a dimensão
educativo-pedagógica que esta implica. Homens e mulheres, como sujeitos de sua
autocriação, não nascem humanamente, socialmente, completos. Eles permanecem no
mundo como seres em formação e, como tais, são um permanente devir com o próprio
mundo. Em tal processo o trabalho tem a centralidade, pela preeminência no ato
originário do ser social. E ainda, nesse processo de autocriação do homem pelo trabalho,
isto é, de conquista da humanização do ser social, a educação e a ética tornam-se
componentes essenciais da construção coletiva e universal que é a História.
Como nos ensina o grande e sempre atual filosofo que formulou a matriz
teórica capaz de desvendar os mistérios da sociedade capitalista, sob este modo de
organização social, ainda vivemos a pré-história da humanidade. Por isto é preciso
especificar qual ética e qual educação falamos para que se entenda que nem a ética, nem
a educação, surgiram com o capitalismo e nem com ele irão desaparecer. A educação e
a ética como dimensões da práxis humana, são constitutivas do processo da reprodução
social e, desse modo, sofrem transformações historicamente determinadas.
Em seus diferentes momentos históricos, a sociedade teve necessidade de
uma conduta moral que, por sua vez, supõe uma prática socializadora, organicamente
vinculada às relações sociais de produção vigentes. O problema, portanto, não estaria
em desenvolver argumentos acerca dessa necessária relação entre ética e educação, nas
diferentes formas históricas de organização social, mas temos um desafio
contemporâneo que é compreender-lhes o significado, isto é, o tipo de relação que as
vincula e as tendências que tal relação assume, no atual momento do capitalismo.
Inicio pela análise da educação e, para ser mais direta, da educação superior
e da instituição que a realiza – a universidade. Que ensino, que pesquisa, que extensão,
que formação acadêmica estão sendo produzidas? O que o capital em crise está
requerendo da universidade? Qual ethos presente na concepção e nas práticas educativas
efetivadas pela universidade nesse momento de reorganização do capital para fazer
frente aos seus inelimináveis e agora, ainda mais, exacerbados antagonismos? Tenho
como referencia o Brasil pós anos 90, na perspectiva da forma subordinada de sua
inserção na mundialização do capital.
A universidade, em diferentes países, vive a redefinição de suas relações
com a sociedade, o que significa dizer que a própria sociedade se re-configura. A
educação superior, de forma generalidade, desloca-se, cada vez mais, do âmbito do
Estado para o terreno dos negócios privados transita, a passos largos, do campo dos
direitos coletivos para o setor de serviços transacionados como qualquer outra
mercadoria.
Como fenômeno, essas transformações na educação e na universidade, têm
registro em países centrais e periféricos, de todos os continentes, sendo vasta a literatura
que dá conta do problema. O foco das análises nessas diferentes realidades é a crescente
mercantilização do ensino e da pesquisa, na universidade. Autores franceses, denunciam
A morte da República das Letras por um visível Naufrágio da Universidade. Na
Inglaterra, Itália, Estados Unidos, encontram-se movimentos críticos e de resistência aos
vínculos, cada vez mais estreitos, observados entre as atividades acadêmicas e os
interesses mercantis. Nesse último país, a questão é considerada uma autêntica
“vampirização mercantil”.
Na América Latina, segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o único
país a não ter completado o processo de privatização do ensino superior público,
realizado pelo Chile, durante o golpe militar. Contudo, tal processo se encontra aqui em
estágio bastante avançado. O censo realizado pelo MEC, em 2000, demonstrava que
85% das instituições de ensino superior, existentes no país, eram privadas. Em 2001, um
milhão e duzentos mil novos alunos ingressaram na educação superior, dos quais, 92%
foram para o ensino privado e somente 8% para as instituições públicas. No ano de
2002, esse número alcançou o teto de três milhões de estudantes e desses, mais de dois
milhões foram para instituições privadas. O mesmo ano registra, pela primeira vez no
Brasil, que das 20 maiores universidades em número de alunos, as duas primeiras
posições passam a ser ocupadas por universidades privadas (UNIP e Estácio de Sá). Até
2001, esses lugares eram da USP e da UFRJ, respectivamente. Nesses últimos oitos
anos, o negócio da educação superior é o que mais se tem expandido no país, sendo
autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação. E se o ensino superior transforma-se
numa mercadoria, a universidade torna-se a empresa que vende esse serviço que
mundialmente se afigura um dos mais promissores, em função da garantida
lucratividade.
O negócio da educação superior, tornou-se um dos ramos mais disputados
nos mercados internacional e nacional, movimentando uma imensa soma de dinheiro
alimentada por dois vetores: o dos investimentos que o setor recebe e que variam entre
5% e 7% do PIB dos países desenvolvidos e, entre 3% e 4% nos países em
desenvolvimento; o da venda dos serviços educacionais pelos quais as camadas mais
pobres da população devem pagar para ter acesso. E apesar dos índices de
inadimplência e ociosidade se revelarem elevadíssimos, no Brasil as empresas da
educação já encontraram meios de se defender, articulando-se com o capital financeiro.
Existem bancos especializados em oferecer serviços ao setor da educação privada, nos
diferentes níveis – infantil, fundamental, médio e superior. Dentre esses serviços,
destacam-se: o crédito educativo aos estudantes que não podem financiar sua própria
formação e os empréstimos aos empresários da educação para investimento nas suas
organizações, mediante a transferência da cobrança das mensalidades ao banco que
realiza o empréstimo que, desta forma, tem a sólida garantia da remuneração do seu
capital.
Quando a OMC foi criada, em 1955, como uma espécie de governo do
mercado mundial, um dos primeiros itens da agenda negociada com os 140 países
signatários (e o Brasil é um deles), foi precisamente a educação. Na OMC existem
propostas de 4 países (EEUU, Japão, Austrália e Nova Zelândia) para comercializar
livremente, serviços de ensino a todos os níveis, em qualquer país. Na pauta de
exportação daqueles países, a educação figura como um dos itens principais. A
comercialização deve ser feita como qualquer outra mercadoria: à base de join venture,
franschaising, acordos, parcerias e, diretamente, abrindo sucursais e, mesmo,
virtualmente, como educação à distância, oferta já bastante comum nas páginas de
anúncios dos jornais de grande circulação no país. Como todos sabem, a função da
OMC é, precisamente, derrubar todo e qualquer tipo de barreira que impeça a livre
circulação das mercadorias, e, dentre estas, a educação.
Para o Banco Mundial e o FMI, o ajuste estrutural dos países periféricos
coloca a privatização do conjunto das políticas sociais públicas, como finalidade
prioritária. No caso do Brasil, em diferentes governos, tem se verificado não só o
acatamento dessas diretrizes, como tem sido notório o adesismo governamental na sua
efetivação. Assim, os mecanismos do processo de privatização têm sido implementados
no país e se mais não se efetivaram, deve-se à resistência de alguns setores da sociedade
civil organizada.
O crescente corte de recursos e os remanejamentos orçamentários têm
deixado à míngua as instituições de ensino superior gratuito. Assediada pelo mercado, a
universidade pública, no Brasil, afasta-se da possibilidade de vir a ser um lugar de
ensino e de pesquisa voltado aos interesses maiores do país, na medida em que se torna
palco de empresariamento de negócios e mercantilização de serviços. Para isso, a
instituição se comporta empresarialmente, comercializando funções, atividades e
espaços acadêmicos, como os hospitais universitários, auditórios, cursos de pósgraduação, cursos seqüenciais, pesquisas, assessorias, com o intuito da obtenção de
recursos que suplementam o parco orçamento.
Não só no Brasil a instituição universitária que, desde seus primórdios, lutou
por autonomia, condição de preservar objetivos primacialmente acadêmicos, subsume-
se às relações comerciais, perfilhando-se às Universidades Corporativas criadas dentro
das próprias empresas.
E como este constitui o modelo que mais se aproxima daquele proposto para
o setor, pelo Banco Mundial, reproduzido na Reforma do Estado no Brasil, encampado
pela LDB/96, almejado por autoridades e gestores governamentais, no país, vale uma
pequena digressão, mesmo precariamente sintetizada, acerca do que são essas entidades.
Nos EEUU, em 1997, existiam mais de 1800 organizações desse tipo, com
previsão para em 2010 triplicar esse número. Existem pesquisas sobre as 100 maiores
Universidade Corporativas do mundo, com suas respectivas funções e especificidades.
O traço comum entre elas é operarem como centros de negócios, gerando lucros como a
General Eletric, a Motorola, a Mc. Donald com sua Universidade do Hambúrguer, têm
nas Universidades Corporativas a oportunidade de matar vários coelhos com uma única
cajadada. Elas capacitam seu próprio pessoal (o que é considerado uma vantagem pois a
capacitação se faz com “o pessoal na própria mesa de trabalho”, além de garantir
vinculação efetiva e imediata aos negócios que realizam e às necessidades mais amplas
da empresa; estendem a capacitação aos participantes da cadeia de valor, constituída
pelos revendedores, distribuidores, atacadistas, fornecedores, clientes, sindicalistas e
pela comunidade; desenvolvem suas próprias pesquisas, sendo esta uma das vantagens
decantadas, considerando a segurança em relação ao direito de propriedade que garante
a patente, ao sigilo que cerca as inovações tecnológicas na guerra concorrencial em que
vivem mergulhadas essas corporações e, por fim, tais universidades colocam no
mercado serviços educacionais como qualquer outro ramo de produtos da empresa. Para
os defensores desse tipo de organização, o grande diferencial entre esse “moderno”
modelo de universidade e o modelo, digamos, histórico, é que este desenvolve uma
estratégia tradicional centrada em custos, orçamentos e, pasmem: dedicada a educar
pessoas. Aquele, uma estratégia competitiva, “centro de lucros”, com objetivos de
continuamente desenvolver um aprendizado adequado às mudanças e à competitividade,
priorizando os negócios da empresa, aperfeiçoando sua performance perante a
comunidade e de resto, desenvolvendo o ideário da adesão e do consentimento,
traduzido por especialistas em Gestão de Recursos Humanos, como “desenvolvimento
do compromisso social entre colaboradores e empresa”.
Para nós, no Brasil, que ainda não rompemos com o modelo de universidade
oligárquica, autoritária e elitista, o que pode significar sobrepor-lhe essa concepção
empresarial e seus objetivos de lucratividade? Pensar as consequências dessa nova
configuração da universidade, induz a perguntar o que foi que empurrou tão
violentamente, a universidade (e não apenas as públicas), para o terreno da
mercadorização? Por certo, essa realidade não se constitui espontaneamente, mas como
outros processos e relações sociais, trata-se de uma produção histórica. Contudo, no
tempo que ainda disponho, do complexo de determinações sociais que respondem pelo
movimento que detonou o generalizado processo de privatização da educação superior e
conseqüente avanço no empresariamento da instituição que a realiza, pontuo apenas, o
que se coloca como central para o entendimento da raiz da questão.
Em primeiríssimo lugar, deve ser mencionado o impulso expansivo do
capital, lei do capitalismo, necessária à própria constituição da classe burguesa que para
existir e reproduzir-se deveu alastrar-se por toda a parte, enraizar-se, avançar e expandir
o capital por territórios, campos, setores, áreas, ramos ainda não mercantilizados.
Buscar mercados cada vez mais amplos e diversificados; revolucionar, continuamente, a
base material da existência social e com ela, as relações sociais, idéias e concepções de
mundo, disseminando as que são próprias de sua classe para todos os demais segmentos
da outra classe social, em âmbito mundial. Na realidade, trata-se de um processo de
produção de hegemonia, pois quanto mais se espraiam a produção de mercadorias e as
relações mercantis; quanto mais se uniformizam as relações sociais e os meios de vida,
isto é, a sociabilidade dos povos, tanto mais se efetiva, amplia-se e se consolida a classe
burguesa. Embora seja uma tendência não elidível do capital, cedo ou tardiamente, a
depender das condições em que opera a luta entre as classes sociais fundamentais,
expandir-se por todos os lugares, transformar todas as coisas em mercadoria, é
necessário, além de obter adesão e consentimento para consolidar-se e tornar-se
hegemônico.
Para entender essa Lei pode-se ir ao Manifesto Comunista, de Marx e
Engels, no qual os autores não poderiam ser mais claros e didáticos na fundamentação
da natureza expansionista do capital. A leitura desses autores e de seus precursores
permite hoje compreender que a suposta inexorabilidade do processo de globalização,
que teóricos e defensores do neoliberalismo apresentam ao mundo como única
possibilidade de resolver as questões socais contemporâneas, advém da própria lógica
do capital e não de uma suposta sociedade do conhecimento, originária do progresso
técnico. Assim sendo, longe da burguesia acena para obter adesão e consentimento das
classes trabalhadoras ao projeto de sua renovada continuidade, o que a mundialização
do capital tem feito é aprofundar material, ética e politicamente, os antagonismos entre
o capitalismo e as necessidades sociais postas pela reprodução humana na história.
Processo este necessária e objetivamente ocultado pela burguesia. Ela - a burguesia não menciona que, no estágio atual do desenvolvimento capitalista, a figura do capitaldinheiro trans-nacionalizado subsume as demais figuras do capital: o trabalho, o Estado
e as práticas das classes sociais, dissimulando assim a natureza e as tendências das
transformações que a crise opera, sobretudo, no campo estratégico dos direitos sociais,
dentre os quais destaca-se a educação.
Articulada a essa ordem de causalidade, está a crise (contemporânea) do
capital, desencadeada em 73 e ainda em pleno curso, com a especificidade de ser esta a
de mais amplo espectro já registrada na história do capitalismo. Diferentes analistas
concordam em que, desta vez, nos deparamos com uma crise que além de atingir os
fundamentos do capital seria, também, crise política, ética e cultural, supondo rupturas e
continuidades que afetam o modo de viver e reproduzir-se em todos os âmbitos e esferas
da existência social. Esse enfrentamento, até mesmo porque a implacável tendência
expansiva do capital potencializa-se no contexto das crises que ciclicamente acometem
o capitalismo.
E como, também, o célebre filósofo mencionado formulou, a crise é,
igualmente, uma lei do modo capitalista de organização social. Por si mesma, ela é
reveladora de que a lógica do capital é uma ameaça para o capital, não sendo essa uma
mera tautologia, em face da ineliminável tendência da queda progressiva da taxa de
lucro pelo desenvolvimento da força produtiva do trabalho social, isto é, sob o jugo do
capital, quanto mais se desenvolvem o conhecimento, a capacidade e destreza humanas
em lidar cooperativamente com os processos de trabalho, com a ciência, a tecnologia e
os recursos da natureza, ou seja, quanto mais a sociedade avança na capacidade de
produzir riqueza material e cultural, ou ainda, quanto mais desenvolve suas
potencialidades civilizatórias, menos lucro os proprietários do capital tendem a auferir.
E a necessidade de desembaraçar-se dos limites que essa tendência impõe, desencadeia
entre os capitalistas uma concorrência brutal na corrida pelos processos de inovação
técnica, tanto na base física da produção, reestruturando os processos de trabalho,
quanto nas modalidades de uso e o controle da força de trabalho. Trata-se de
desenvolver mecanismos e processos que reconduziram o capital ao leito da
valorização, fazendo irromper o movimento destinado a contrariar a lei tendencial da
queda da taxa de lucro.
O movimento de contra-tendência, por sua vez, demonstra que, apenas
através de reestruturação produtiva, traduzida em inovação tecnológica e modos
flexíveis de gestão e consumo da força de trabalho, não seria possível instaurar outro
padrão de sociabilidade e de lucratividade. É necessário gestar não somente uma outra
forma de organização do trabalho e da produção material capaz de obter maiores taxas
de mais-valia, como se sabe, exclusivo meio pelo qual o capital se valoriza. É
necessário, também, instituir outra sociabilidade, uma outra maneira de perceber, sentir
e situar-se no mundo, considerando a produção de outras condições de reprodução
social. Ambos os processos, constitutivos do mesmo movimento, necessitam, por sua
vez, tornar-se hegemônicos. Verdadeiro processo de socialização da sociedade, para
produzir, como diria Gramsci, um novo homem para um novo tipo de sociedade,
contemporaneamente, a do capitalismo re-atualizado. E essa é uma tarefa que o capital,
sozinho, não pode realizar, necessitando amparar-se no Estado e na ideologia,
conformados às novas necessidades do processo de valorização. Esse movimento,
atravessado pelas lutas de classes e que articula as estratégias destinadas a atenuar,
retardar ou suprimir os efeitos da crise, determina o que, no atual contexto, redefine o
trabalho, o Estado, suas instituições e suas práticas, isto é, redefine a composição e
dinâmica das classes sociais.
Compreendida essa totalidade, defendo o pressuposto de que o processo de
constituição da sociabilidade requerida pelo movimento que o capital desencadeia e
articula para sair de sua própria e atual crise, seria subjacente às transformações porque
passa a universidade, no Brasil (e,também no mundo) nessas duas últimas décadas. Com
isso, estou considerando que a universidade é uma instituição estratégica nas funções de
efetivação desse novo/velho processo de socialização da sociedade demandando pelo
atual momento do capital.
Nesse complexo de determinações que respondem pelas transformações que
re-configuram institucionalmente a universidade no Brasil, coloca-se também a reforma
do Estado no interior da qual essa re-configuração se processa. De cunho neoliberal, o
caráter gerencial da reforma do Estado define o “tipo” e a direção da reforma setorial da
educação e nesta, da educação superior. Seu principal traço é, sem dúvida, a
desobrigação do Estado com este nível educacional, impelindo-o, dessa forma, como as
demais políticas sociais públicas, para o terreno mercadológico. Mecanismo que, na
particularidade da educação, qualifico como indispensável ao processo de constituição
dessa outra sociabilidade que o capital necessita. Porém, de que sociabilidade se trata?
Quais os seus traços definidores? Quais os parâmetros éticos desse outro ideário social e
em que direção ele se instituiu?
A análise dessas questões torna-se imprescindível na configuração do
caráter e das tendências das novas mediações que vinculam a universidade à sociedade.
Na base do novo padrão societário, encontra-se a necessidade de: por um lado, produzir
as condições de inserção competitiva do país no mundo globalizado e por outro, obter
consentimento e adesão ao projeto de hegemonia da burguesia nacional, articulado ao
capital internacional. E, não esqueçamos, todo esse processo ocorrendo num contexto de
ofensiva neoliberal voltada para algo mais abrangente e profundo: produzir e reproduzir
a Ordem, pela primeira vez, verdadeiramente, mundializada, do capital. Essa
necessidade, apresentada nos textos oficiais como Competitividade e Cidadania, é
debitada à educação, considerada, em todos os quadrantes, não só no Brasil, o único e
indispensável recurso para o enfrentamento da questão. Formar para o exercício da
cidadania e incremento da competitividade, isto é, produzir cidadãos competitivos, está
no cerne das diretrizes das agências multilaterais quanto aos objetivos de massificação e
elevação do patamar educacional da população dos chamados países emergentes. A
inovação tecnológica, a capacidade produtiva, a qualidade total, os novos padrões de
consumo, enfim, tudo o que pode garantir condições de competitividade nas relações
comerciais e políticas, bem como, a formação das consciências, hábitos e valores que
favoreçam a construção de consensos, dizem, depende da educação. A coesão social, a
redução da pobreza, a paz e harmonia entre os povos, raças e etnias, gêneros e gerações,
fazem parte da concepção de cidadania que somente a educação teria o dom de
propiciar, sendo a mola mestra do processo civilizatório e limite do desenvolvimento.
Essa visão “salvacionista” da educação, adotada a partir dos anos 90, pelo Banco
Mundial, encontrada também, nas propostas da UNESCO para o século XXI, merece
alguns questionamentos. Um deles, é que essa concepção redentora da educação adquire
tal veemência, justamente no momento em que, por imposição do FMI e do Banco
Mundial, segundo diretrizes do Consenso de Washington, o setor deixa de ser prioritário
no orçamento governamental de diferentes países, negado como direito assegurado pelo
Estado, transformando-se em prestação de serviço parametrado pela lógica mercantil.
Outro, é que esta centralidade da educação no discurso oficial, coincide com a
necessidade coletiva de qualificação decorrente, por um lado, da elevação do padrão
tecnológico da sociedade e por outro, do fenômeno da desvalorização da força de
trabalho que a acompanha. Tudo isso, num cenário de desemprego estrutural e acirrada
competição pelo trabalho. Todas essas “felizes” coincidências que reforçam a idéia da
educação como apanágio para todos os males, acontecem ao mesmo tempo em que é
explicita sua maior subordinação ao capital. Qual relação poder-se-ia estabelecer então
entre esta concepção apologética da educação e sua mercantilização? Por que não é feita
alusão ao obstáculo estrutural a esse projeto de “salvação global” via educação, que o
desemprego representa? Para onde leva a formação profissional num contexto de
precarização do trabalho e de escassez do trabalho assalariado? Não seria sem motivo
que a ideologia do empreendedorismo toma conta da universidade e esta passa a
disseminá-la como “forma moderna” de ganhar a vida.
Alçado ao status de disciplina, o ensino do empreendedorismo tem por
objetivo preparar o estudante para “criar o plano de negócio” que deverá “vender” às
empresas ou ele mesmo desenvolver, ao deixar a universidade. Foi cunhado o epíteto
Sindrômico, para aqueles que vão para a universidade com a pretensão de emprego na
vida profissional. Aspiração esta que não passaria de uma síndrome do funcionário e da
estabilidade. Nas atuais necessidades da acumulação do capital, o empreendedorismo
como nova cultura, (apesar da proposta ser por demais antiga, pois remonta aos anos 40
quando foi idealizada por Joseph Shumpeter), é apresentado como “um estado de
espírito”, “uma paixão” e uma qualidade, de que os estudantes devem ficar impregnados
durante sua permanência na universidade. Como dizem autores e instrutores de
empreendedorismo, é este “o perfil que a sociedade requer”. Traduzida como
associação, num mesmo indivíduo, de inovação tecnológica + competitividade +
vivência do ciclo de reprodução da mercadoria: a capacidade empreendedora é
qualidade rara no mercado. Diferente da capacidade técnica, existente em abundância
em todos os lugares.
A capacidade de empreender torna-se, desse modo, a qualidade privilegiada
do novo perfil que as empresas demandam. Por esse atributo, o cidadão e sua força de
trabalho passam a ser avaliados e distinguidos no mercado. Com ele, os recémformados ingressam no mundo dos negócios, depois de terem realizado como
estudantes, seus processo as de aprendizagem empresarial.
Nessa lógica, o ensino e a pesquisa têm, como horizonte, o empreendimento
que cada aluno ou grupo de alunos, vai “aprender a estruturar” no curso da sua
formação acadêmico-profissional. Nesse processo, os docentes são considerados agentes
privilegiados na disseminação da sociabilidade empreendedora, pelo “poder que detêm
de mudar a vida do aluno”, desde que transformem a sala de aula e, melhor, “todo
curso”, em “oficina de aprendizagem do empreendedorismo”. É interessante perceber
que tal ideologia surge ao mesmo tempo em passam a desaparecer as fronteiras entre a
universidade e as empresas. E essa nova feição que a universidade assume, será
determinante do que ela se realiza como ensino, pesquisa e extensão. A natureza deste
tripé que caracteriza a instituição universitária, não só estaria ameaçada, como adquire
um caráter danoso, do ponto de vista da reiteração do histórico caráter oligárquico e
excludente do ensino superior no país.
A atividade de extensão, prática de ensino mediante a prestação de serviços
à comunidade, descaracteriza-se pela venda de serviços, tornando difícil distinguir-se
uma atividade da outra, abrindo caminho para a mercantilização que vai se insinuando,
tornando-se natural, generalizada, legitimada, indispensável e irreversível.
A pesquisa, a mais mercadorizada das atividades acadêmicas, pelos fins
lucrativos de que se reveste, cada vez mais se desconfigura como atividade autônoma
articulada ao ensino e à extensão, imprescindível à qualificação da formação
profissional e às estratégias de emancipação econômica e política do país. No processo
de privatização do ensino superior, a pesquisa aplicada, de retorno imediato, torna-se
determinante na vida da universidade, em detrimento da pesquisa básica, da produção
de conhecimento e cultura. A universidade , não apenas cede seus pesquisadores,
laboratórios e infra-estrutura para a incubação e desenvolvimento de empresas dentro de
seus muros. Ela mesma, torna-se lugar para a prática dos negócios mercantis, de onde
emergem as figuras do professor-empresário (executivo nas inúmeras ONGs e
fundações que proliferam nos campos universitários, acionistas, proprietários ou sócios
das empresas gestadas na instituição e para as práticas de outras formas de proveito
financeiro das atividades acadêmicas desenvolvidas com finalidades comerciais) e
também para a prática do aluno-trabalhador que passa a suprir a carência de servidores
administrativos para o funcionamento da universidade.
Como processo, essa práticas seriam facilitadas, por um lado, pelos
crescentes cortes e re-direcionamentos dos recursos destinados ao sistema público da
educação, expressando o caráter da reforma do Estado que o desonera das políticas
públicas e por outro lado, pelos oito anos sem reposição salarial para os servidores
públicos federais e pelo evidente empobrecimento da maioria dos estudantes e de resto,
da população brasileira.
A nova conformação das práticas acadêmicas inflexiona o ensino, sobre o
qual recaem, diretamente, os efeitos dessa transfiguração institucional da universidade.
Para viabilizá-lo nesses novos parâmetros, diferentes mecanismos têm sido
introduzidos, seguindo as diretrizes do Banco Mundial, dos quais vou mencionar
apenas, a diferenciação e diversificação dos tipos de instituição universitária.
A criação de novos tipos de instituição de ensino superior – centros
universitários, faculdades integradas e estabelecimentos isolados, embora estes últimos
já existissem no país, porém com outras características, antes de tudo, contribui para a
legalização da ruptura da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, e a extensão, além
da proliferação de estabelecimentos privados não-universitários com finalidade
empresarial. Com essa estrutura, oficializa-se a existência de dois tipos de ensino
superior: ensino pleno, oferecido pelas universidades que associam formação e
produção de conhecimento, e ensino parcializado, segmentado e focal, expressando e
aprofundando as desigualdades de classes, instituindo um novo tipo de exclusão social:
a dos diplomados, emprestando assim, outra configuração ao fenômeno até então
comum aos iletrados.
Corroborando essa realidade, o papel do currículo é indiscutivelmente
estratégico. Flexibilizado e aligeirado, este passa a ser pautado pelo novo padrão de
relações entre o capital e o trabalho viabilizando o processo de socialização das
gerações que poderiam viabilizar as condições da acumulação capitalista. O que nos
coloca diante da maior de todas as questões: quais sujeitos sociais a universidade estaria
estrategicamente ajudando a construir? Seriam meros “aprendizes de capitalista”, os
futuros constituidores da sociedade brasileira?
O que temos diante de nós, é a lógica mercantil subsumindo o trabalho
acadêmico, disseminando a racionalidade empresarial, apagando as classes sociais com
a pretensão ideológica de que todos ajam como patrão, sufocando a dimensão crítica,
humanista e emancipatória da formação acadêmico-profissional.
Para concluir: não seria, apenas, para funcionar como mercadoria, que a
educação superior e a universalidade – a empresa que transaciona essa mercadoria –
adquire outra feição. A universidade tem uma missão e esta não foi removida, foi
apenas transformada para atender à constituição da sociabilidade requerida pelas atuais
condições da reprodução social. O que não representa uma iniciativa unilateral da
universidade. Como instituição social, ela exprime e desenvolve suas ações tal como
requerido pelo conjunto da sociedade nos diferentes momentos históricos, o que
necessariamente inclui a presença das classes sociais e suas lutas. Se a eqüidistância
entre a universidade e o mercado deixa de ser nítida, é porque o ethos mercantil que
subsume a vida social, na etapa atual do desenvolvimento do capitalismo, recobre o
conjunto das práticas sociais. Como instituição, a universidade é parte da sociedade na
qual existe, portanto, esse feitio que ela adquire, revela apenas, o momento atual do
capitalismo, não se tratando de um fenômeno particular da instituição mas de um
processo que recobre a sociedade. Diante disso, o desafio que se coloca até pode parecer
novo, mas se afigura o de sempre que é a relação social que o capital encarna. Esta sim,
deve constituir o nosso ponto de ataque.
Por fim, chegamos ao ponto onde teria sentido questionar a ética e sua
relação com a educação sob as determinações aqui esboçadas. Foi necessário esse
caminho do pensamento, orientado pela reflexão crítica, para chegar às condições de
questionar o significado da ética e de sua relação com a educação neste momento da
sociedade brasileira.
Nesta perspectiva, o nosso Código de Ética Profissional que está
completando 10 anos, apresenta-se como um eficaz instrumento para contribuir no
aclaramento dessa relação. Rico de subsídios em seus princípios, sua matriz teóricopolítica induz ao estudo, à pesquisa e à orientação da prática profissional, mantendo a
categoria vigilante de sua prática. O nosso é um Código de Ética que toma partido por
um projeto de sociedade, é interessado, indica uma direção, carrega uma utopia e
convoca a categoria e as demais categorias de trabalhadores ao engajamento na
construção de uma nova sociedade onde a vida não seja pautada pelo ciclo de ferro da
valorização do capital.
Referências Bibliográficas
BATISTA, Paulo Nogueira – O consenso de Washington: a visão neoliberal dos
problemas latino-americanos. Caderno Dívida Externa, n.6. São Paulo, PEDEX, 1994.
DOLABELA, F. – Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a
transformar conhecimento em riqueza. São Paulo, Cultura Editores Associados,
1999.
BANCO MUNDIAL – La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la
experiencia. BIRD, Washington, DC, 1995.
GRAMSCI, Antonio – Cadernos do Cárcere, v. 4. Edição e tradução de Carlos Nelson
Coutinho. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001.
FREITAG, Michel – Le naufrage de I’ Université et autres essais d’épistemologic
politique. Recherches. Nuit Blanche Éditeur, Quebec; La Découverte, Paris, 1995.
MAILLARD, Jacques – A morte programada da República das Letras. Princípios,
Revista Teórica, Política e de Informação, n. 69/2003.
MARX, K. – O Capital. Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro, Editora
Civilização Brasileira, 1975.
MARX, K. e ENGELS, F. – Manifesto do Partido Comunista. São Paulo, Cortez
Editora, 1998.
MEISTER, Jeanne C. – Educação corporativa. A gestão do capital intelectual
através das Universidades Corporativas. São Paulo, Makron Books do Brasil Editora,
1999.
SGUISSARD, V. (org.) – Educação Superior: velhos e novos desafios. São Paulo,
Xamã, 2001.
TRINDADE, H. (org.) – Universidade em ruínas: na república dos professores.
Petrópolis, RJ, Vozes/Rio Grande do Sul, CIPEDES, 1999.
UNESCO, MEC – Educação, um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sob a educação para o século XXI. São Paulo, Cortez, 1998.
WARDE, Ibrahim – A vampirização mercantil. Le Monde diplomatique. IN: Caros
Amigos, ano V, n. 49, abril 2001.
Violência contra mulheres e esfera familiar: uma questão de
gênero?*
Miriam de Oliveira Inácio**
Qualquer interpretação sobre a problemática da violência contra as mulheres
passa obrigatoriamente pela definição sobre o que venha a ser violência e a apreensão
de suas feições peculiares, isto é, sua ocorrência predominante no espaço doméstico, no
âmbito das relações afetivo-sexuais entre homens e mulheres, relações essas marcadas
pelas desigualdades de poder entre os gêneros masculino e feminino.
A tarefa de conceituar violência abriga inúmeros desafios. Desde a
percepção da violência como fato natural e inquestionável (Arendt, 1985; Costa, 1986)
até a elasticidade de seu significado etimológico (Zaluar, 1999), com o perigo de
cairmos numa armadilha relativista, na qual cada um define para si o que pode ser
considerado violência ou não-violência.
Zaluar (1999:08) a considera com um significado polifônico, desde a origem
etimológica do termo. A palavra violência vem latim violentia, que remete a vis, termo
que, originariamente, não tem um sentido pejorativo, muito mais associado à força,
energia, vigor, emprego de força física, rigor, dureza, ferocidade. Essa força torna-se
violência, no entanto, quando seu uso ultrapassa os limites estabelecidos pela
velocidade, ou seja, quando essa força perde sua legitimidade, perturba acordos e regras
morais que ordenam as relações ou se torna um fim em si mesma – o uso da força pela
força. A violência varia, portanto, cultural e historicamente, ou seja, é situada. E daí,
suas diferentes acepções.
Se recorremos às palavras violatio, onis, violo e are, que estão associadas ao
termo violentia, veremos, porém, que o termo revela um sentido negativo e maléfico,
indesejável. As palavras violatio e onis significam dano, prejuízo, profanação, violação,
perfídia e as palavras violo e are indicam fazer violência à, maltratar, danificar,
devastar, desonrar, transgredir, infringir, ferir, lesar, ofender, macular.
* Este artigo é parte da dissertação de mestrado intitulada “Serviço Social e Violência de Gênero: Ethos e
Ação Ético-Política nas Delegacias da Mulher”, defendida em 30 de agosto de 2003, no Programa de PósGraduação em Serviço Social, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Agradeço à professora
Drª Maria Alexandra Da S. M. Mustafá pela importante orientação na elaboração da dissertação e à
professora Drª Anita Aline de Albuquerque pela valiosa colaboração na condução de todo trabalho.
** Assistente Social, Mestre em Serviço Social, professora do Curso de Serviço Social, da Faculdade de
Ciências, Cultura e Extensão – FACEX, do Rio Grande do Norte, pesquisadora do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre Ética – GEPE, da UFPE e membro do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, 4º
Região/RN.
Para o senso comum, a violência é tomada como sinônimo de uso agressivo da
força física para obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade ou até maltratar
alguém como forma de punição por uma conduta socialmente reprovada. No entanto,
uma visão ampla do significado da violência sugere que ela permeia todo ordenamento
social, no âmbito das relações pessoais e institucionais. Inscreve-se nas relações sociais
de classe, gênero, etnia e geração. As discriminações, desigualdades e antagonismos de
classe, raça/etnia, gênero e geração caracterizam uma violência estrutural que atinge a
imensa maioria da população pauperizada e as minorias sexuais, étnicas e etárias.
Conforme salienta Kelkar (1984):
Um conceito estreito de violência pode sugerir um ato ilegal,
uso criminal da força, mas de forma ampla inclui também a
exploração, a discriminação e a manutenção de uma estrutura
econômica e social desigual, a criação de uma atmosfera de
terror e ameaça, e outras formas de violência política (apud
Camargo, 1998:122).
Mas a violência e agressividade não têm o mesmo significado, nem são
próprios de um sexo. Enquanto a agressividade pertence ao mundo animal e instintivo, a
violência possui uma natureza social, cultural e humana. Conforme Arendt (1985), a
violência não é animalesca nem irracional, pois ódio e violência não são reações
automáticas ao sofrimento. Ao contrário, elas surgem da razão, que procede a
tipificação de uma situação como violência ou não-violência.
Para Costa1, a agressividade não é necessariamente negativa, ela pode ser
considerada positiva quando não se transforma em violência, ou seja, quando não há um
desejo humano de maltratar o outro: “... não existe violência sem desejo de destruição,
comandando a ação agressiva e, em conseqüência, que violência não é uma
propriedade do instinto” (1986:33).
Esta distinção é imprescindível à desnaturalização da violência contra as
mulheres, comumente justificada por uma incontrolável agressividade masculina, até
mesmo nos tribunais de justiça, que utilizam a tese do descontrole emocional para
inocentar os assassinos de suas ex-esposas, ex-namoradas e ex-amantes.
Como fenômeno histórico, cultural e humano, a violência remete à
percepção de um ato que é codificado como tal, sob determinação dos valores e da visão
de mundo dos sujeitos construídos socialmente.
1
Em sua crítica ao tratamento dado pela psicanálise à questão da violência, Costa (1986) admite o
progresso da visão de Freud, que inicialmente a percebia como agressividade, depois como instrumento
para arbitrar conflitos e instaurar a lei, para finalmente apreendê-la como algo domesticável pela ação da
civilização, inclusive para a construção da paz. Para Freud, não existe um instinto de violência, mas um
instinto agressivo que pode coexistir com a possibilidade do homem desejar a paz ou empregar a guerra.
Comporta uma dimensão simbólica, responsável pelas medidas de repressão e, também,
pela tolerância, convivência e impunidade que se observa em relação à criminalidade.
Em particular, no que se refere aos crimes praticados contra a mulher na esfera familiar,
esta dimensão simbólica é construída pelo ordenamento de gênero tradicional, nas quais
se legitimam várias formas de opressão feminina.
Costa (1986) argumenta que é a partir do julgamento moral do individuo
que um gesto será qualificado como violência. Por exemplo, atitudes de indiferença,
agressão verbal (calúnia, injúria e difamação) ou até uma agressão física deixarão de ser
interpretadas como violência, se o sujeito que sofre a ação não perceber o desejo de
destruição na prática do agressor.
Violência é o emprego desejado da agressividade, com fins
destrutivos. (...) só existe violência no contexto da interação
humana, onde a agressividade é instrumento de um desejo de
destruição. Quando a ação agressiva é pura expressão do
instinto ou quando não exprime um desejo de destruição, não é
traduzida nem pelo sujeito nem pelo agente, nem pelo
observador como uma ação violenta. (...), pois o animal não
deseja, o animal necessita (Costa, 1986:30)
Dessa forma, a violência pode assumir uma conotação positiva quando a
mulher, resguardando sua integração a ordem tradicional de gênero2, cede à agressão do
companheiro para resguardar o “valor” de mulher vítima, submissa, sofredora e frágil
que alimenta a crença de que “pancada de amor não dói”. O sujeito sente “... prazer de
assegurar a posse dos predicados socialmente valorizados pela cultura. Estes
predicados compõem o sentimento de identidade do sujeito, que é tanto mais forte
quanto mais se aproxima do tipo psicológico ideal, culturalmente produzido” (Costa,
1986:33)
Os esquemas de valores, costumes e práticas que legitimam a violência
respondem pela noção naturalizada sobre a submissão da mulher. A violência assume
uma dimensão simbólica na medida em que traduz para o sendo comum um padrão
dominante de valores, costumes e práticas que ocultam os processos de dominação e
naturalizam as desigualdades. Como dimensão simbólica, a violência está associada ao
poder, uma vez que todo poder comporta uma dimensão simbólica, ou seja, obtém a
adesão inconsciente e a crítica dos dominados (Bourdieu, 1995). Nesse sentido, a
legitimação da violência está associada à idéia de poder de dominação de um indivíduo
ou grupo sobre outro. Ainda que pese nossas discordâncias às idéias de Bordieu (1995),
seu conceito de violência simbólica é bastante elucidativo:
2
A participação de homens e mulheres na manutenção da relação violenta ocorre para resguardar os
papéis de gênero tradicionais, suscitando a interiorização da violência como algo positivo. Sobre esta
análise ver a produção de Gregori (1993), Brandão (1998) e Saffioti (1997).
A violência simbólica institui-se por meio da adesão que o dominado não
pode deixar de conceder ao dominador (logo, à dominação), uma vez que ele não
dispõe, para pensá-lo ou pensar a si próprio, ou melhor, para pensar relação com ele,
senão de instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo a
forma incorporada da relação de dominação, mostram esta relação como natural; ou, em
outros termos, que os esquemas que ele mobiliza para se perceber e avaliar o dominador
são o produto da incorporação de classificações, assim naturalizadas, das quais seu ser
social é o produto (1995:41).
No pensamento de Arendt3 (1985), a violência é uma manifestação do
poder, tendo um caráter instrumental e estando a ele subordinado, pois necessita de uma
base de justificação no poder constituído: “tudo depende do poder por detrás da
violência” (1985:26). Para ela, o poder, pelo fato de pertencer ao grupo, não precisa de
justificativas, mas da própria legitimidade da sociedade. Por isso, na sua definição há
uma supremacia do poder sobre a violência:
Mesmo a dominação mais despótica de que temos
conhecimento, o domínio do senhor sobre os escravos (...) não
repousava em instrumentos de coerção superiores como tais,
mas em uma organização do poder mais aperfeiçoada – isto é,
na solidariedade organizada dos senhores. Homens isolados sem
outros que os apóiem nunca têm poder suficiente para fazer uso
da violência de maneira bem-sucedida. Assim, nas questões
internas, a violência funciona como o último recurso do poder
contra os criminosos e rebeldes - isto é, contra indivíduos
isolados que pode-se dizer, recusam-se a ser dominados pelo
consenso da maioria (Arendt, 1985:27).
Como a violência é vista como o último recurso do poder para manter a
estrutura vigente, a autora conclui que a violência é fruto da impotência. Em outras
palavras, a violência é um recurso fundamental para aqueles que estão ameaçados de
perder o seu poder.
Diz-se freqüentemente que a impotência gera a violência, o que
psicologicamente é verdadeiro, pelo menos quanto às pessoas
possuidoras de vigor natural, moral ou fisicamente.
Politicamente falando, a questão é que a perda do poder torna-se
uma tentação em substituir o poder pela violência... (Arendt,
19/85: 29-30).
3
Vale salientar que a1ª edição de sua obra Da violência data de 1970. Apesar de privilegiar uma análise
sobre a violência nos domínios da política, a autora aborda alguns aspectos da violência no âmbito das
relações pessoais e de parentesco.
A idéia de Arendt de que “a violência é a expressão da impotência” foi
desenvolvida numa abordagem feminista que articula o processo de exploração que
atinge a maioria dos homens no interior das relações sociais, e que para compensar o
massacre de que são vítimas nesse ordenamento social, os homens procuram resolver
seu sentimento de impotência demonstrando poder nas relações de gênero, praticando
atos de violência contra mulheres e crianças4.
Entretanto, temos que fazer uma ressalva a idéia de Arendt a respeito dessa
sua afirmação de que a violência seja o último recurso para manutenção de qualquer
forma de poder. Os estudos sobre a problemática da violência doméstica praticada
contra a mulher têm revelado que ocorre uma rotinização e cronificação da violência no
cotidiano familiar, funcionando como um recurso auxiliar e permanente, e não o último,
na legitimação do poder patriarcal. Melhor seria afirmar que, em face de qualquer
ameaça ao poder masculino ou a ordem de gênero dominante, a violência (seja ela
física, sexual ou emocional), se apresenta como um instrumento, muitas vezes o
primeiro, de manutenção da subordinação feminina.
A rigor, a violência de gênero constitui uma relevante
componente do poder masculino, já que se revela eficiente na
normatização das relações entre homens e entre adultos e
crianças. Neste sentido, poder-se-ia afirmar, invertendo o
raciocínio, que a violência [não é o último recurso do poder,
mas] se exprime através das relações de poder. WelzerLang vai
ainda mais longe, afirmando que ‘a violência é o primeiro modo
de regulação das relações sociais entre sexos na sociedade
francesa contemporânea’ (apud Saffioti, 1997:166).
O formalismo de Arendt (1985) foi criticado por Costa5 (1986:52), para
quem o poder só existe quando exercido. Para o autor, fora desta condição não existe
poder. E, uma vez que o poder instrumentalizado sempre exprime os interesses de
dominação, todo poder é violento. Não há poder sem violência. Se as normas e regras de
uma dada cultura são organizadas pelo poder dominante, fundado num conselho
ilusório, e como todo poder repousa, em última instância, na violência, é a violência que
funda a ordem sócio-cultural (Costa, 1986).
As agressões perpetradas contra as mulheres auxiliam na manutenção da
ordem de gênero dominante e igualmente encontram justificativas na legitimidade social
do poder patriarcal, pois que é expressão de um consenso criado em torno de valores e
hábitos nos quais se gestam a submissão feminina.
“... Os atos de violência são executados, em grande parte, por aqueles que tentam estabelecer seu amorpróprio, defender sua imagem e demonstrar que também são indivíduos significativos (...) a violência
assenta na exploração...” (May, 1981: 20/27 apud Saffioti & Almeida, 1995:43/45).
4
Para Chauí (1985:35), o exercício da violência também visa a manutenção da
relação de dominação, mas com uma das partes anulada, submetida à vontade da outra e
não totalmente destruída, no qual o sujeito violentado caracteriza-se pela inércia,
passividade e silêncio, donde não há possibilidade de luta.
A violência deseja a sujeição consentida ou a supressão
mediatizada pela vontade do outro que consente em ser
suprimido na sua diferença. Assim, a violência perfeita é aquela
que obtém a interiorização da vontade e da ação alheias pela
vontade e pela ação da parte dominada, de modo a fazer com
que a perda da autonomia não seja percebida nem reconhecida,
mas submersa numa heteronímia que não se percebe como tal
(Chauí, 1985:35).
As críticas feministas a este conceito, ainda que se reconheça a
caracterização de uma identidade feminina sem autonomia, submetida à vontade do
outro (pai, marido, filho, família e comunidade), a sujeição das mulheres adquire a
conotação de fatalidade, não vislumbrando as possibilidades da mulher sair daquela
situação6. Chauí (1985) não apreende as relações de poder desiguais entre homens e
mulheres e a feição transitória do poder, não localizado exclusivamente no domínio
masculino, mas também apropriado pelas mulheres, ensejando possibilidades de reação
feminina, como nos ensina Foucault.
Para Foucault (1993), o poder deve ser entendido como constelações dispersas
de relações desiguais, constituídas de discursos, saberes, linguagens e cultura, no âmbito
de diversas clivagens sociais e campos de forças. Para ele, o poder não pode ser pensado
como algo fixo e localizável num centro de poder, posto que se multiplica e penetra nas
relações para produzir dominação, gestando-se nos embates e conflitos.
5
É importante ressaltar que Costa (1986) admite o mérito de Arendt na sua proposta de diferenciação
entre poder e violência. Entretanto, sua crítica encontra apoio numa contradição da autora quando ela
nega a supremacia do poder sobre a violência, admitindo a vitória da violência sobre o poder num
episódio de terror: “A violência pode destruir o poder, mas é totalmente incapaz de criá-lo” (Arendt,
1985:132 apud Costa, 1986:52). Nesse Sentido, se a violência pode destruir o poder, podemos pensá-la
como recurso fundamental na manutenção ou transformação de qualquer relação de poder.
6
Gregori (1993) dirige sua crítica a dualidade autonomia/heteronomia. Já Saffioti (1994; 1995; 2002ª), ao
explicitar as desigualdades de poder entre os gêneros, desenvolve a argumentação de que as mulheres não
consentem, mas cedem em face da ameaça do poder masculino.
O poder transita de um pólo a outro e por isso comporta resistências7.
Nesse sentido, nos afastamos da posição defendida por Chauí (1985), uma
vez que exclui as possibilidades de reação e resistência dos dominados à violência
sofrida. Nos aproximamos de uma perspectiva foucaultiana, donde há os processos de
reação dos dominados em relações contraditórias e cristalizadas no aparato jurídicopolítico e nas hegemonias legitimadas no ideário cultural de uma sociedade.
A definição de violência apresentada por Costa (1986) consegue apreender
sua dimensão coercitiva - enquanto intimidação da força física ou constrangimento
moral de um ator sobre outro, associada à desigualdade de poder presente no conflito - e
sua dimensão simbólica - materializada na infração à lei ou a justiça por alguém que
deliberadamente rompe o contrato pelo abuso de força, sem cair numa perspectiva
determinista ou fatalista das relações de poder que aí comparecem. Aqui a lei ou
contrato refere-se ao direito do sujeito ocupar seu espaço na sociedade, respeitando-se
as diferenças sexuais, e possuir uma identidade compatível com sua história no contexto
das regras sócio-culturais.
Nesta acepção, a violência é definida não só como coerção, mas
simultaneamente como desrespeito à lei ou ao contrato.
Pressupõe-se, então, a existência de um uso arbitrário e gratuito
da força por parte do mais poderoso contra o mais fraco.
Violência é, antes de tudo, abuso de força, abuso de poder. A
representação indutora da violência é uma representação abusiva
que porta em si a patente do arbítrio e da gratuidade (Costa,
1986:95).
Dessa forma as violências praticadas contra as mulheres compreendem uma
dimensão coercitiva e simbólica, assentada nas relações de gênero dominates8. O
cenário da violência contra a mulher assume uma feição particular, uma vez que
apresenta como sujeitos homens e mulheres envolvidos em relações afetivo-sexuais
entre (ex) maridos, (ex) namorados ou (ex) companheiros no espaço doméstico.
“Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de correlações de força
imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que através de lutas e
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força
encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições
que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (Foucault,
1993:88-89).
8
A violência física, com as lesões corporais e o assassinato; a violência sexual, com os crimes de
estupro, atentado violento ao pudor e assédio sexual; passando pela violência moral/psicológica,
identificada nos crimes de honra (calunia, injuria e difamação) e gestos de ironia, humilhação verbal,
ameaça, intimidação. Que causam danos a objetos de valor afetivo e material da mulher, despertando
sentimentos de medo, insegurança e vergonha; até a violência simbólica presente no preconceito e
discriminação, enquanto uma expressão do abuso e das desigualdades de poder entre os gêneros
masculino e feminino.
7
No Brasil os dados da pesquisa “Justiça e Vitimização”, incluída na PNAD
de 1988 (IBGE) confirmam uma realidade que não surpreende as lentes mais
desinteressadas no assunto. Dentre as pessoas vítimas de agressão, 37% são homens e
63% são mulheres quando a violência acontece em casa. E conforme dados da comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) organizada no Congresso Nacional em 1992 pra
investigar a problemática da violência contra a mulher, mais de 50% dos casos de
estupro ocorreram no interior da própria família9. Pesquisas realizadas nos EUA
denunciam também que, em1992, aproximadamente 28% das mulheres vítimas de
homicídio foram mortas por seus maridos ou ex-maridos e namorados ou exnamorados, enquanto 3% dos homens vítimas de homicídio foram mortos por suas
esposas ou ex-esposas e namoradas ou ex-namoradas (Soares, 1999).
Os limites entre as esferas privada e pública precisam ser suficientemente
esclarecidos no debate sobre violência contra a mulher no espaço doméstico, sob pena
de privilegiar o viés subjetivista na interpretação da violência ou reduzi-la a uma
condição inerente à relação conjugal e ao domínio privado, frequentemente responsável
pelo verbete popular “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”.
A discussão remete às noções de esfera pública e privada, que têm suas
raízes históricas nas sociedades antigas. Conforme Arendt (2001), na Grécia antiga a
distinção entre as esferas pública e privada equivalia à distinção entre liberdade e
necessidade, mas ao mesmo tempo, na sua interdependência e reciprocidade. Por
exemplo, o homem somente adquiria sua liberdade e cidadania, situada exclusivamente
na esfera política, se garantisse a satisfação de suas necessidades, e isso dizia respeito à
família. Como assinala Arendt, “a vitoria sobre as necessidades da vida em família
constituía a condição natural para a liberdade na polis” (Arendt, 2001:40). Na polis
todos eram reconhecidamente iguais, mas na família podia fazer uso da violência
(subjugando escravos), para vencer a necessidade, e assim, alcançar a liberdade na
polis10.
Enquanto no mundo público todos são vistos e ouvidos por outros, no
mundo privado essa condição é negada, os homens são prisioneiros da sua própria
subjetividade e singularidade. Daí o termo “privado” aparecer definido em sua acepção
original como “privação”, condição na qual o indivíduo é “... destituído de coisas
essenciais à vida verdadeiramente humana: ser privado da realidade que advém do fato
de ser visto e ouvido por outros, (...) o homem privado não se dá a conhecer, e portanto
é como se não existisse” (Arendt, 2001:40). Assim, ao distinguir as esferas pública e
privada, Arendt (2001: 82) lembra que o domínio público refere-se ao “que deve ser
exibido” e a esfera privada diz respeito ao “que deve ser ocultado”.
9
Citados por Saffioti (1994; 1995)
As atividades exercidas no lar por escravos e mulheres estavam voltados para o atendimento das
necessidades básicas de sobrevivência, e, por esta razão, não eram dignas de adentrar à esfera pública.
Mulheres e escravos não tinham cidadania - eram mantidos fora das vistas alheias não só porque eram
propriedade de outrem, mas porque tinham uma vida “laboriosa”, dedicada às funções corporais.
10
Young (1987), na sua crítica a Arendt, afirma que a privacidade é o aspecto
da vida ou atividade que o indivíduo tem “o direito de excluir” dos outros. Mas, para
ela, o conceito feminista “o pessoal também é político” não nega a distinção entre
público e privado, mas nega uma divisão social entre as esferas pública e privada. A
partir desse conceito feminista, propõe, então, dois princípios: “(a) nenhuma instituição
deve ser excluída a priori como sendo a questão própria para discussão e expressão
pública; e (b) nenhuma pessoa, nem ações nem aspectos da vida de uma pessoa devem
ser forçados à privacidade” (Young, 1987:84).
Na verdade, as definições de Arendt (2001) não podem ser tomadas de
forma descontextualizada, como se fossem dadas por si mesmas. Apesar da autora não
desenvolver as distinções entre público e privado na modernidade11, consideramos sua
elaboração extremamente valiosa para entender o significado que a dimensão familiar
exerce na manutenção das relações de violência. A própria Arendt faz uma ressalva
quanto ao significado das noções público e privado, salientando que a tradição de
ocultar o aspecto da vida humana relacionado às necessidades vitais deve sofrer
transformações na era moderna, com a emancipação das mulheres e das classes
operárias.
Ao observar que os vestígios da noção tradicional de privação em nossa
civilização tem a ver com ‘necessidades’, Arendt (2001) nos permite entender a
dominação feminina, explicada a partir de um olhar naturalizado sobre o lugar da
mulher no mundo doméstico, na reprodução e nas tarefas voltadas à garantia da
sobrevivência do núcleo familiar. Nessa perspectiva, a violência praticada contra a
mulher encontra eco na visão negativa do privado como espaço das necessidades e
associado à mulher.
A noção do que o privado é o “que deve ser ocultado” ainda prevalece na
cena contemporânea, frequentemente expressa nos verbetes “roupa suja se lava em
casa” ou “entre quatro paredes vale tudo”, o que têm contribuído para o silenciamento
da sociedade e do Estado frente ao sofrimento e atos de violência vividos por mulheres,
crianças e idosos na intimidade dos lares.
Mesmo considerando que a noção de privado como “o que deve ser
ocultado” contribui para o silenciamento da violência contra a mulher, a perspectiva
11
Segundo Arendt (2001), no mundo moderno desaparece esse abismo entre a esfera da família e a esfera
política, pois ambas estão submetidas na esfera social. Entretanto, a civilização contemporânea da
sociedade de massas tem destruído as duas esferas, privado o homem do seu lugar no mundo e do seu
espaço no lar privado. Por isso, ela fala sobre o direito à privacidade, mas toma como parâmetro da
proteção à livre exposição pública, a mera condição do individuo como detentor da propriedade privada.
Então a esfera privada refere-se aquele espaço “... que deve permanecer oculto a fim de não perder sua
profundidade num sentido muito real e não subjetivo. O único modo eficaz de garantir a sombra do que
deve ser escondido contra a luz da publicidade é a da propriedade privada – um lugar só nosso, no qual
podemos nos esconder” (idem: 81) (grifos nossos).
deste estudo não admite que este seja um fenômeno intrínseco ao domínio doméstico ou
próprio das relações conjugais, pois entendemos que a problemática da violência contra
a mulher faz parte de um processo mais amplo de dominação/exploração do gênero
feminino. Trata-se de um fenômeno universal e milenar, com profundas raízes históricas
e informado pelo encontro de fatores sociais, culturais, econômicos e éticos referidos as
relações de gênero presentes nas relações sociais.
Nesse sentido, o enfoque das relações de gênero como um sistema de poder
resultante de um conflito social, com a consequente desvantagem para as mulheres
(Scott, 1990) permite apreender a violência contra as mulheres numa perspectiva ampla,
uma vez que desvela as relações de poder construídas entre homens e mulheres e sua
articulação com aspectos normativos, simbólicos, políticos, econômicos, institucionais e
subjetivos de determinada sociedade.
Sem negar a natureza anatômico-fisiológica das diferenças de sexo, o
gênero refere-se a dimensão cultural das diferenças entre o masculino e o feminino, em
que os valores e comportamentos destinados a homens e mulheres são construídos
socialmente a partir da percepção sobre a diferença biológica. Sendo assim, “o gênero é
o sexo socialmente construído” (Barbieri, 1993:04).
Scott (1990) recuperou as contribuições de Rubin (1979)12, que definiu o
sistema sexo/gênero no qual a construção social do gênero se dá sobre um corpo
sexuado13. Em Rubin (1979) a dominação masculina sobre as mulheres é produto de
relações sociais específicas que a organizam, portanto possui um caráter histórico e
mutável.
Scott (1990) incorporou as teorias de conflito e poder dos pós-estruturalistas
(Deleuze, Derrida e Foucault), no contexto das teorias da linguagem, em que a
construção da identidade de gênero é captada por meio da linguagem: na comunicação,
interpretação e representação. Sua definição de gênero apresenta como primeira
proposição a ideia de que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sócias
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos14, e o gênero é um primeiro
modo de dar significado às relações de poder” (1990:14).
12
A análise pioneira de Rubin (1979) submete a uma crítica feminista as teorias de Levis-Strauss sobre o
parentesco e a psicanálise na vertente Lacaniana. Fazendo incursões com o pensamento marxista, a autora
contextualiza a situação das mulheres nas relações sociais capitalistas, destacando a função do trabalho
doméstico no desenvolvimento do sistema capitalista, mas esclarece que a opressão das mulheres não
reside na sua utilidade no interior da divisão sexual do trabalho capitalista.
13
”Adoto como definição preliminar de um ‘sistema de sexo/gênero’: um conjunto de arranjos através dos
quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e na qual
estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (Rubin, 1979:02).
14
Diferentemente de Rubin (1979), aqui “... o vetor vai do social para o anatômico e não o inverso. Ou
melhor, o social engloba tudo, na medida em que o anatômico só existe enquanto percepção socialmente
modelada” (Saffioti, 1992:197). Portanto a ênfase é na percepção, interpretação, no universo simbólico.
A autora apreende as relações de gênero como processos interligados e não
separados, donde a subordinação das mulheres se constitui num começo ou recorte de
processos complexos. Por isso, compreende a gênese e a dinâmica das relações de
gênero a partir de quatro elementos, quais sejam: Símbolos Culturais; Conceitos
Normativos; Instituições e Organizações Sociais e Identidade Subjetiva, em que um não
opera sem o outro, mas não de forma simultânea, como um simples reflexo do outro
(Scott, 1990).
Nos Símbolos Culturais estão presentes as representações simbólicas,
muitas vezes de caráter contraditórias, como a oposição representada por Eva e Maria
como símbolo da mulher pecadora e santa. Os Conceitos Normativos ilustram as
interpretações dos símbolos expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas,
políticas ou jurídicas, que definem os valores e papéis opostos para o masculino e do
feminino, num contexto no qual prevalece um padrão em termos de valores15. Com as
Instituições e Organizações Sociais demonstra a necessidade de ampliar o debate sobre
os determinantes da condição feminina para além das relações de parentesco (restrito a
unidade doméstica ou a família como fundamento da organização social), incluindo
também as assimetrias de gênero presentes no mercado de trabalho, na educação e no
sistema político16. Com a Identidade Subjetiva demonstra o quanto o gênero é produto
das organizações e representações sociais historicamente situadas. É através desses
elementos que a sociedade constrói, mantém ou modifica as relações de gênero, tendo o
gênero um efeito sobre as relações sociais e institucionais, os valores culturais e
normativos e a subjetividade (Scott, 1990).
Na sua formulação, “o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por
meio do qual, o poder é articulado”, Scott (1990:16) recorre a Foucault para mostrar
que as relações de gênero são construídas na dinâmica social das relações de poder
partilhadas entre homens e mulheres. A apropriação da categoria “poder” em Foucault
(1993) concorre para a afirmação do gênero como categoria relacional, pois é nesse jogo
de forças que um gênero só existe em relação ao outro.
O processo de dominação e emancipação envolve relações de conflito e
poder entre homens e mulheres. Desprende-se daí que os homens não são os únicos
detentores de poder, as mulheres também têm parcelas de poder, que são
constantemente negociadas para ampliar sua condição de sujeito ou reforçar sua
subordinação. As mulheres agredidas também constroem sua subalternidade e
reproduzem padrões de violência, uma vez que na gramática de gênero há uma
hegemonia do poder masculino.
“A posição que emerge como dominante é, contudo, declarada a única possível. A história posterior é
escrita como se estas exposições normativas fossem o produto de um consenso social mais do que um
conflito” (Scott, 1990:15).
16
“O gênero é construído através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é construído igualmente na
economia e na organização política...” (Scott, 1990:15).
15
Dessa forma, enquanto um componente das relações de gênero, a violência
entre homens e mulheres denota que ambos dispõem de parcelas de poder - ainda que
prevaleça a hegemonia do poder masculino (Saffioti & Almeida, 1995) - que lhes
permitem manter e/ou desencadear a violência a fim de assegurar a tradição dos papéis
de gênero e a ordem patriarcal dominante, ou buscar romper e transformar as relações
de violência.
A construção desta perspectiva de gênero representou um salto acadêmico no estudo da
condição da mulher na sociedade17. Todavia, quando Scott prioriza a dimensão
discursiva da linguagem enquanto um sistema de significação, sob a máxima “sem o
sentido não há experiência...” (Scott, 1990:11-12), a ênfase na construção simbólicosocial de gênero recai no idealismo conceitual, negadora de uma perspectiva crítica e de
totalidade de análise das relações sociais. As significações atribuídas pelos indivíduos e
as realidades discursivas da consciência são produtos da existência, como ensina Marx e
Engels. A linguagem não é apenas instituinte, é também instituída pelo conjunto da
totalidade do ordenamento social (Saffioti, 1999a).
Apesar de Scott (1990) mencionar uma articulação entre os processos de
dominação de classe, etnia junto com o genero18, na sua abordagem não há espaço para
a intercessão entre gênero, classe e etnia nas relações concretas desta sociedade.
Conforme Rubin (1979), o gênero deve apontar para relações sociais, numa dialética
articulação com outras relações. Millet (aput Barbieri, 1993) já mostrava a
complexidade de analisar a subordinação das mulheres, atentando para a interseção das
dominações de gênero, classe e raça/etnia.
A violência contra a mulher é determinada primordialmente pelo gênero,
mas aspectos de ordem econômica e étnico/racial também interferem. Analisar a
violência de gênero numa perspectiva ampla e de totalidade significa perceber sua
imbricação às questões de classe e etnia. Os sujeitos sociais são constituídos de classe,
gênero, e etnia, e tais contradições se entrecruzam. Um sistema de dominação ora
profunda, ora potencializa o outro, ou seja, o nó formado pela imbricação desses
antagonismos agrava a condição de opressão experienciada pelo sujeito. Assumir uma
perspectiva feminista socialista (Saffioti, 1987; 1997; 1999ª; 2000) significa apreender
o cruzamento – o que difere de paralelismo – das contradições regidas pela simbiose
patriarcado-racismo-capitalismo, como um único sistema de dominação.
17
Com a perspectiva de gênero, negamos a naturalização da violência contra a mulher expressa na
fórmula mulher vítima/passiva e homem agressor/ativo, uma vez que rejeita o determinismo biológico e a
eterna dominação masculina/subordinação feminina expressa no patriarcado. Ainda que a condição de
classe influencie na manutenção da violência, uma vez que inibe algumas alternativas necessárias ao
rompimento da relação, a condição material - enfatizada pelo marxismo feminista dogmático - não é o
fator determinante da violência. Também nos afastamos de um ponto de vista que atribui a violência à
condição familiar, pois como vimos, os padrões de dominação são construídos no âmbito das relações
sociais, em que comparecem várias instituições.
“... o gênero deve ser redefinido e reestruturado em conjunção com uma visão de igualdade política e
social que inclui não somente o sexo, mas também a classe e a raça” (Scott, 1990:19).
18
Vislumbrar qualquer alternativa de emancipação feminina exige consolidar
um “feminismo socialista”, comprometido com a superação de todos os processos e
relações sociais que limitam o exercício da subjetividade (Castro, 2000). Esta violência,
enquanto expressão das desigualdades de gênero, é um exemplo concreto do efeito
produzido pelo entrecruzamento de gênero, classe e etnia na perpetuação das práticas
abusivas contra o sexo feminino.
Referências Bibliográficas
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001.
________. Da violência. Brasília: Unb, 1985.
BARBIERI, Teresita de. Sobre a categoria gênero: uma introdução teóricometodológica. Recife: SOS Corpo, set. 1993.
BOURDIEU, Pierre. A Dominação masculina. In: Revista Educação e Realidade.
Porto Alegre, V. 20, nº2, p. 133-184, jul./ dez. 1995.
BRANDÃO, Elaine R. Violência conjugal e o recurso feminino à polícia. In:
BRUSCHINI, C. & HOLLANDA, H. B. (Orgs.). Horizontes Plurais: novos estudos
de gênero no Brasil. São Paulo: FCC: ED. 34, p. 51-84, 1998.
CAMARGO, Márcia. Novas políticas públicas de combate à violência. In: BORBA, A..
FARIA, N. & GODINHO, T. (Orgs). Mulher e política - gênero e feminismo no Partido
dos Trabalhadores. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998.
CASTRO, Mary Garcia. Marxismo, feminismos e feminismo marxista – mais que um
gênero em tempos neoliberais In: Revista Crítica Marxista. São Paulo: Biotempo, nº
11, p. 99-108, 2000.
CHAUÍ, Marilena. Participando do debate sobre mulher e violência. Perspectivas
antropológicas da mulher. Rio de Janeiro: Zahar, nº 04, 1985.
COSTA, Jurandir Freire. Violência e psicanálise. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 11ª Ed. Rio de
Janeiro: Graal, 1993.
GREGORI, Maria Filomena. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações
violentas e a prática feminista. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: ANPOCS,
1993.
HELLER, Agnes. O futuro das relações entre os sexos. In: Mulher hoje. Civilização
Brasileira, nº 26 (esp), 1980. (Col. Encontros com a Civilização Brasileira).
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Nacional por amostra de Domicílios – PNAD / 1988, Consulta à internet no endereço
eletrônico: www.ibge.gov.br, data da consulta: 30 de agosto de 2003.
KOLLONTAL, Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. 4ª Ed. São Paulo:
Global, 1980. (Coleção bases, 6, Teoria)
LUCKÁCS, G. Ontologia do ser social: os princípios ontológicos de Marx. São
Paulo: Ciências Humanas, 1979.
MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, vol. 1, 1988.
__________; ENGELS, F. & LENIN, V. Sobre a mulher. Textos escolhidos. 2ª Ed.
São Paulo: Global, 1980.
__________. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. 2ª Ed.
São Paulo: Abril Cultural, 1978 (Coleção Os Pensadores).
MÉZÁROS, István. A libertação das mulheres: a questão da igualdade substantiva. In:
Para além do capital. São Paulo: Boitempo editorial/ editora da UNICAMP, p. 267310, 2002.
Revista Crítica Marxista. Dossiê Marxismo e Feminismo. São Paulo: Boitempo, nº 11,
p. 63-108, 2000.
RUBIN, Gayle. O tráfego de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo.
Recife: SOS Corpo – Gênero e Cidadania, 1979.
SAFFIOTI, Heleith I. B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero.
In: MORAES, Maria Lygia Q. & NAVES, Rubens (Orgs.) Advocacia pro bono em
defesa da mulher vítima de violência. Campinas/SP: Unicamp; São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado, 2002a.
__________. Violência contra a mulher e violência doméstica. In: BRUSCINI, C. &
UNBEHAUM, S. G. Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: ed. 34/
Fundação Carlos Chagas, 2002b.
__________. Quem tem medo dos esquemas patriarcais de pensamento? Revista
Crítica Marxista. São Paulo: Biotempo, nº 11, p. 71-75, 2000.
__________. O estatuto teórico da violência de gênero. In: SANTOS, J. V. T. Violência
em tempo de globalização. São Paulo: HUCITEC, 1999ª.
__________. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. In: São Paulo em
Perspectiva. Revista da Fundação SEADE. São Paulo, V. 13, nº 04, p. 82-91, out./ dez.
1999b.
__________. No Fio da Navalha: Violência Contra as Crianças e Adolescentes no
Brasil Atual. In: MADEIRA (Org.) F. R. Quem mandou nascer mulher. Rio de
Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, p. 135-211, 1997.
________ & ALMEIDA, Suely. S. Brasil: Violência, Poder, Impunidade. In: Violência
de Gênero: Poder e Impunidade. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
__________. Violência de Gênero no Brasil Atual. In. Revista de Estudos Feministas,
nº especial, 2º semestre, 1994.
__________. Rearticulando Gênero e Classe Social. In: COSTA, A. de O. &
BRUSCHINI, C. Uma Questão de Gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; São
Paulo: Fundação Carlos Chagas, p. 182-215, 1992.
__________. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987 (Coleção polêmica).
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Revista Educação e
Realidade. Porto Alegre, V.16, nº2, p. 5-22, jul./dez.1990.
SILVA, Marlise V. Violência contra a mulher: quem mete a colher? São Paulo:
Cortez, 1992.
SOARES, B. M. Mulheres invisíveis: violência conjugal e novas políticas de
segurança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
TOLEDO, Cecília. Mulheres: O gênero nos une, a classe nos divide. In: Marxismo
vivo. Revista do Koorbom. São Paulo, nº2, p. 77-92, out/ jan. 2001.
YOUNG, Íris Marion. A imparcialidade e o público cívico: algumas implicações das
críticas feministas da teoria moral e política. In: BENHABIB, S. & CORNELL, D.
(coords.). Feminismo como crítica da modernidade. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 1987.
ZALUAR, Alba. Um debate dispersivo: violência e crime no Brasil da
redemocratização. In: São Paulo em Perspectiva. Revista da Fundação SEADE, v.13,
nº3, 1999.
Uma reflexão ética sobre a promoção da proteção integral de
crianças e adolescentes
Gabriella Ferreira de Araújo*
Gizely Couto de Lima**
Maria Rosane Martins**
“O importante é que cada individuo tenha a oportunidade de evoluir partindo das
raízes do seu próprio ser” (Chaudhur).
Um novo conceito
Mesmo em tempos contemporâneos, a situação em que se encontram muitas
crianças e adolescentes no Brasil, e no mundo, nos conduz a uma reflexão da
antieticidade acerca da realidade em que vivem as novas gerações.
É verdade que muito já se alcançou juridicamente em termos de garantias de
direitos voltados para à infância e à adolescência, o maior exemplo disto é o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, que configura-se, atualmente, para a sociedade
brasileira como o principal instrumento de garantia do bem-estar social pleno de sua
população infanto-juvenil; mas, é também verdade que tais garantias, na maioria das
vezes, permanecem tão somente em um patamar teórico, deixando lacunas na efetivação
dos direitos fundamentais.
Trata-se, portanto, de encarar sob um novo prisma, no que concerne à
história da criança e do adolescente, esta população como cidadãos, sujeitos de direitos
em condições especiais de desenvolvimento, expressando, com isto, a necessidade de
direcionar a este público alvo atenção prioritária e absoluta.
Ficam responsáveis, assim, o Estado, a sociedade e a família, de acordo com
os parâmetros da Constituição Federal de 1988 (art.227), o qual o ECA regulamenta ao
efetivar a Doutrina de Proteção Integral. O artigo 3º do ECA é claro e específico quando
preconiza que:
* Graduanda em Serviço Social pela UFPE (7º Período), bolsista de iniciação científica e membro do
GEPE.
**Graduandas em Serviço Social pela UFPE (5º Período), bolsistas de iniciação científica e membros do
GEPE.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Breves antecedentes históricos da situação da criança e do adolescente
no Brasil
Conhecer o passado das crianças e dos adolescentes brasileiros é uma
importante ferramenta para analisar e consequentemente compreender a formulação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual explicita a Doutrina de Proteção Integral
como um novo paradigma jurídico dentro da área da infância e da adolescência.
O panorama histórico que auxilia na compreensão de toda a trajetória da
criação dos mecanismos e instrumentos voltados para atender às crianças e adolescentes
pode ser vislumbrado desde a época da colonização do Brasil. Neste período, a atenção
voltada para crianças e adolescentes resumia-se à catequização realizada pelos jesuítas
dos meninos e meninas indígenas e ao amparo dado pela Igreja Católica àquelas que se
encontrassem em situação de abandono e marginalização. Muito importante dizer que o
abandono de crianças no Brasil se dá com o advento da colonização do país, com a
mistura étnica entre indígenas e portugueses. Estes, ao se relacionarem com as índias
brasileiras, engravidavam-nas e não reconheciam os bebês concebidos nestas relações
como seus filhos legítimos. Este fato, portanto, originou a questão do abandono de
crianças no Brasil.
Após a independência política do Brasil, a partir de 1823, as primeiras leis e
instituições começaram a surgir, ainda que de forma tímida. Na constituinte deste
mesmo ano, não houve grandes preocupações com a criança, em especial a negra, já que
o modo de produção da época era baseado na escravidão. José Bonifácio, justificava a
idéia de que a mulher escrava permaneceria ao lado de sua cria durante o primeiro mês
após o nascimento da criança, idealizando, com isso, dar continuidades ao sistema
escravista.
Em 1871, com o decreto da Lei do Ventre Livre (Lei 2040), que declarava
livres os filhos de mulher escrava nascidos daquela data em diante, foram apresentadas
duas alternativas para os senhores de escravos: libertar as crianças, deixando-as
abandonadas e sendo por isso ressarcidos pelo Estado ou deixar as crianças sob a
autoridade dos senhores os quais seriam recompensados mediante trabalhos forçados
das crianças até a idade de 21 anos. Nesta época, não havia ainda reconhecimento, por
parte do Estado, da problemática da criança e do adolescente como sendo uma questão
social.
A Proclamação da República em 1889, veio enfatizar, no âmbito nacional,
reações sociais, políticas e econômicas, que deram margem para a proteção e assistência
à criança carente, visando mudar o atendimento aos menores, que no período colonial e
no império era feito de forma caritativa e filantrópica.
Mas é só no início do Século XX que um fato importante vem mudar este
cenário: um grande fenômeno de explosão demográfica mexe não somente com a
pirâmide etária nacional, mas também com a forma que crianças e adolescentes passam
a ser encarados no país, uma vez que, nesse período, o número de pessoas com menos
de 19 anos de idade representava mais da metade da população (CONANDA, s/d).
Urgia, diante desse contexto, uma tomada de atitude por parte do Estado. Os
primeiros movimentos populares da época começaram a cobrar a devida assistência a
este segmento populacional, agora ainda mais relevante no contexto sócio-econômico
do país. Em resposta a esta agitação social, foi apresentado em 1906 o 1º projeto de lei
que versava sobre a assistência e proteção voltadas à infância e à juventude.
Apesar da problemática exigir eticamente uma resolutividade eminente,
passaram-se vinte anos para que só em 1927 o primeiro Código de Menores (DecretoLei 17.943) viesse a ser promulgado. No entanto, vale salientar que muito embora este
Decreto Lei tenha sido homologado, as mazelas relacionadas às nossas crianças e
adolescentes não foram eliminadas, uma vez que as medidas estabelecidas no mesmo
possuíam um caráter extremamente discriminatório, coercitivo e repressor, obedecendo
uma lógica biopsicossocial na qual a criança era vista como deslocada do meio social.
Ainda na esfera constitucional, no ano de 1934 se regulamenta a proibição
do trabalho aos menores de 14 anos de idade, exceto com ordem judicial; e em 1937, na
esfera de proteção à criança, firma-se a tarefa do Estado de cuidar dos casos de carência
desde a infância. Salientamos, portanto, que apesar de existir estas leis de proteção ao
trabalho infantil, não havia o cumprimento das mesmas.
A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969, em relação à
legislação anterior, simbolizaram para a assistência das crianças um regresso, uma vez
que diminui para 12 a idade mínima de iniciação ao trabalho e também porque a
educação obrigatória e gratuita só era dever do Estado para com crianças de 7 a 14 anos.
É importante situar que neste período o país passava por um regime ditatorial, assim,
fica fácil entender a repressão e o atraso em relação aos direitos sociais.
Durante sessenta anos, o Código de Menores foi utilizado como o
instrumento de referência para tratar as questões pertinentes à infância e à adolescência,
quando em 1979 sofreu uma reformulação, passando a introduzir em sua essência a
Doutrina da Situação Irregular:
(...) a lei existente se referia aos menores”, que estavam numa
“situação irregular”. Situação irregular ou porque eram carentes
e/ ou abandonados – e por isso precisavam da Proteção do
Estado - , ou porque eram infratores e não se adaptavam à
sociedade – e por isso precisavam da vigilância do Estado. Esta
vigilância era responsabilidade do Juiz de menores”. (...) a lei
não era universal, não era destinada a toda população com idade
inferior a 18 anos (CEDCA/PE, 2002ª).
Apesar deste código registrar avanços em comparação ao de 1927, pontuase nele alguns fatos que permitem contestações, como a existência da prisão cautelar
para o menor que seria acometido para supostas verificações, tendo, no entanto, seus
direitos infringidos. Mesmo reformulado, o 2º Código de Menores ainda estava
impregnado pela lógica dos anos 60, insistindo na caracterização da criança pobre como
menor.
A década de 1980, conhecida como um período em que o engajamento dos
movimentos sociais na luta pela redemocratização do país tornou-se marcante, serviu
também de palco para os debates das reavaliações das políticas voltadas para as crianças
e os adolescentes. Este processo ocorreu ao mesmo tempo em que se discutia e se
construía a nova Constituição Federal, que veio a ser aprovada em 05 de Outubro de
1988.
É nesta época também que se dá um dos eventos mais importantes dentro da
área da infância e adolescência: a Convenção Internacional dos Direitos da Criança,
realizada pela Organização das Nações Unidas – ONU. A realização desta Convenção
teve um registro de grande relevância pois “foi precisamente este instrumento que teve
o mérito de chamar a atenção, tanto dos movimentos sociais quanto do setor mais
avançado das políticas governamentais, acerca da importância da dimensão jurídica no
processo de luta para melhorar as condições de vida da infância” (MÉNDEZ, 1998:34)
Desta forma, os princípios e valores que deram norte à ação dos
movimentos sociais da época, acabaram por influenciar na construção da Constituição
Federal de 1988; prova disto é o artigo 227 da Carta Magna que reza especificamente
acerca das crianças e adolescentes:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração.
Este artigo pode ser considerado um marco dentro da história da política
para a infância e a adolescência no Brasil. O que antes tinha um caráter meramente
filantrópico, baseado em métodos assistencialistas, agora passa a ser visto como política
pública baseada em direitos.
Observando mais minuciosamente o artigo supra citado, valemo-nos da
análise de Costa (1996), que divide o artigo 227 da Constituição em três aspectos
principais:
“A primeira parte refere-se à sobrevivência – o direito à vida, à
saúde e à alimentação.” Não se faz necessário discorrer muito
acerca desta primeira divisão, uma vez que ter direito à vida,
gozando de saúde plena e podendo ter o essencial para
alimentar-se, eticamente é um princípio universal. Negar estes
direitos básicos é negar a oportunidade de existência.
“A segunda parte é relativa ao desenvolvimento pessoal e social
– o direito que o indivíduo tem de desenvolver potencialidades
que trouxe consigo ao nascer: o direito à educação, à cultura, ao
lazer e profissionalização.” Aqui, reside a problemática do
“privilégio”, pois, no Brasil, “o simples fato de nascer indígena
ou branca, de viver na cidade ou no campo, de nascer no sul ou
no norte, de ser menino ou menina, de ser filho de mãe com
baixa ou alta escolaridade e de ter ou não alguma deficiência,
determina as oportunidades que uma criança terá logo nos
primeiros anos de vida” (Reiko, 2003) .Desta forma, para que
possam desenvolver suas potencialidades, muitas vezes
precisam contar com a “própria sorte”, pois o sistema capitalista
excludente não oportuniza a todos ter acesso aos bens e serviços
que garantem a aquisição do conhecimento.
“A terceira parte refere-se ao respeito à integridade física,
psicológica e moral – direito à dignidade, à liberdade e a
convivência familiar e comunitária. Inclui-se nesta parte o
direito da criança e do adolescente de ser colocado a salvo de
toda forma de negligência, discriminação e exploração,
violência, crueldade e opressão.” Além da garantia dos direitos
básicos e essenciais, é assegurado também a criança e ao
adolescente a perspectiva de emancipar-se na sociedade. Para
tanto, torna-se imprescindível que valores éticos como a
igualdade e a justiça, estejam bem enraizados socialmente,
contribuindo, desta maneira, para dirimir qualquer forma de
preconceito e/ou desrespeito.
Depois da promulgação da Carta Magna em 1988, foi aprovado no
Congresso Nacional Brasileiro, em 13 de Julho de 1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei 8.069), que regulamenta o artigo constitucional acima citado e
apresenta uma nova proposta de política de atendimento e medidas de proteção
relacionadas à infância e à adolescência. A criação deste Estatuto é um dos maiores
avanços no campo jurídico, além de configurar-se também como uma conquista ética,
afinal, são os princípios éticos que dão fundamentação para que o direito e as normas
sejam implementados. Os avanços que o Estatuto traz em relação aos antigos Códigos
de Menores são inúmeros. As vantagens podem ser vislumbradas desde a forma de
adolescentes até como vêm sendo de fato executadas.
O ECA encontra-se dividido em duas partes. Na primeira elencam-se os
direitos fundamentais da infância e da adolescência, incluindo a garantia e
regulamentação para que seja implementado o conjunto de conquistas expressas no
artigo 227 da Constituição Federal. Esta parte corresponde aos artigos 1º ao 85. Na
segunda, está definida a política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, esta, última, também denominada de “Parte Especial”, corresponde aos
artigos 86 ao 267. Mais adiante voltaremos a abordar acerca desta parte especial do
Estatuto.
Esta retomada histórica buscou de forma sintética, facilitar a compreensão
da transferência gradual do paradigma da “Doutrina da Situação Irregular” para o da
“Doutrina da Proteção Integral”. Cabe-nos agora, levantar alguns aspectos das políticas
sociais voltadas para as crianças e os adolescentes que configuram-se na atual
conjuntura e analisar com maiores detalhes as propostas de direito e defesa
estabelecidos no ECA.
Reavaliando as políticas sociais
O desenvolvimento da cidadania percorreu diversos caminhos através de
marcos históricos importantes, como as Revoluções Americana e Francesa e todas as
lutas trabalhistas ocorridas ao longo do tempo, até alcançar etapas que se caracterizam
na conquista dos direitos civis, políticos e sociais. Neste último, deve ser enfatizada a
vinculação do Estado aos setores sociais, entre os quais fica estabelecido para o Estado,
a responsabilidade, o compromisso de cumprir com a garantia de recursos essenciais
para o desenvolvimento, subsistência e dignidade dos indivíduos.
Nesse sentido, a máquina estatal opera sobre as demandas da sociedade
através das políticas sociais, que funcionam como dispositivo de implementação dos
direitos fundamentais. Estas políticas estão divididas em dois hemisférios de atuação: o
das políticas sociais básicas – referentes ao conjunto das necessidades elementares da
população, portanto, de caráter universal; e o das políticas de assistência social, que
abrange os pontos mais críticos de enfrentamento da questão social, atendendo, pois,
aqueles que se encontram à margem das condições dignas de cidadania.
É no segundo hemisfério – o das políticas de assistência social – onde está
inserida a parcela da população mais atingida pelas práticas perversas do processo de
produção capitalista, que fomenta a exploração e as desigualdades sociais, rebaixando
seres humanos a condições degradantes e humilhantes.
A conjuntura social nacional amplia cada vez mais a degradação sistemática
das condições de vida nos segmentos sociais, o que se agrava com o redimensionamento
das políticas sociais setoriais, as quais vêm assumindo gradativamente um perfil
focalista, seletivo e residual, do ponto de vista organizacional, contribuindo para uma
visão cada vez mais fragmentada da sociedade e servindo como instrumento de
reprodução da lógica do Estado mínimo, se distanciando, com isso, do seu papel de
ampliação dos direitos sociais.
O Brasil ostenta hoje, sob a égide do capital, o 11º lugar no campo
econômico mundial; entretanto, carrega consigo uma das maiores marcas das
contribuições produzidas pelo capitalismo: ocupar a colocação de 2º país que apresenta
maior contraste social.
Manifestações no campo das relações sociais denunciam o rebatimento
direto destas questões no cotidiano dos indivíduos. Tal posição requer cada vez mais um
equacionamento ético e político no quadro estrutural do país, capaz de estabelecer
mudanças que imprimam, positivamente, os direitos de pessoa humana e de cidadania
na vida da população marginalizada.
Diante dessa situação excludente e injusta, encontram-se crianças e
adolescentes, que têm constantemente seus direitos ameaçados pelo modelo político e
sócio-econômico de um país como o Brasil, que empurra a população para situaçõeslimite, tais como desemprego, falta de habitação e saneamento básico, de saúde,
educação, alimentação e nutrição.
O amparo destinado ao público infanto-juvenil está previsto no Livro II do
ECA – Parte Especial, o qual fundamenta a prática de uma política de atendimento
universal direcionada a esta população. Esta política deve ser entendida como uma
reunião de ações integradas, capazes de demandar respostas às necessidades da infância
e da adolescência. Na criação destas ações devem estar em sintonia os setores
governamentais, não-governamentais, e, sobretudo, a participação da população, no
processo de decisão para formulação de políticas públicas tendo em vista o bem-estar
social e pessoal das crianças e adolescentes.
Para execução da política de atendimento são descriminadas no artigo 87 do
ECA, linhas de ação que se caracterizam como vias articuladas, estritamente
relacionadas, visando oferecer atendimento absoluto aos sujeitos de direitos em
condição peculiar de desenvolvimento. Segue-se uma trilogia das linhas de ação que
formam a política de atendimento. São elas: as políticas sociais básicas, destinadas a
atender todas as crianças e adolescentes; a política de assistência social, direcionada às
crianças e adolescentes em situação de necessidade e a política de proteção especial,
comprometida em prestar atenção a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal
e social (vitimizados e autores de ato infracional).
Estas linhas de ação da política de atendimento tomam como norte central a
Constituição Federal de 1988, que preconiza todos esses direitos nas Leis nº 8080/90
(Sistema Único de Saúde – SUS), nº 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS) e nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases – LBD). Todas essas diretrizes legais
encaminham à sociedade em geral para o cumprimento legítimo desses direitos, os quais
se tornam prioritários no tocante à criança e ao adolescente.
Faz-se necessário discorrer um pouco mais sobre a atmosfera dessa estrutura
responsável pela ampliação da situação de risco, que se constitui como um desafio que
conclama toda a sociedade para a luta pela implementação das garantias legais de
proteção infanto-juvenil.
Primeiramente, não podemos desvincular esta análise estrutural e seus
rebatimentos nas condições de vida das famílias que são o ambiente de nascimento,
crescimento e desenvolvimento de meninos e meninas, visto que é esta esfera da
sociedade (a família) o locus principal de reprodução e formação desta parcela
expressiva da população nacional.
Os indicadores sociais revelam a necessidade do Estado intervir diretamente
neste âmbito, a fim de atender as demandas da população de forma mais abrangente, o
que implica, portanto, na formulação de políticas sociais eficientes, eficazes e,
sobretudo, universais que contemplem a promoção e defesa de todos os direitos.
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (1999), totalizou 160 milhões de habitantes no país, sendo 57,6 milhões crianças
e adolescentes. Deste número, mais de 9 milhões de crianças vivem em família cuja
renda é equivalente a menos de US$ 41,90 por mês. Quanto à renda, apenas 8,9% está
concentrada nas mãos dos 40% da população mais pobre, ao passo que 13,9% da renda
pertence a 1% da população. Cerca de 50 milhões de pessoas, o correspondente a 32%
da população, recebe até US$ 2,00 por dia (0,71% do salário mínimo). Em situação
mais calamitosa estão 21,4 milhões de pessoas (13,9% da população), as quais se
encontram classificadas abaixo da linha da pobreza, tentando sobreviver com apenas U$
1,00 por dia (0,35% do salário mínimo) (IPEA, 2000).
Nessas circunstâncias, nascem 3,3 milhões de bebês por ano, contudo, um
milhão deles (34,6%) não chega a ser registrado, 57 mil (1,7%) morrem na primeira
semana de vida, 120 mil (3,5%) no primeiro ano e 140 mil (4,2%) nos primeiros cinco
anos. Cinco mil mulheres não sobrevivem ao parto, 700 mil crianças nascidas na rede
pública de saúde são filhos de meninas entre 10 e 18 anos e 14% das adolescentes na
faixa etária de 14 a 19 anos têm pelo menos um filho (UNICEF, 2000).
Os que conseguem sobreviver se defrontam com uma realidade cruel. De
acordo com os dados do IPEA (2000), 91% das crianças de 0 a 3 anos não freqüentam
creches e 42% das crianças de 4 a 6 anos não estão inseridas em escolas de educação
infantil; dos meninos e meninas entre 7 e 14 anos (1,9 milhão, 7%) estão fora das salas
de aula; e dos adolescentes entre 15 e 17 anos (2,2 milhões, 21,5%) estão fora da escola
(IBGE, 1999). O nível de escolaridade não é dos melhores: 1,8 milhão de jovens são
analfabeto e somente 18,4% dos adolescentes entre 15 e 19 anos possuem mais de 08
anos de estudos (UNICEF, 2000).
Como agravante desta situação temos ainda a problemática do trabalho
precoce. Em nosso país 6,5 milhões de crianças e adolescentes entre 05 e 17 anos são
trabalhadores, utilizados como mão-de-obra barata e transformados em objeto de
exploração do capital. Sem falar que todos os anos pelo menos 30 mil adolescentes são
privados de liberdade.
Estes índices estatísticos apontam para níveis que revelam a aguda
pauperização das famílias, o que afeta diretamente a realidade da população infantojuvenil. “Os dados disponíveis sobre a situação das crianças e dos adolescentes
brasileiros ainda demonstram uma verdadeira apartação entre as conquistas jurídicas
institucionais e a eficácia das políticas sociais para efetivar direitos e proteção integral”
(CONANDA, s/d). A qualidade de vida oferecida no campo social confronta
barbaramente com as expectativas dirigidas para a proteção humana da infância e
juventude do país, visto que o espaço por elas acampado é o da segregação social.
Todos esses aspectos se constituem em vetores que vulnerabilizam e
expõem a criança e o adolescente à situação de rua, violência sexual, negligência, maustratos, envolvimento com drogas, trabalho precoce, prática de ato infracional, entre
outras expressões de violência contidas na realidade do mundo infantil e juvenil. Frente
a esses fatores, convém diante de uma ótica ético-política, estabelecer diretrizes
profundas, as quais englobem a supressão dessas vias negativas que têm como
fundamento a injustiça e a reprodução da desumanidade.
As mobilizações sociais dos anos de 1970/80 que resultaram na
Constituição Federal de 1988, abriram portas para o debate democrático no país, dando
novos direcionamentos ao universo das políticas sociais.
O desenvolvimento do Estado durante esses últimos anos, após a
promulgação da Carta Magna, apresentou uma série de mudanças e transformações no
que consiste ao enfrentamento da questão social.
Contudo, o problema clássico da escassez ou inexistência dos
recursos para financiamentos das políticas sociais, somado às
históricas dificuldades como a centralização política e
administrativa, a desarticulação de programas e ações, o desvio
de recursos, entre outras, revela a complexidade da realidade
brasileira (CONANDA, s/d).
Em relação às crianças e adolescentes, com o advento do Estatuto da
Criança e do Adolescente, ocorreu uma reorganização da ordem institucional, na qual
foram criados órgãos responsáveis pela implementação de políticas públicas tais como
os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares e os
Conselhos Setoriais de Políticas Públicas. Comprometidas com uma proposta de
transformação e mudança nas relações sociais que visam a proteção infanto-juvenil,
essas instituições trabalham sob um comando intersetorial, complementar e integral
objetivando a articulação de um Sistema de Garantias de Direitos capaz de “(...) permitir
a construção coletiva de categoria política estratégica, de sua ação para assegurar
sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação de todas as crianças e
adolescentes” (CONANDA, s/d).
Este sistema de garantia de direitos só poderá ser implementado na íntegra,
à medida que a essência da Doutrina da Proteção Integral for incorporada às práticas
sociais.
Enquanto isso não for legitimado, crianças e adolescentes continuarão sendo
negligenciados, descriminados, explorados, violentados, além de sofrerem crueldade e
opressão. Entram, portanto, esses fatos em choque com o que está expresso claramente
no artigo 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que ocorra a
violação dos direitos da criança e do adolescente, uma construção inversa do que está
legislado não só neste artigo, mas em todo o ECA.
O desafio que se coloca, portanto, é afastar todas as questões que se
posicionam como obstáculos, como transgressão dos direitos garantidos, porém não
efetivados na sua plenitude. Logo, é preciso respostas eficazes do Estado, da sociedade
e da família. A resposta do Estado mediante o referido desafio deve ser dada ao colocar
em prática políticas sociais, implementando o conjunto de todas as necessidades da
infância e da juventude. Com relação à sociedade, cabe desempenhar seu papel
cobrando do Estado a efetivação das mudanças de ordem institucional, se fazendo
participar na elaboração das políticas, fiscalizando e questionando as mesmas, bem
como denunciando atos e omissões que não se enquadrem na Doutrina de Proteção
Integral. Já a família, pode dar sua resposta afirmando a responsabilidade de prover as
necessidades físicas e emocionais da criança e do adolescente configurando no âmbito
familiar a interação entre os fatores psicológicos, socioeconômicos e culturais do ser em
desenvolvimento.
Diante desse ponto de vista, podemos encarar como maior desafio o
exercício de fazer com que seja incorporada em nosso cotidiano, a concepção de que a
Doutrina de Proteção Integral a crianças e adolescentes perpassa o ângulo da questão
teórica e mergulha no cerne da questão ética, que remete ao direito legítimo de meninos
e meninas viverem como seres livres e iguais, numa sociedade pautada pelos princípios
da justiça e da equidade.
Referências Bibliográficas
AMCHAM – Câmara Americana de Comércio de São Paulo. Consulta à internet no
endereço eletrônico: www.amcham.com.br/update/update2003-10-09_dtml, data da
consulta: 17/12/2003.
BOMTEMPO, Denise. Criança e Adolescente. In: CEFESS/ABEPSS/CEAD
Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 03, Brasília UNB, 2000. P.
183-202
BONETTI, Dilséa Adeodata et. Alli. (orgs). Serviço Social e Ética: Convite a uma
Nova Práxis. 4ª ed., São Paulo, Cortez, 2001. P. 21-31.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Lei nº 8.069, de 13-07-1990,
Editora Atlas, São Paulo.
CDCA/PE – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Caderno nº 4, Conselho de Direitos – Base para o Exercício de suas Atribuições,
2002a. P. 11-13.
__________Caderno nº 3, Conselho de Direitos – Base para o Exercício de suas
Atribuições, 2002b. p. 11-34.
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diretrizes
Nacionais para a Política de Proteção Integral à Infância e à Adolescência, 20012005. s/d.
COSTA, Antônio Carlos Gomes. Infância, Juventude e Política Social no Brasil. In:
Brasil Criança Urgente. Coleção Pedagogia Social (V.1) 1. ed. São Paulo, Columbus,
1989. P. 35 – 57.
DIMENSTEIN, Gilberto. O Cidadão de Papel: a Infância, a Adolescência e os
Direitos Humanos no Brasil. 1ª ed. São Paulo, Ática, 1998. p. 25 – 36.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Pesquisa
Nacional por amostra de Domicílios – PNAD / 1999, Consulta à internet no endereço
eletrônico: www.ibge.gov.br , data da consulta: 30 de agosto de 2003.
IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Consulta à internet
no endereço eletrônico: www.ipea.gov.br, data da consulta: 30 de agosto de 2003.
MÉNDEZ, Emílio Garcia. Infância e Cidadania na América Latina. Tradução de
Ângela Maria Tijiwa. 1ª ed. São Paulo, Hucitec / Instituto Ayrton Senna, 1998. P. 36 –
36 / 112 – 112.
PASSETI, Edson. Crianças Carentes e Políticas Públicas, In: PRIORE, Mary Del. (org).
História da Criança no Brasil. 2ª ed. São Paulo, Contexto, 2000. p.347-375.
REIKO, Niime. Anais do I Seminário Criança Esperança sobre Igualdade na
Diversidade, Brasília. 2003.
TITO, Ronan. A Justificativa do Estatuto. In: Brasil Criança Urgente. Coleção
Pedagogia Social (V. 1) 1ª ed. São Paulo, Columbus, 1989. p. 23-28.
UNICEF. Relatório UNICEF sobre Crianças e Adolescentes / 2000. Consulta à internet
no endereço eletrônico: www.unicef.com.br, data da consulta: 30 de agosto de 2003.
VERONESE, Josiane Rose Petry. Temas de Direito da Criança e do Adolescente. 1ª
ed. São Paulo: LTR, 1997. p. 9-18 / 45-52.
__________Interesses Difusos e Direitos da Criança e do Adolescente. 1 ª ed. Belo
Horizonte, Del Rey, 1996. p. 87-96.