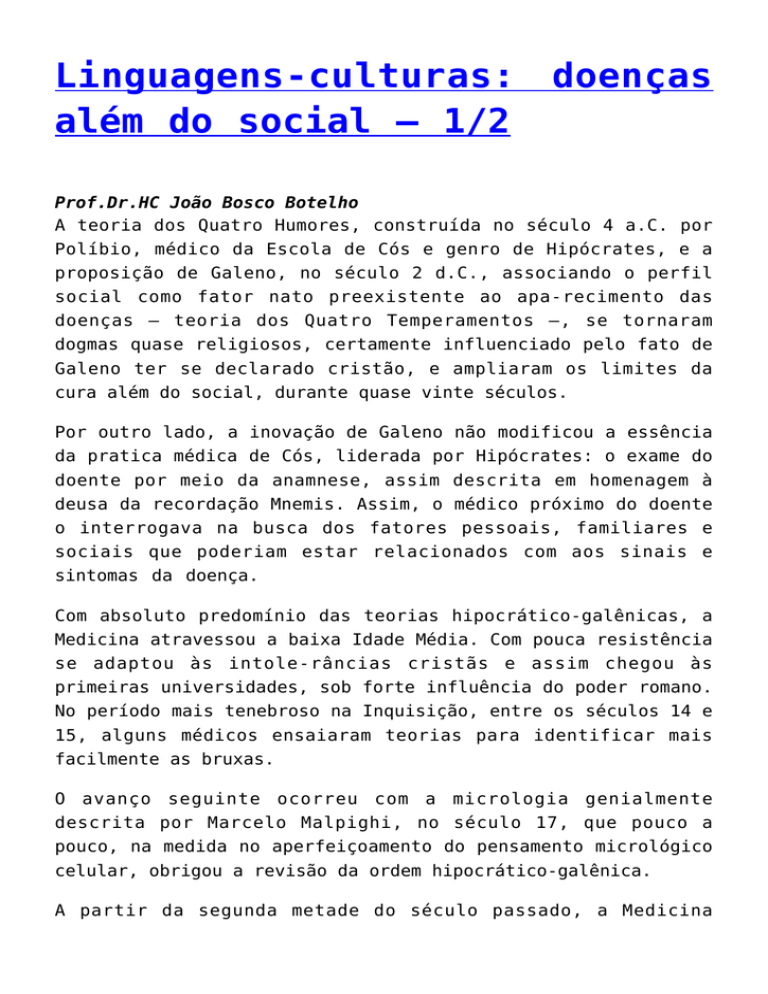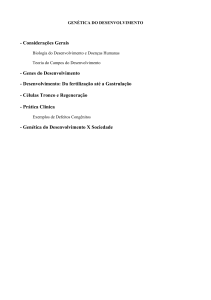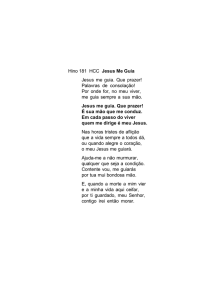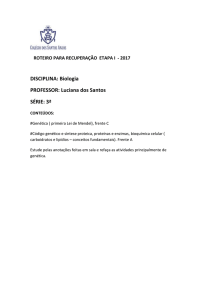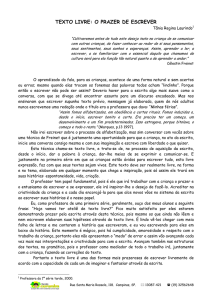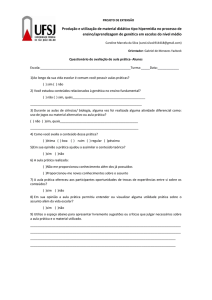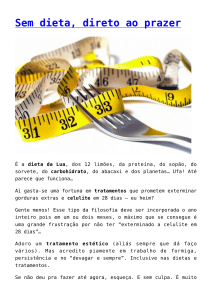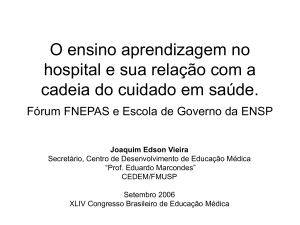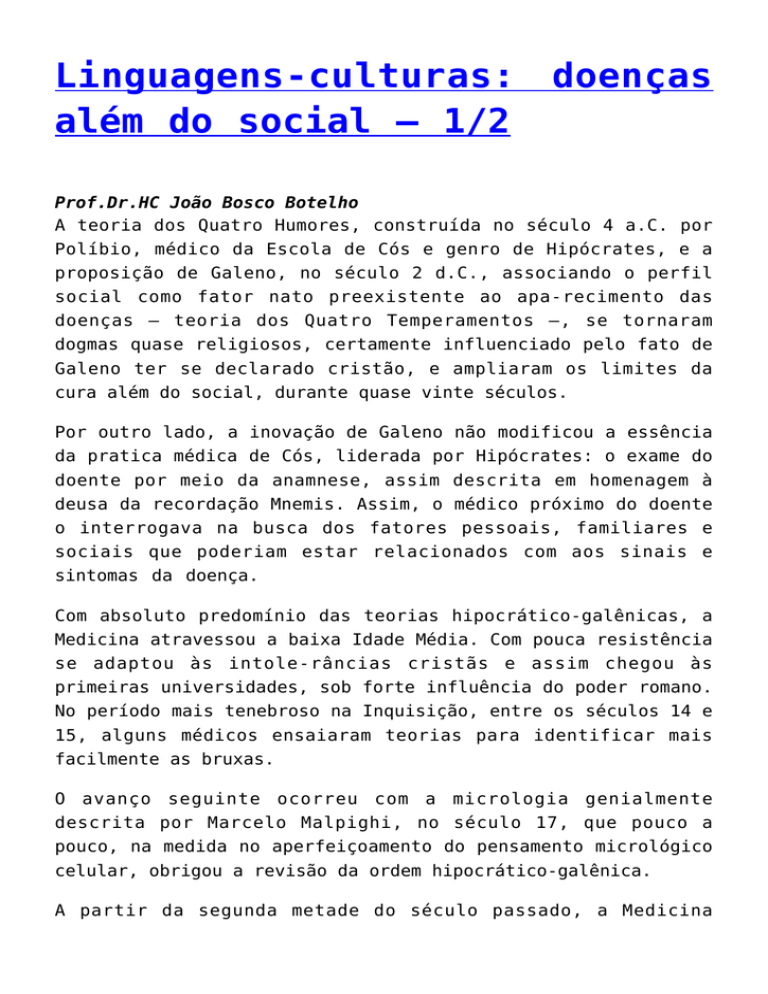
Linguagens-culturas: doenças
além do social – 1/2
Prof.Dr.HC João Bosco Botelho
A teoria dos Quatro Humores, construída no século 4 a.C. por
Políbio, médico da Escola de Cós e genro de Hipócrates, e a
proposição de Galeno, no século 2 d.C., associando o perfil
social como fator nato preexistente ao apa-recimento das
doenças — teoria dos Quatro Temperamentos —, se tornaram
dogmas quase religiosos, certamente influenciado pelo fato de
Galeno ter se declarado cristão, e ampliaram os limites da
cura além do social, durante quase vinte séculos.
Por outro lado, a inovação de Galeno não modificou a essência
da pratica médica de Cós, liderada por Hipócrates: o exame do
doente por meio da anamnese, assim descrita em homenagem à
deusa da recordação Mnemis. Assim, o médico próximo do doente
o interrogava na busca dos fatores pessoais, familiares e
sociais que poderiam estar relacionados com aos sinais e
sintomas da doença.
Com absoluto predomínio das teorias hipocrático-galênicas, a
Medicina atravessou a baixa Idade Média. Com pouca resistência
se adaptou às intole-râncias cristãs e assim chegou às
primeiras universidades, sob forte influência do poder romano.
No período mais tenebroso na Inquisição, entre os séculos 14 e
15, alguns médicos ensaiaram teorias para identificar mais
facilmente as bruxas.
O avanço seguinte ocorreu com a micrologia genialmente
descrita por Marcelo Malpighi, no século 17, que pouco a
pouco, na medida no aperfeiçoamento do pensamento micrológico
celular, obrigou a revisão da ordem hipocrático-galênica.
A partir da segunda metade do século passado, a Medicina
oficial continuou transmitindo, como verdade final, a
morfologia das doenças, desprezando como e por que as pessoas
se relacionam com as dores e os prazeres.
Apesar da associação saúde-sociedade não ser recente na
história da Medicina, nunca se tornou tão obrigatória nos
trabalhos acadêmicos, quanto nos últimos cinquenta anos.
Notadamente nos países do Terceiro Mundo, onde a exclusão
social é mais gritante, escrever ou orientar teses médicas
desprovida do suporte metodológico em torno da doença como
fruto do social acabou sendo proibido.
Admitir como pressuposto que a doença só depende da ordem
social, remete o raciocínio, de maneira obrigatória, à falsa
premissa da ausência de vetores pessoais que interferem com a
etiologia das doenças. A herança genética que molda os corpos
dos animais multicelulares foi estruturada, em milhões de
anos, para fugir das dores de todos os tipos, física e mental,
e buscar o prazer como resposta inata contra o sofrimento. A
vida é impossível sem a distensão entre a dor e o prazer.
Ao contrário, os sentimentos pessoais e coletivos determinados
pelas dores sentidas por cada uma das pessoas, podem induzir
ao juízo de valor do tipo da organização social, ou seja, os
circuitos biológicos identificadores da dor e do prazer
pessoais e coletivos, estão embutidos em processos muito mais
densos e pouco compreendidos.
Apesar de a Medicina oficial ter feito progresso no trato da
saúde coletiva, retirando-a do espaço fechado da classificação
nosológica, é saudável insistir que prevalecem, nas academias,
as correntes que colocam a doença como um produto exclusivo da
organização social.
Nesse sentido, a principal proposta teórica, na modernidade,
que associou a doença à desordem social e à dor (por
corruptela ao capitalismo, como o agente do caos) e o normal à
ordem social como agente do prazer (por corruptela ao não-
capitalismo), se fortaleceu a partir da descrição das
condições de trabalho e da saúde dos operários ingleses
(ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na
Inglaterra. Rio de Janeiro. Global, 1986).
A tendência de associar a doença à desorganização das
sociedades é bem mais antiga. Na Grécia, nos tempos de Sólon,
estava estabelecida (JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do
homem grego. São Paulo. Martins Fontes. 1986):
A função da justiça na sociedade corresponde para o corpo à da
Medicina, que Platão ironicamente denomina pedagogia das
doenças. Todavia, o momento da doença é muito tardio como
ponto de partida para uma verdadeira influência educacional.
Sendo o médico o conhecedor da doença, ele pode intervir
politicamente para evitá-la.
As sementes intelectuais da estranha concepção linear da dor e
do prazer se reconstruíram, no século 16, interligando nos
meios acadêmicos, e trazendo a máquina como o modelo ideal
para ser comparado ao corpo humano. Nesse caso, os corpos,
como num passe de mágica, passaram a ser comparados aos
relógios e as doenças, desajustes na engrenagem.
A leitura mecanicista dos corpos serviu para fundamentar uma
das mais conhecidas tentativas para explicar a diferença entre
o homem, possuidor de alma, e os outros animais, feita pelo
médico espanhol Gomes Pereira, em 1554, ao afirmar que os
animais são máquinas, incapazes de falar e raciocinar. O peso
decisivo para alavancar essas idéias recaiu no filósofo
francês René Descartes (1596-1650), ao reforçar a corrente
mecanicista, defendendo o corpo como o domínio da física e a
alma, da religião.
Linguagens-culturas: doenças
além do social – 2/2
Prof.Dr.HC João Bosco Botelho
As ideias oitocentistas incentivadas
pela
fisiologia
experimental de Claude Bernard aprumaram a ciência na tarefa
de explicar como funcionava o corpo, quase sempre o associando
aos avanços da técnica. O pleno exagero do mecanismo coube às
palavras do pensador La Mettrie (ANCORA, Clemente et al.
Homem, In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI. Anthropos-homem. Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985. V. 5) , em 1748, que
conduziu a mecanização das pessoas ao limite máximo: “…em todo
o universo não há senão uma única substância diversamente
modificada, portanto o homem é uma máquina”.
No século 20, com a industrialização impondo as linhas de
montagem e a necessidade rápida de mão de obra, os corpos
tornaram-se complementos das máquinas. O mecanicismo trouxe um
impressionante conjunto metafórico às linguagens-culturas: o
coração passou a ser a bomba; o pulmão, o fole; o rim, o
filtro e, finalmente, o cérebro, o computador.
Os reflexos sobre as mudanças na formação do médico não
tardariam. Em 1910, o Relatório Flexner sobre as cento e
cinquenta faculdades de Medicina, existentes naquela época,
nos Estados Unidos, seguido, dois anos depois, pelo segundo
Relatório, que descrevia os cursos médicos da França,
Inglaterra, Alemanha e Áustria, selaram o destino da nova
metodologia do ensino da Medicina. As universidades admitiram
o maior produtor de saúde: as relações científicas vindas dos
laboratórios de pesquisa. O conjunto formador estava apoiado
na certeza de que o uso de aparelhos, para intermediar a ação
médica oficial seria responsável para a melhoria das condições
de saúde das populações.
Talcott Parsons, em 1951, entendeu a Medicina de modo
semelhante às crenças e às ideias religiosas, compreendendo as
enfermidades como significantes de desvio social. A saúde só
poderia ser alcançada sob a estreita supervisão do médico.
Essa abordagem foi marcada pelo etnocentrismo americano do
Norte, da década de cinquenta, e legitimou os Relatórios
Flexner ao afirmar: “O paciente tem a obrigação de buscar
ajuda técnica competente (fundamentalmente um médico) e
cooperar no processo de recuperação”.
A compreensão de Parsons estabeleceu a premissa de que o homem
não pode ajudar-se a si mesmo. O médico seria o mais
importante elemento mediador para vencer a doença. Essa
abordagem fortaleceu a Medicina-oficial e a morte hospitalar,
fixando forte relação de dependência do paciente frente ao
médico.
É evidente que o estudo de Parsons só poderia ser aplicado em
alguns segmentos sociais, nos países industrializados, com
grandes recursos disponíveis para pagar os serviços de saúde.
Do mesmo modo como a concepção da saúde atada exclusivamente
ao social, a aplicação dessa Medicina-oficial mecanicista só é
aplicável entre as populações ricas e sem efeito prático nos
maiores segmentos dos países subdesenvolvidos, onde a exclusão
social esmaga e impede o acesso aos hospitais. A imensa
parcela populacional desassistida, tanto no Primeiro quanto no
Terceiro Mundo, continua recorrendo aos curadores populares
para resolver os problemas da saúde e da doença.
Apesar da clara evidência, a prática médica nos países do
Terceiro Mundo, desde os anos sessenta, ficou impregnada pelas
teorizações de Engels, Flexner e Parsons. Os trabalhos
acadêmicos ora primam para qualificar a dor como fruto da
injustiça social, ora oferecem a máquina como solução para
prolongar a morte temida.
Apesar de a maior questão dos saberes médicos não estar
resolvida em qual dimensão da matéria viva a doença começa a
substituir a forma preexistente para transformar o normal em
doença? , os médicos oriundos da sedução marxista ou do
tecnicismo exacerbado acreditaram, perigosamente, na
infalibilidade da Medicina oficial e distanciaram-se do
doente. As intolerâncias dos dois segmentos forçaram o
abandono da milenar tradição médica que valoriza a relação
médico-paciente, explícita nos escritos da ilha de Cós, como
ponto de partida para alcançar a cura.
As ordens médicas da doutrina flexneriana e do socialismo
desmoronado, como ventos polares, aderiram ferozmente na maior
parte dos médicos, entre os anos 1960 e 1980. Se, por um lado,
os Relatórios Flexner concorreram para consolidar o ensino da
Medicina, nos Estados Unidos da América e nos países da
Europa, e a publicação de Engels remeteu à crítica dos abusos
do capitalismo, por outro, ambos podem ser responsáveis pelo
descrédito com que a ciência lidou, a partir de então, com o
conhecimento historicamente acumulado dos curadores populares.
A pior resultante da tecnocracia médica se refletiu no abuso
dos medica-mentos e da hospitalização. O médico não precisaria
conhecer o paciente, bastaria estabelecer o diagnóstico e
prescrever o tratamento. Os testes laboratoriais seriam
confiáveis para garantir que as doenças, e não os doentes,
responderiam de acordo com o esperado.
Na contracorrente da intolerância que afastou o médico do
doente, alguns centros de pesquisas sociais iniciaram estudos
para entender como as pessoas se relacionavam com as doenças e
práticas de curas fora dos muros das universidades. O trabalho
desses críticos da exclusiva tecnocracia médica trouxe para as
academias os conflitos resultantes das relações profissionais
com os dois sistemas de saberes: o mítico e o cientifico.
Ao contrário das afirmações de Flexner e Parsons, o controle
das doenças sempre esteve além do social (LE GOFF, Jacques;
SOURNIA, Jean-Charles. Les maladies ont une histoire. Paris.
L’Histoire-Seuil. 1984):
A doença não pertence somente à história superficial do
progresso científico e tecnológico, mas à história profunda
dos saberes e práticas ligados às estruturas sociais, às
instituições, às representações, às mentalidades.
É insuficiente entender a doença apenas como uma consequência
das agruras sociais. As evidências apontam para a doença como
dependente do social e do genético para que os indivíduos
possam fugir da dor-pessoal, transpor a dor-histórica e
procurar o prazer. Cada pessoa possui incontáveis padrões
específicos para identificar qualquer ameaça de dor. As
respostas biológicas frente às sensações dolorosas foram
acumuladas durante o processo de humanização, contidas nos
circuitos específicos dos sistemas nervosos central e
periférico e em cada segmento microscópico do corpo, todos
moldados no genoma.
A herança genética é a responsável pela recombinação desses
incontáveis padrões e garante a transmissão aos descendentes
na reprodução sexuada ou na inseminação artificial.
Muitas dúvidas quanto à possibilidade de o social causar
alterações genéticas, transmitidas à prole, desapareceram após
os estudos das mutações genéticas e dos trabalhos do cientista
Susumi Tonegawa, o Nobel de 1987, esclarecendo como se dá a
variação na ordem dos aminoácidos dos anticorpos produzidos
nos linfócitos B. O pesquisador demonstrou que, quando o
linfócito B se desenvolve, segmentos do seu material genético
são selecionados e misturados para formar novos genes, dando
origem a milhões de sequências variadas de aminoácidos,
capazes de efetuar com competência a defesa do corpo humano
contra as agressões micro e macroscópica do exterior.
Como consequência imediata dessas pesquisas, é possível
afirmar que pelo menos parte da estrutura genética do homem é
móvel, competente de desenvolver, durante a vida, infinidade
de combinações gênicas adaptadas às necessidades vividas. Com
essa certeza, é possível articular o sólido elo entre a
herança genética e a vida social.
A doença e a dor, por serem entidades abstratas e não
existindo sozinhas em si mesmas, recebem nomes e
classificações do homem, que as teme quando sente a
possibilidade da dor fora de controle ou a proximidade da
morte prematura. Como resposta constrói e reconstrói sistemas
cognitivos dos saberes e símbolos míticos e empíricos,
oriundos de tempos muito distantes, com poderes suficientes
para mudar comportamentos com o objetivo de moldar a
sociedade. Esses circuitos natos – as memórias-sóciogenéticas – localizadas no genoma respondem pelas correntes
que ligam o ser ao social e à genética, impulsionando as
pessoas contra as ameaças da dor e as aproximando de condições
prazerosas.
Como a forma anatômica antecede qualquer manifestação do ser
vivente, isto é, para que possa construir linguagens-culturas
é indispensável existir um ou mais segmentos na forma do
corpo, nas dimensões macro e microscópica, que sejam os
responsáveis pela função. Esse elo, indispensável à vida,
preserva a multiplicidade das sensações corpóreas objetivas e
subjetivas, nas linguagens-culturas orais e escritas de todos
os matizes e alcançam a libido, fome, sede, medo, amor, raiva,
choro, sono e outras sensações corpóreas.
Considerando o ser como produto de longo processo da evolução,
possui obrigatoriamente nas cadeias do ADN muitos segmentos de
combinações que o religam de modo permanente ao passado
recente e ao muito distante. Uma vez que o processo de mudança
da forma e da função do corpo deu-se lentamente, adaptando a
espécie humana à sobrevivência e forçando a fuga da dor,
mantém no genoma as memórias-sócio-genéticas, adquiridas e
armazenadas na ontogênese.
Sob essa perspectiva teórica, os símbolos e metamorfoses das
linguagens-culturas que ligam as memorias-sócio-genéticas aos
limites da cura são partes do conjunto biológico que dependem
do social e do genético.