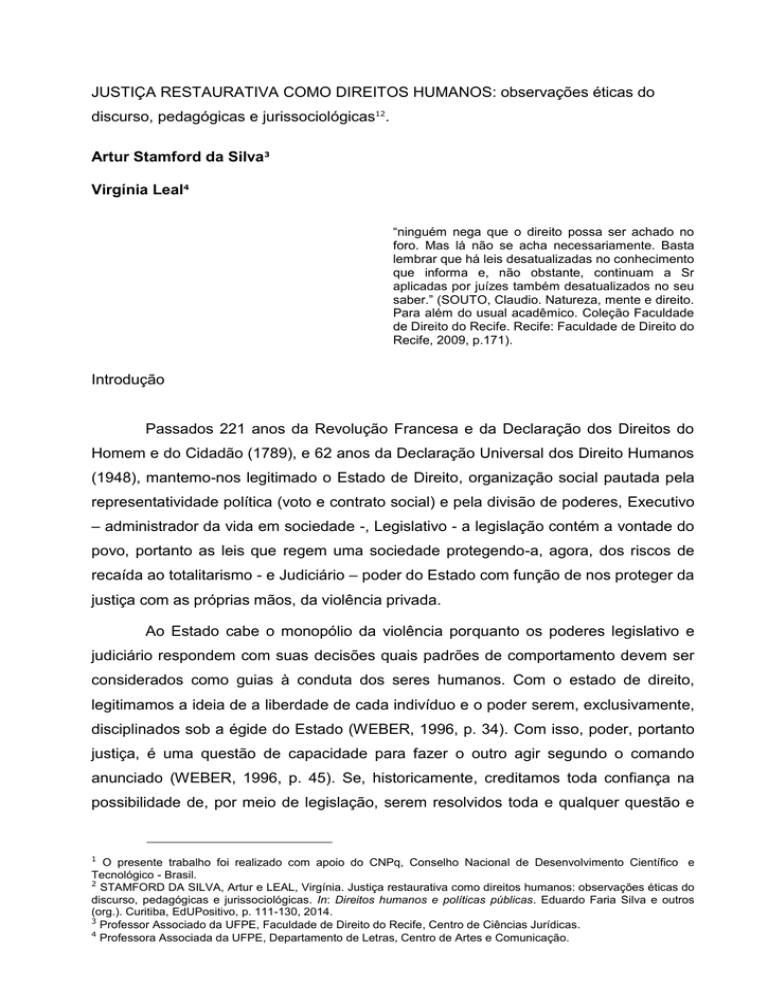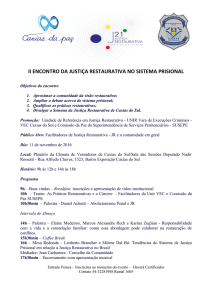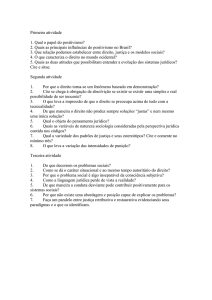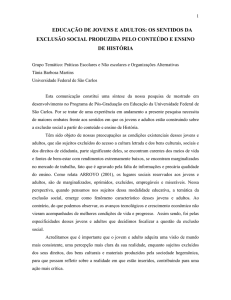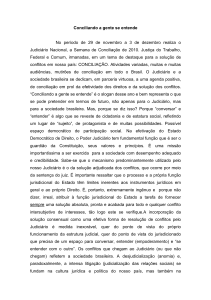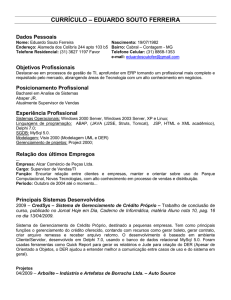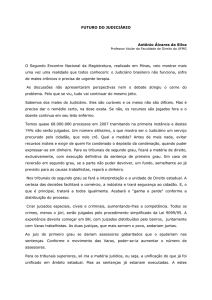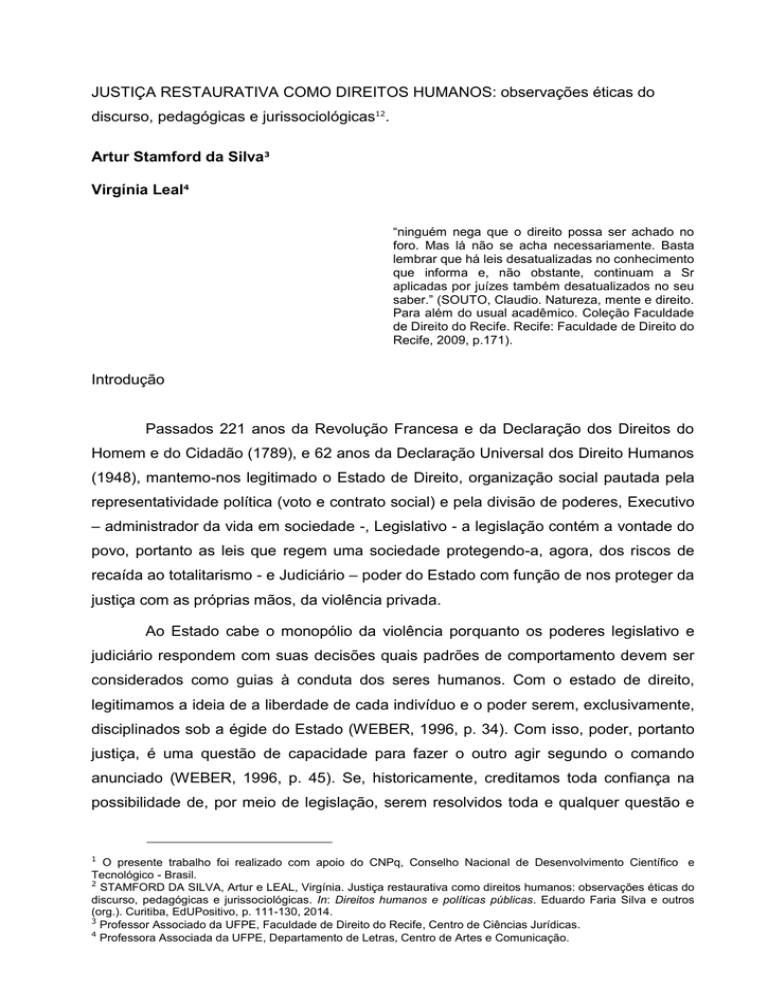
JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO DIREITOS HUMANOS: observações éticas do
discurso, pedagógicas e jurissociológicas12.
Artur Stamford da Silva3
Virgínia Leal4
“ninguém nega que o direito possa ser achado no
foro. Mas lá não se acha necessariamente. Basta
lembrar que há leis desatualizadas no conhecimento
que informa e, não obstante, continuam a Sr
aplicadas por juízes também desatualizados no seu
saber.” (SOUTO, Claudio. Natureza, mente e direito.
Para além do usual acadêmico. Coleção Faculdade
de Direito do Recife. Recife: Faculdade de Direito do
Recife, 2009, p.171).
Introdução
Passados 221 anos da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789), e 62 anos da Declaração Universal dos Direito Humanos
(1948), mantemo-nos legitimado o Estado de Direito, organização social pautada pela
representatividade política (voto e contrato social) e pela divisão de poderes, Executivo
– administrador da vida em sociedade -, Legislativo - a legislação contém a vontade do
povo, portanto as leis que regem uma sociedade protegendo-a, agora, dos riscos de
recaída ao totalitarismo - e Judiciário – poder do Estado com função de nos proteger da
justiça com as próprias mãos, da violência privada.
Ao Estado cabe o monopólio da violência porquanto os poderes legislativo e
judiciário respondem com suas decisões quais padrões de comportamento devem ser
considerados como guias à conduta dos seres humanos. Com o estado de direito,
legitimamos a ideia de a liberdade de cada indivíduo e o poder serem, exclusivamente,
disciplinados sob a égide do Estado (WEBER, 1996, p. 34). Com isso, poder, portanto
justiça, é uma questão de capacidade para fazer o outro agir segundo o comando
anunciado (WEBER, 1996, p. 45). Se, historicamente, creditamos toda confiança na
possibilidade de, por meio de legislação, serem resolvidos toda e qualquer questão e
1
O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - Brasil.
2
STAMFORD DA SILVA, Artur e LEAL, Virgínia. Justiça restaurativa como direitos humanos: observações éticas do
discurso, pedagógicas e jurissociológicas. In: Direitos humanos e políticas públicas. Eduardo Faria Silva e outros
(org.). Curitiba, EdUPositivo, p. 111-130, 2014.
3
Professor Associado da UFPE, Faculdade de Direito do Recife, Centro de Ciências Jurídicas.
4
Professora Associada da UFPE, Departamento de Letras, Centro de Artes e Comunicação.
todo e qualquer problema da sociedade, hoje mesmo aqueles que desconfiam dessa
confiança, ainda legitimam o monopólio estatal da violência.
Assim é porque estamos vivendo a sociedade em que ao Estado cabe dizer o
que devemos ser e fazer, afinal, mesmo quando desprovido de consciência,
concordamos que sem polícia, sem legislativo, sem executivo e sem judiciário a
violência aumentaria. Acatamos, portanto, que somos incapazes de autogerir nosso
comportamento, autoestabelecer nossa ética. Precisamos, portanto, do direito, da
legislação, da decisão judicial para sabermos como podemos e devemos nos
comportar. Numa frase: o Estado detém a competência para ditar e reger nossos
padrões éticos.
Acontece que regimes totalitaristas propulsionam desconfianças na capacidade
de, por meio do estado de direito, vivenciarmos uma sociedade menos violenta,
portanto com ética e mais pacífica. Todavia, aprendemos que, por legislação, é
possível se propiciar mais violência, como nos regimes totalitaristas, em ditaduras e
nas democracias disfarçadas.
Nossas reflexões, aqui, giram em torno do exercício do poder de decisão do
judiciário como organização do direito da sociedade. O poder do judiciário em ditar o
direito em cada caso concreto. A questão é que direito resulta de decisões judiciais?
Que visão de sociedade está presente a cada decisão proferida pelo judiciário?
Decisões proferidas por juízes monocráticos, por exemplo, pautam que justiça, que paz
social? É suficiente um juiz tomar uma decisão para que os litigantes passem a
conviver pacificamente?
Ocorre que, na sociedade atual, complexa como é, o monopólio estatal da
violência (ou seja, a capacidade de o Estado administrar a vida em sociedade
estipulando suas normas), constantemente questionado, criticado, é ainda legitimado.
Se não, vejamos. Em relação ao Judiciário, por exemplo, ainda que mantido como
Poder competente para ditar quem está com o direito num caso jurídico, não lhe faltam
críticas. Críticas estas voltadas a identificar falhas, problemas e apontar melhorias em
seu funcionamento. Não identificamos, na literatura atual, propostas de supressão,
eliminação, substituição do Judiciário por outra via de solução dos conflitos.
É certo que cada vez mais se fala em conciliação. Mas aqui também
legitimamos o Judiciário como espaço social detentor do poder para ditar quem está
com o direito. A busca pela solução do problema da morosidade tem dado lugar a
várias propostas de mudanças de legislações materiais e processuais, a publicação de
novas normas jurídicas, bem a criação de institutos jurídicos novos. Aqui, exploraremos
a justiça restaurativa como alternativa paralela, concomitante à decisão judicial.
Todavia não observamos a justiça restaurativa como supressão, eliminação,
substituição do Judiciário. Assim é porque práticas de justiça restaurativa têm tido lugar
junto ao judiciário. Magistrados têm promovido essa prática, bem como têm
encaminhado casos para ONGs ou grupos da sociedade que trabalham com justiça
restaurativa para auxiliarem nas soluções de conflitos sociais. Em todos os estados
brasileiros não faltam casos de práticas de justiça restaurativa, basta uma vista rápida
na internet para verificar essa afirmação.
Nosso objetivo, portanto, é contribuir para reflexões sobre o papel do judiciário
na produção do direito da sociedade chamando atenção para que visão de sociedade
está presente nas decisões judiciais, ou seja, o quanto uma decisão de um magistrado
efetivamente tem servido para promover paz social. É que decisões pautadas pelo
poder de decidir, sem que os envolvidos tenham noção da dimensão, tenham uma
compreensão do que e porque essa foi a decisão, ou seja, sem uma participação
efetiva dos envolvidos no caso, a decisão judicial tenderá a não funcionar como maio
para solução do conflito, podendo, inclusive servir para ampliar a violência na
sociedade. Não são raros os casos em que o Judiciário é usado pelas partes como
instrumento de vingança, como meio para adiar, e com isso acumular mais dinheiro, o
pagamento de dívidas etc.. Se direito é o espaço social de construção da justiça, que
direito tem sido construído pela decisão jurídica pautada pelo poder de decisão? Como
não temos nenhuma perspectiva para mudar a maneira como a sociedade atual vive
seu direito, ou seja, sair do estado social democrático de direito, dedicamo-nos a
oferecer reflexões sobre a viabilidade de uma democratização da decisão jurídica por
meio de aumento da participação das partes no processo decisório, o que nos leva a
trabalhar se e o quanto a justiça restaurativa envolve essa democratização ou se não
passa de mais um instrumento de poder do estado.
Iniciaremos nossas reflexões apresentando nossas observações sobre os
institutos alternativos à decisão como resultado de exercício do poder, como parem
querer ser a conciliação, a mediação, a arbitragem e a justiça restaurativa. Evidente
esses institutos são distintos. Como nosso foco é a justiça restaurativa, não nos
ocuparemos em trabalhar essas quatro alternativas. Em seguida lançaremos reflexões
sobre a ética do discurso como base teórica auxiliar a uma compreensão da justiça
restaurativa, seguindo pelas idéias presentes na pedagogia freidiana indispensável
para uma compreensão da dimensão pedagógica da decisão jurídica de pauta
restaurativa e,m por fim, lançaremos olhares da visão sociológica substantiva de
Cláudio Souto para uma reflexão sobre a justiça restaurativa.
1. Conciliação e justiça restaurativa
Construídas alternativas sobre a maneira como o Judiciário fará isso, a
conciliação se apresenta como espaço para a realização de diálogo, debates,
conversas, tudo voltado a se chegar a uma decisão jurídica, ainda que, agora, com a
atenção mais voltada para a participação das partes e não uma decisão de um juiz, de
um decididor que conhece o direito e sabe declarar com quem está o direito no caso.
Na justiça restaurativa o Judiciário não é reduzido à função de poder
competente para ditar o direito, antes, ele assume a função de compositor da decisão.
O judiciário atua com a responsabilidade de, junto com os participantes processuais,
produzir a solução. Essa alternativa contém características da lógica do poder do
Judiciário semelhantes àquelas presentes na visa de educação de Paulo Freire, para
quem o educador é um intermediador do aprendizado, o que não retira sua
responsabilidade no processo educacional. Não porque o educador deve se ocupar em
construir com os discentes o aprendizado, ele perde a responsabilidade por conduzir
ao melhor aprendizado. A ótica de poder do educador deixa de ser a de dono do poder
de educar. Apenas não mais se vê o educador como transmissor de conhecimento,
mas sim como facilitador, com responsável por, junto com os cursistas, promover
aprendizado.
Ao pretender o monopólio da violência, o Estado se habilita a resolver todos os
conflitos sociais via legislação, competindo única e exclusivamente ao Poder Judiciário
ditar o direito, ou seja, declarar qual das razões em conflito é aquela que está com a
Ratio Júris (Razão Jurídica). Eliminada a admissibilidade da vingança privada, da
justiça com as próprias mãos, para um problema ser resolvido, a alternativa racional é
recorrer ao Poder Judicial, o qual declarará quem está com a razão, quem está
protegido pelo direito, pela legislação.
Hoje, há críticas às ineficácias, às falhas do estado de direito, a exemplo do
diagnóstico das impossibilidade de pré-estabelecer decisões para vivências futuras –
ou seja, reconhecer que legislação não é suficiente pra resolver os problemas sociais,
todavia é o que temos de melhor para a vida em sociedade atual, pois é preferível ser
julgado por um juízo racional (aplicação de critérios estabelecidos por legislação) e não
arbitrariamente. Identificados paradoxos do modelo de Estado de Direito, insiste-se em
buscar qual dos lados do paradoxo é o certo, o da justiça, como: estabelecer regras
flexíveis para garantir a justiça da decisão.
Acontece que o Judiciário como promotor da justiça, da paz social é bastante
questionada, principalmente devido à pecha da morosidade, às dificuldades e mesmo à
impossibilidade de acesso à justiça para todos, ao uso do Judiciário como
retardamento à solução de um caso judicial, como quando se recorre ao Judiciário para
arrastar um problema ao infinito etc.. As críticas a esse diagnóstico se glorificam por
indicar melhorias, inclusão e reconhecimento de novos direitos e deveres, como críticas
manutenção do Estado de Direito.
Em relação ao Judiciário, não deixamos de ver propostas de melhorias que vão
de mudanças legislativas, alterações de normas processuais até a criação de institutos
jurídicos como mediação e arbitragem, conciliação, penas alternativas e justiça
restaurativa. Em relação à arbitragem, por exemplo, a aposta e confiança nessa
alternativa levou a frases como:
a arbitragem, há décadas utilizadas nos países desenvolvidos, é regulamentada
no Brasil pela Lei 9.307/96, a chamada Lei da Arbitragem, e vem sendo
reconhecida como o método mais eficiente de resolução de conflitos,
contribuindo para o descongestionamento do Poder Judiciário (Disponível em:
http://www.camaradomercado.com.br/arbitragem.asp).
Limitamos nossas reflexões à conciliação e à justiça restaurativa. Quanto à
conciliação, observamos que ela não se efetivará porque alterada a legislação, mas
sim quando produzida uma cultura jurídica da conciliação, ou seja, quando advogados,
promotores, procuradores, magistrados e a sociedade abandonarem a visão de direito
como poder de estabelecimento do quem somos e como devemos agir, ou seja, como
instância produtora da ética. Noutras palavras, quando todos acatarem a possibilidade
de assumir as consequências de suas próprias ações, independente de um Judiciário
impondo tais consequências. Numa sociedade em que as pessoas vivem certas que
não são capazes de assumir suas responsabilidades éticas, conciliar não passará de
um jogo de negociação de interesses, oportunidades e esperteza.
Caso se venha a desassociar Judiciário com poder competente para ditar com
quem está O direito e o vinculemos a espaço para propiciar diálogo sobre que valores
estão em debate, conciliação se tornará instrumento de pacificação social. Enquanto
isso não ocorre, as audiências preliminares, destinadas à conciliação, não passam de
perda de tempo, de aumento da morosidade processual, jamais alternativa à
morosidade e caminho para reformulação da função do Poder Judiciário numa
sociedade (RAMOS e STAMFORD DA SILVA, 2003; STAMFORD DA SILVA e outros,
2009).
Em relação à justiça restaurativa estão funcionado em São Paulo, Brasília e Rio
Grande do Sul projetos de implementação da visão de justiça restaurativa, resultado da
implementação do programa “Casas de justiça e Cidadania”, do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça). Do relatório 2010, do CNJ, consta propostas típicas de cultura da
paz, para o cotidiano do Judiciário. A questão é o quanto estamos, sociedade,
preparados para vivenciar uma concepção de direito e Judiciário pautada pelo fim do
“dialogar com o outro sem escutar o que o outro tem a dizer” (RAJAGOPALAN, 2004,
p. 171), mas sim de produção de sentido do direito da sociedade, porquanto direito
passa a ser produzido dos debates e discussões do caso jurídico, e não como préestabelecido exclusivamente por legislação e jurisprudência.
2. Punir ou conciliar? Ética do discurso para pensar a justiça restaurativa.
Como alternativa para se pensar sobre a forma de justiça pautada pela lógica
da punição, na qual a legislação contém o conteúdo do direito, portanto ao Judiciário
cabe ditar quem está com o direito, e a forma de justiça pautada pela lógica da
conciliação, como na justiça restaurativa, é a ética do discurso, a teoria da ação
comunicativa de Jürgen Habermas.
Para este autor, uma ação é comunicativa quando os participantes visam
formar um entendimento sobre algo, visam, a princípio, chegar a um consenso sem a
interferência de jogos de poder. É da capacidade de argumentação, portanto da
racionalidade, que se dão as construções de um entendimento (HABERMAS, 1975:
310,11).
Habermas defende a “racionalidade comunicativa”, que é a capacidade do ser
humano compor um acordo sem coação, portanto, capacidade de gerar um
entendimento espontâneo, sem imposição de um poder, que não o poder de escolhas,
das próprias partes envolvidas. Nessa racionalidade, a fala argumentativa supera a
subjetividade inicial dos pontos de vista dos participantes da comunicação, em favor de
uma comunidade de convicções racionalmente motivadas (HABERMAS, 1988a: 26-27).
Considerando que a racionalidade pode ser medida pelo êxito de intervenções dirigidas
à obtenção de um propósito ou pela capacidade de chegar a um entendimento, o autor
expõe: “um maior grau de racionalidade cognitivo-instrumental tem por resultado uma
maior independência em relação às restrições que o entorno contingente opõe a
autoafirmação dos sujeitos que atuam visando realizar propósitos”; enquanto que “um
grau mais alto de racionalidade comunicativa amplia, dentro de uma comunidade de
comunicação, as possibilidades de coordenar as ações sem recorrer à coerção e de
resolver consensualmente os conflitos de ação (na medida em que estes se devem à
dissonância cognitiva em sentido estrito) (HABERMAS, 1988a: 33).
Com isso, para Habermas, alguém é racional não por suas manifestações, mas
por elas serem: a) avaliadas por boas razões, além de corretas ou terem êxitos
(dimensão cognitiva); b) confiáveis ou sábias (dimensão prático-moral); c) inteligentes
ou convincentes (dimensão valorativa); d) sinceras ou autocríticas (dimensão
expressiva); e) compreensivas (dimensão hermenêutica) (HABERMAS, 1988a: 70).
Nessa perspectiva, o autor faz uma taxonomia da ação social, distinguindo a
ação teleológica (ação instrumental e ação estratégica), da ação regulada por
normas; da ação dramatúrgica; e da ação comunicativa.
A atividade orientada para um fim torna os valores escolhidos em estados no
mundo, bem como leva à lógica causal, pois para se atingir os fins basta aplicar os
meios adequados, pouco importando, no plano de ação, as interveniências dos meios
julgados adequados, mas sim a produção do resultado favorável (HABERMAS, 1990:
67-68). Já as atividades orientadas para o entendimento têm três condições:
primeira, que os fins ilocucionários não podem ser definidos independentemente dos
meios lingüísticos do entendimento; segunda, o falante não pode visar ao fim do
entendimento de modo causal, porque o sucesso ilocucionário depende do
assentimento racionalmente motivado do ouvinte - para que possa haver acordo na
coisa é preciso que o ouvinte acate-o voluntariamente, através do reconhecimento de
uma “pretensão de validez criticável”, por isso se afirmar que a cooperação é o único
meio de atingir os fins ilocucionários -; terceira e última, o processo de comunicação e
o resultado a ser produzido por ele não constituem, na perspectiva dos participantes,
estados do mundo objetivo. Os participantes que agem no nível dos fins assumem, no
mundo, a qualidade de entidades - não se vêem isoladamente mas como integrantes
de uma coletividade -, mesmo diante da liberdade de escolha, um não pode atingir o
outro, a não ser como objeto ou como rival. Os falantes e ouvintes assumem um
enfoque performativo, no qual eles se defrontam reciprocamente como membros do
mundo vital de sua comunidade lingüística compartilhada intersubjetivamente;
enquanto tentam chegar a um entendimento mútuo sobre algo, os fins ilocucionários
visados situam-se como algo que não pertence ao mundo (HABERMAS, 1990: 69).
Com isso, as características do modelo de ação comunicativa são: ser bilateral;
haver complexidade do ato de fala que expressa simultaneamente um conteúdo
proposicional, a oferta de uma relação interpessoal e uma intenção do falante; o modo
reflexivo, os falantes integram um sistema que envolve os três conceitos de mundo; a
linguagem funciona como meio de entendimento. O que não elimina a possibilidade de
a ação teleológica ser mediada por atos de fala, mas, neste caso, estes atos são meios
para a obtenção dos fins desejados e pretendidos, não para a busca de um
entendimento, para a construção, conjunta, da solução ao problema. Assim é, porque,
na ação teleológica, os participantes são oponentes, há a influência dos atos de um
sobre os do outro, como forma de manipular as opiniões, como forma de conduzir o
outro a agir rumo aos propósitos do falante. Já na ação comunicação, há coordenação
da ação através da semântica intencional. Enquanto, na ação comunicativa, os
participantes constroem um entendimento; na ação estratégica, um participante
transforma o outro em objeto a ser manipulado (dá-se a coisificação do outro), vive-se
uma trama de interesses, não uma busca por entendimento. Dessa forma, enquanto na
ação comunicativa “a linguagem tem que servir de meio de coordenação da ação; na
ação estratégica a linguagem pode servir de meio de coordenação da ação”, pois na
ação estratégica a linguagem é um meio de influenciamento mútuo (HABERMAS,
1994a:
420-421).
É
que
na
ação
comunicativa,
os
participantes
agem
intersubjetivamente manifestando pretensões de validez, quando o que se enuncia se
pretende que seja: verdadeiro; correto ou normativo vigente; e que a intenção expressa
pelo falante coincide com seu pensamento. Como há a intenção de chegar a um
entendimento, a pretensão de validez do falante é suscetível de críticas por parte do
ouvinte, o qual também detém suas pretensões de validez ao expor sua opinião
(HABERMAS, 1988a: 144). Por fim, o “o conceito de ação comunicativa pressupõe a
linguagem como um meio dentro do qual tem lugar um tipo de processo de
entendimento em cujo transcurso os participantes, ao relacionar-se com um mundo,
apresentam-se uns frente ao outros com pretensões de validez que podem ser
reconhecidas ou postas em questão” (HABERMAS, 1988a: 143).
O que, portanto, distingue as espécies de ação social em Habermas, não que a
presença de um fim, uma finalidade, mas sim que: nas ações teleológicas, há o cálculo
egocêntrico de utilidade, onde os conflitos e cooperações dependem dos interesses em
jogo na busca do êxito; nas ações reguladas por normas, o fim pretendido é uma
convivência regulada tradicional e socialmente por valores e normas; nas ações
dramatúrgicas, o objetivo é a relação consensual entre um público e os atores; na ação
comunicativa, o fim é atingir o entendimento no sentido de processo cooperativo de
interpretação (HABERMAS, 1988a: 144). Cabe ainda considerar que, a comunicação
voltada ao entendimento não se esgota pela interpretação, antes envolve interação
coordenada entre os participantes (HABERMAS, 1988a: 146).
A distinção entre ação estratégica e ação comunicativa promove alteração na
lógica do agir em sociedade, o que não implica ignorar a presença de poder. Sobre o
tema, lembramos que para Weber poder é “a probabilidade de impor sua própria
vontade, dentro de uma relação social, ainda que contra toda resistência e qualquer
que seja o fundamento dessa probabilidade” (WEBER, 1996, p. 43), assim, poder é a
posição de alguém “impor sua vontade numa determinada situação”; já dominação é a
“probabilidade de encontrar obediência ao comando de determinado conteúdo entre
determinadas pessoas”, é a probabilidade de ter seu comando obedecido (WEBER,
1996, p. 43). Essa visão de poder tem que ser revistada se a perspectiva é considerar
mudança na lógica de realização de justiça, ou seja, se se quer pensar alternativa à
justiça punitiva.
O desfio, portanto, é revisitar a concepção de poder, como fez Paulo Freire, em
relação à educação, quando propõe a educação libertadora, democrática em
substituição à educação bancária; bem como se vem buscando, em relação ao direito,
com a implementação da lógica conciliativa, como vivenciamos com a criação dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099, de 26/09/95), as reformas do Código
de Processo Civil pela Lei 8.952, de 14/12/94 estabelecendo as audiências
preliminares, com a Lei 9.099/95 que traz a transação penal, por fim, com a ênfase que
vem tendo a justiça restaurativa.
4. Paulo Freire: a pedagogia da justiça restauração.
Pensar e contar a história da humanidade tende a ser um catálogo de
conquistas. Conquistas de territórios, conquistas de espaços, culturas. Catálogo de
invasões, violências, guerras, poder.
Quando o tema é educação, não é diferente, principalmente se a referência
central cair sobre os processos de colonização, quando a imposição de uma cultura
sobre outra dominou o processo de relação entre culturas. As vivências históricas da
humanidade com as formas como se deram as relações entre povos não pode deixar
de considerar a questão educacional. Colonialismo, catequização, as entradas e
bandeiras, as cruzadas são a evidência da postura imperialista do educador como
detentor do poder de transmitir conhecimento. Ao catequizador, o poder de colonizar;
ao catequizado, o poder de se convencer e perder sua identidade cultural. É o que
Paulo Freire chama de “teoria da ação antidialógica” da educação (1970, p. 78 e ss.).
Dessas reflexões tomamos o pensamento de Paulo Freire como destruidor da
visão de educador colonialista, catequizador (1970, p. 34 e ss.). A quebra da lógica do
educar como transmissor de conhecimento tem repercussões não só na educação,
mas na visão de mundo. Essa mudança atinge diversos lugares, instituições sociais.
Limitamos nossas reflexões ao Judiciário, propondo uma analogia entre a quebra da
lógica educacional de Paulo Freire, com a quebra da lógica do Judiciário como poder
competente para ditar o direito, como requer a conciliação e a justiça restaurativa. Para
isso, recorremos às seguintes ideias: “ensinar não é transferir conhecimento” (FREIRE,
1996, p. 52); “a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores aos
educandos, meros pacientes, à maneira da educação ‘bancária’” (FREIRE, 1970, p.
39), e “o mito de que a educação é formar, deve ser desfeito” (BITTAR, 2007, p. 313334).
É o que observamos ao ler em Paulo Freire que o processo de opressão,
gerador de desumanização, para ser revertido, é preciso uma pedagogia construída
junto com o oprimido, não uma pedagogia daquele que sabe como reagir à opressão e
por isso vai ensinar a forma de reagir. O processo, antes, requer, inclusive, a
superação do “medo da liberdade”. O que não se obtém com imposição de uma visão
de mundo sobre outra, mas através da construção de uma visão de mundo resultante
da relação educador-educando, pois se pode manter a lógica de domesticação, se se
quer realmente libertar (FREIRE, 1970, p. 17-18). É o que Freire vai chamar de
concepção “bancária” da educação (FREIRE, 1970, p. 33 e ss.) em contraposição à
dialogicidade como prática da liberdade (FREIRE, 1970, p. 44 e ss.).
A questão é que quando o educador se imagina detentor do conhecimento, ele
objeta o educando. Ao enxergar o outro como objeto, como depositário de informação,
elimina a possibilidade de construção conjunta, de co-produção do saber, portanto, do
diálogo educativo para ambas as partes. A questão é quando o educando visualiza no
educador o detentor da verdade, um “magnata” do saber e, por isso, idolatra o
educador. Nesta perspectiva não há educação libertária, mas desumanização.
O que nos chama atenção é que a educação dialógica não tem relação com
perda do poder de educar, da responsabilidade do educador na condução do
aprendizado, o que se reconhece é que: “não posso pensar pelos outros nem para os
outros, nem sem os outros” (FREIRE, 1970, p. 58), por isso, “o educador não deve abrir
mão do desenvolvimento de seu trabalho”, bem como não faz sentido inventar o mito
de que os educadores estão sendo desvalorizados porque agora dialógicos (ensinar
inexiste sem aprender) e não mais donos do saber a ser transmitido (FREIRE, 1996, p.
4-5), é o que se tem com o “ensinar exige liberdade e autoridade”. Assumir postura
democrática no processo educacional não implica deixar confundir liberdade com
licenciosidade (FREIRE, 1996, p. 67), antes, “ensinar é uma profissão que envolve
certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia
é viver uma relação de parentesco” (FREIRE, 1993, p. 9). Ao advertir essa situação,
Freire não está defendendo um distanciamento entre o docente e o discentes, mas
simplesmente alertando para a necessidade de o docente não confundir ser
democrático, produtor de liberdade, construtor junto como discente, com abandonar
sua responsabilidade ética no processo educacional, inclusive, porque ser instrumento
auxiliar no aprendizado, não reduz a importância, a dignidade e a responsabilidade do
educador (FREIRE, 1996, p. 30), principalmente porque não se deixa de ser um
“político militante” cuja tarefa requer “compromisso e engajamento em favor da
superação das injustiças sociais” (FREIRE, 1996, p. 54).
Conectando o tema ao direito, temos a ideia de “educar exige tomada
consciente de decisão” (FREIRE, 1996, p. 68). Neste debate, Freire chama atenção
para a presença de posturas autoritárias tanto nos defensores da postura autoritária
quanto os da postura dialógica. Romper essa tendência ao autoritarismo é um desafio
ao próprio educador, pois a ele cabe não se permitir se transformar num baderneiro.
Ser democrático, disponível ao diálogo, não é abandonar as responsabilidades de
educador, ainda que seja abandonar a ideia de que “nós sabemos o que os estudantes
devem saber” (FREIRE, 1992, p. 60). Atuar como construtor, permitindo-se partir da
leitura do mundo dos educandos (FREIRE, 1992, p. 67) possibilita a cooperação e o
estímulo no aprendizado.
Essa lógica no direito significa pensar o Judiciário, não como dono da decisão,
mas como interventor, construtor da decisão junto com os interessados. Essa inclusão
não implica retirar do Judiciário o poder d decisão, mas sim a “juizite”, a utilização do
poder de decisão de forma autoritária.
5. Visão substantiva do direito e justiça restaurativa
A dicotomia da justiça procedimental versos justiça substantiva é trabalhada
por Cláudio Souto e Solange Souto de maneira que o procedimento da pesquisa
empírica informa dados à visão substantiva do direito. À pergunta sobre o que faz a
vida em sociedade ser possível, é trabalhada considerando que o fenômeno social é
fato exteriorizado na comunicação entre seres humanos (SOUTO, 1971, p. 5-7; )
porquanto o sentido social do ser humano perpassa pela padronização das regras
produzidas pelo processo de socialização (controle social), sem por isso eliminar a
personalidade do indivíduo, afinal “o indivíduo não é de todo passivo, nem existe para a
sociedade uma obediência absoluta de suas membros ... assim com existem na família
resistências e tensões, existem elas também na sociedade global. Em ambos os
sistemas há um hiato na comunicação de grupos” (SOUTO e SOUTO, 2003, p. 28-30).
Devido, portanto, à continuidade nos comportamentos sociais produzimos
controles sociais, do que resulta admitir que “o social é sempre mudança, mesmo
quando é controle”, afinal ainda que o social não se confunda com as mentes
individuais, “não se pode negar que o social resulte de pólos mentais em interação.
Ora, assim sendo, e desde que mentes individuais variam continuamente, toda
interação social implica mutação, mudança social, que pode ser mais ou menos
acentuada” (SOUTO e SOUTO, 2003, p. 37).
Uma vez estabelecida a relação entre o social e as mentes, Souto e Souto
afirmam que “o direito como fato social, não se confunde com a forma legal de controle
social, formas estas cujos conteúdos poderão ser ou não jurídicos”. (SOUTO e
SOUTO, 2003, p. 38). Para isso, os autores apresentam a visão substantiva do direito,
ou seja, a visão que direito detém um conteúdo social passível de identificação racional
por pesquisa empírica. A idéia de bem e mal são empiricamente verificáveis, bastando
para tanto a realização de pesquisa empírica volta a verificação dos traços afetivo,
ideiativo e volitivo da atividade biopsíquica dos seres humanos, ou seja, do processo
mental humano, a saber: os sentimentos, as ideias e as vontades (composto SIV).
O social é portanto a padronização do composto SIV, o que se dá através da
convivência contínua (temporalidade) dentre os pólos mentais. O traço S (sentimento),
do mental humano é identificado pela agradabilidade ou desagradabilidade, pelo
sentimento de deve ser e de não dever ser de um comportamento. Assim, quanto mais
agradabilidade, maior a tendência à convivência pacífica. O traço I (ideia) é regido pelo
conteúdo ideacional, pelas ideias que semelhança e dessemelhança resultantes do
convívio em sociedade. O traço V (vontade) implica o querer e não querer socialmente
produzido. Assim, o interSIV é o objeto da sociologia do direito, a qual se ocupa com o
controle social, com o direito da sociedade. Esses traços não são separáveis, esta
separação é realizada por abstração. Cada traço está plenamente ligado ao outro, o
que leva os autores a afirmarem que o controle social energiza socialmente a força
mental e a força física presentes na vida social (SOUTO e SOUTO, 2003, p. 114).
Com esses traços a sociologia seria a ciência dedica à pesquisa sobre o
composto SIV que tem por fórmula que: quanto maior I de semelhança e S de
agradabilidade entre os pólos SIV, menor a distância exteriorizada (dada a conhecer).
Quanto aos processos sociais de aproximação (como a cooperação) e de afastamento
(como o conflito), os autores estabelecem os seguintes postulados:
1º) se prepondera a ideia de semelhança sobre a de dessemelhança, o sistema de
interação social está equilibrado;
2º) equilíbrio permanente do sistema de interação social, resulta num processo social
associativo;
3º) quanto maior a semelhança preponderante entre os pólos sócio-interagentes, maior
o equilíbrio do sistema de interação social;
4º) quanto mais equilíbrio interSIV, maior controle social;
5º) quanto menor a distância interSIV, manos energia será necessária para a
receptividade da comunicação e para o controle social;
6º) quanto mais socialização, mais equilíbrio no sistema social;
7º) quanto maior a dessemelhança interSIV, maior a tendência ao desequilíbrio do
sistema social;
8º) quanto maior o padrão de I (ideias), maior equilíbrio interSIV.
Com esses pressupostos, Cláudio Souto e Solange Souto têm por direito “a
pauta de conduta social que esteja em consonância com o sentimento humano
universal de justiça – algo de intrinsecamente justo, pois - e com dados de ciência
empírica – algo necessariamente racional, portanto, e de racionalidade comprovável”
(SOUTO, 2003, p. 227). Com isso, distinguem-se as regras morais, das regras de
equidade das regras jurídicas. É que essas regras, mesmo que signifiquem pautas de
conduta em consonância com o sentimento humano do dever ser (sentimento de
justiça), diferem porque “as regras jurídicas são aquelas em consonância com dados
do conhecimento científico-empírico, as morais são as em consonância com dados de
conhecimento metacientífico (não empiricamente comprovável), ao passo que a
equidade seria a pauta de conduta em consonância com dados de conhecimento
positivo concreto do caso singular ais são as em consonância com dados de
conhecimento metacientífico (SOUTO, 2003, p. 221-222).
Souto e Souto não reduzem a ética ao dever ser, afinal o sentimento do dever
ser (sentimento de agradabilidade diante do que se acha que deve ser) expressa o que
é próprio a todo ser humano, abstraídas suas ideias. O sentimento de dever ser não se
confunde com a concepção individual de dever ser. Com isso, um indivíduo pode
considerar que determinada norma jurídica não é um “dever ser” e agir contrário ao
padrão (ao conteúdo normativo de dever ser), afinal “todos têm liberdade humana de
escolha entre padrões e suas conseqüências” (SOUTO, 2003, p. 223). Com essa
diferenciação, Souto e Souto afirmam que o “uso lingüístico particular dos juristas que
chamam direito tudo que for conteúdo normativo de formas de coercibilidade estatal –
desconhecendo eles como ‘ direito positivo’ o que não for tal conteúdo – não é igual ao
uso lingüístico comum da sociedade” (SOUTO, 2003, p. 225), afinal, o sentimento de
dever ser diz respeito à normalidade do sentimento, isto é, ao sentimento do dever ser
que comumente se observa nos seres humanos (SOUTO, 2003, p. 226; SOUTO, 2009,
p. 32). Mas é perfeitamente possível a alteração desse sentimento no psiquismo
doentio” (SOUTO, 2003, p. 227). Assim é, porque o sentimento de dever ser do ser
humano normal contém o impulso de conservação do indivíduo e da espécie, que é o
postulado ético básico.
A proposta de uma visão substantiva do direito corrobora com uma
compreensão da justiça restaurativa na medida em que o direito deixa de ser reduzido
ao direito do estado, à legislação e às decisões judiciais. Há um espaço para a visão de
que legislação e decisão judicial podem não ser direito substantivo. A questão de como
essa visão colabora para uma compreensão da justiça restaurativa é que quanto maior
a participação dos pólos interSIV do estabelecimento da solução do conflito, maior a
probabilidade de esses pólos interSIV desenvolverem um convívio social sem conflito,
porquanto viabilizados o sentimento de agradabilidade, a ideia de justiça e a vontade
de agir em consonância com o outro interSIV.
Não há que se pensar uma modelo pré-estabelecido para a condução dessas
audiências, mas a teoria sociológica do direito de Cláudio Souto e Solange Souto
trazem contribuições à reflexão da justiça restaurativa justamente por explorarem a
dimensão SIV, a individualidade e a sociabilidade do convívio social. A não redução do
direito ao Estado, como defendem os autores (SOUTO, 1971, p. 169; SOUTO e
SOUTO, 2003, p. 73) é um elemento fundamental para a justiça restaurativa, pois a
abertura para o que será construído como “direito entre os envolvidos” não se esgota
nos “termos da lei”, pois mais que a legislação não possa vir a ser plenamente ignorada
no resultado dos círculos restaurativos, afinal, se os envolvidos decidem por matar o
filho, pela venda de um órgão e outros absurdos semelhantes, estes tão pouco
constituem direito, afinal não estariam em consonância com o sentimento universal de
dever ser do ser humano normal. Como propõe a teoria substantiva do direito.
6. Poder Judiciário, justiça restaurativa e decisão democrática: concluindo
Evidenciada a insuficiência da concepção de justiça imposta, porque resultante
da aplicação (interpretação e decisão) sobre quem está com o direito, pautada pela
legislação e pela jurisprudência, sem esquecer os relatos fáticos e as provas
constitutivas de processos judiciais, a conciliação é apontada como lógica substitutiva,
seja na forma de diálogo em audiências, seja na forma de transação penal, de pena
alternativa, de justiça restaurativa.
A distinção entre a forma de fazer justiça punindo o infrator e a justiça
restaurativa é que:
a simples punição não considera os fatores emocionais e sociais, e que é
fundamental, para as pessoas afetadas pelo crime, restaurar o trauma
emocional - os sentimentos e relacionamentos positivos, o que pode ser
alcançado através da justiça restaurativa, que objetiva mais reduzir o impacto
dos crimes sobre os cidadãos do que diminuir a criminalidade. Sustentam que
justiça restaurativa é capaz de preencher essas necessidades emocionais e de
relacionamento e é o ponto chave para a obtenção e manutenção de uma
sociedade civil saudável (GOMES PINTO, 2005, p. 22).
Em seu texto, Renato Sócrates Gomes Pinto apresenta distinções de ordem
axiológica, procedimental e quanto ao resultado, seguindo os Princípios Básicos sobre
Justiça Restaurativa presentes na Resolução do Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas, de 13 de Agosto de 2002 (GOMES PINTO, 2005, p. 24-27).
Para tratar da justiça restaurativa e sua consequência na lógica punitiva,
Renato Campos Pinto De Vitto apresentar os seguintes modelos de pena: o modelo
dissuasório, voltado à “pretensão punitiva do Estado”; o modelo ressocializador, que
foca a função reabilitadora da pena; e o modelo integrador, pautado pela ideia de
conciliar interesses e expectativas dos envolvidos, buscando a pacificação da relação
social que se tornou conflituosa (2005, p. 42-43). Dos que, considera o modelo
integrador o que exigirá maior desafio ao pensamento jurídico penal, principalmente
porque a justiça restaurativa, ao pretender intervir direta e positivamente em todos os
envolvidos no fenômeno criminal, toca “a origem e causa daquele conflito, e a partir daí
possibilitar o amadurecimento pessoal do infrator, redução dos danos aproveitados
pela vítima e comunidade ... Porém, o êxito da fórmula depende de seu correto
aparelhamento” (DE VITTO, 2005, p. 49).
Já Eduardo Rezende Melo apresenta os desafios de se implementar a justiça
restaurativa, partindo da visão filosófica de Kant, contrapondo-a à ideia de justiça
retributiva, para a qual, a punição deve ser imposta para que se tenha retribuída a
condição de paz social. Essa visão de justiça promove a cultura da vingança, o que
impede a realização da justiça restaurativa. Então, escreve: “não apenas a justiça, o
próprio direito haveria de ser repensado” (REZENDE MELO, 2005, p. 57). O maior
desafio está em que a justiça não mais está lá, já pronta, à espera para ser usada, mas
sim requer responsabilidade e comprometimento de todos os envolvidos, do que
escreve: “se em jogo está um outro modo de reflexão da justiça, que passe da coerção
ao juízo sobre suas práticas, deixando de ser a afirmação de um tipo determinado de
valores supostamente transcendente à sociedade, a noção de justiça social não pode
deixar de estar presente a um modelo alternativo ao retributivo” (REZENDE MELO,
2005, p. 57). Assim, a questão da justiça tem estreita ligação com educação,
principalmente se a proposta é sair da lógica da “regressão à violência física primária”
(REZENDE MELO, 2005, p. 71).
Com a Justiça Restaurativa, o papel do Judiciário deixa de ser impor sua
decisão e passa a ser mediar. Afasta-se da lógica do “ditar o direito” e constrói-se a
lógica do fazer junto. Evita-se a busca pela justiça a ser imposta, pela justiça a ser
posta, porque construída, pelas partes.
Evidente, críticos de leitura superficial já gritam: “é o fim do Estado de Direito,
vamos voltar à idade média”. Acontece que a Justiça restaurativa não substitui a justiça
formal, tradicional, ela aparece como complementar, é o que se pode ler já na
Apresentação do livro Justiça Restaurativa, organizado publicado pelo Ministério da
Justiça, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD:
é inegável que eles constituem um instrumento de enorme importância para o
fortalecimento e melhoria da distribuição de Justiça. Complementando o papel
das instituições do sistema formal de Justiça, os programas e sistemas
alternativos podem representar um efetivo ganho qualitativo na solução e
administração de conflitos, pelo que devem ser objeto de criterioso
monitoramento e acurada avaliação, a fim de que as boas práticas sejam
fomentadas e difundidas.
A aplicação de tal modalidade de intervenção no país ainda é, de uma forma
geral, incipiente, como atesta o relatório de pesquisa “Acesso à Justiça por
sistemas alternativos de administração de conflitos”. Note-se, porém, que é no
campo dos conflitos de natureza penal e infracional que nos ressentimos
sobremaneira da ausência de uma intervenção diferenciada nos litígios
(SLAKMON, Catherine; De VITOO, Renato Campos Pinto e GOMES PINTO,
Renato Sócrates. In: Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça, 2005,
p.
11.
Disponível
em:
http://www.tj.sp.gov.br/Download/FDE/6%20%20Textos%20Complementares/Livro%20Justi%C3%A7a%20Restaurativa.pdf).
A expectativa do espaço que a justiça restaurativa vem tendo aumenta por
constar no III Programa Nacional de Direitos Humanos, na parte referente à Segurança
Pública, Acesso à
Justiça e Combate à Violência:
também como diretriz, o programa propõe profunda reforma da Lei de Execução
Penal, que introduza garantias fundamentais e novos regramentos para superar
as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as penas privativas de liberdade
como última alternativa, propondo a redução da demanda por encarceramento e
estimulando novas formas de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo
mecanismo da Justiça Restaurativa (Brasil. Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República. Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH-3). Brasília: SEDH/PR, 2010, p. 105).
Um último dado relevante para compreensão do tema é que o relatório do
Conselho Nacional de Justiça (CNE) sobre o programa “casas de justiça e cidadania”
esclarece, logo na primeira frase, que:
o Programa “Casas de Justiça e Cidadania”, aprovado pelo Plenário do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), teve sua implantação recomendada a
todos os Tribunais do País pela Recomendação nº 26, de 16 de dezembro de
2009, para o desenvolvimento de ações destinadas à efetiva participação do
cidadão e de sua comunidade na solução de seus problemas e na sua
aproximação com o Poder Judiciário (RICHA, Morgana; TAMBURINI, Paulo e
HÉLIO, Jorge. Relatório Programa “Casas de Justiça e Cidadania. Brasília:
CNJ, 2010, p. 3).
Um processo de revisão do papel do Judiciário com decididor dos conflitos
sociais, atribuindo-lhe o lugar de restaurador do convívio pacífico, ao mesmo mediador
de conflitos contém a sensação de perda de poder, como Paulo Freire escreve em
relação ao poder do professor em relação aos discentes, bem como em relação ao
monopólio estatal da violência, quando ao Estado, através da legislação e da decisão
judicial, cabe o poder de promover a paz social. Acontece que, assim como considerar
o discente como co-autor do aprendizado, não retira o poder (responsabilidade e
compromisso) do professor com sua atividade, com o curso ministrado e seu
aprendizado, assim como considerar a justiça restaurativa e demais formas de
participação dos envolvidos na produção da decisão do caso jurídico, tão pouco, retira
do Estado a competência para impedir a volta à vingança privada, à justiça com as
próprias mãos. Incluir as partes como construtoras da decisão judicial, não retira do
Judiciário sua responsabilidade e compromisso com a sociedade, com a decisão e as
consequências dela no cotidiano dos envolvidos, portanto da comunidade.
Nosso propósito aqui foi apenas evidenciar que não faltam alternativas para uma
compreensão sociológica do direito da justiça restaurativa de maneira a ela ser
compreendida como espaço de amplificação da eficácia dos direitos humanos, ou seja,
da dignidade humana.
Referências
BITTAR, Eduardo (2007). Educação e metodologia para os direitos humanos: cultura,
democracia, autonomia e ensino jurídico. In: Educação em direitos humanos:
fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, p. 313334.
DE VITTO, Renato Campos Pinto (2005). Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e
Direitos Humanos. In: Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça. Disponível
em:
http://www.tj.sp.gov.br/Download/FDE/6%20%20Textos%20Complementares/Livro%20Justi%C3%A7a%20Restaurativa.pdf)
FREIRE, Paulo (1970). Pedagogia do oprimido. Saberes necessários à prática
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
FREIRE, Paulo (1992). Pedagogia da esperança. Saberes necessários à prática
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
FREIRE, Paulo (1996). Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
FREIRE, Paulo (1997). Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São
Paulo: Olho dágua.
GOMES PINTO, Renato Sócrates. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil? In:
Justiça
Restaurativa.
Brasília:
Ministério
da
Justiça. Disponível em:
http://www.tj.sp.gov.br/Download/FDE/6%20%20Textos%20Complementares/Livro%20Justi%C3%A7a%20Restaurativa.pdf)
HABERMAS, Jürgen (1988a). Teoria de la acción comunicativa: racionalidad dela
acción y racionalización social. Tomo I (Trad. Manuel Jimánez Redondo). Madri:
Taurus.
HABERMAS, Jürgen (1988b). Teoria de la acción Comunicativa: crítica de la razón
funcionalista. Tomo II. (Trad. Manuel Jimánez Redondo). Madri: Taurus.
HABERMAS, Jürgen (1989). Consciência moral e agir comunicativo (Trad. Guido A.
de Almeida). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
HABERMAS, Jürgen (1990). Pensamento pós-metafísico, estudos filosóficos.
(Trad. Flávio Beno Siebeneichler). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
MORIN, Edgar (2009). Da necessidade de um pensamento complexo. In: MARTINS,
Francisco Menezes e SILVA, Juremir Machado da (org.). Para navegar no século XXI,
Porto
Alegre,
EDIPUCRS,
2000.
Disponível
em:
http://www.ouviroevento.pro.br/leiturassugeridas/EM_Da_necessidade.htm.
RAJAGOPALAN, Kanavillil (2004). A linguística que nos faz falhar. Investigação
crítica. São Paulo: Parábolas.
REZENDE MELO, Eduardo (2005). Justiça restaurativa e seus desafios históricoculturais. Um ensaio crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça
restaurativa em contraposição à justiça retributiva. In: Justiça Restaurativa. Brasília:
Ministério da Justiça. Disponível em: http://www.tj.sp.gov.br/Download/FDE/6%20%20Textos%20Complementares/Livro%20Justi%C3%A7a%20Restaurativa.pdf)
SOUTO, Cláudio. Introdução ao direito como ciência social. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1971.
SOUTO, Cláudio e SOUTO, Solange. Sociologia do direito. Uma visão substantiva.
Porto Alegre: SAFE, 2003.
SOUTO, Claudio. Natureza, mente e direito. Para além do usual acadêmico. Coleção
Faculdade de Direito do Recife. Recife: Faculdade de Direito do Recife, 2009
STAMFORD DA SILVA, Artur e RAMOS, Chiara (2003). Conciliação judicial e ação
comunicativa: acordo judicial como negociação versus consenso. Anuário da PósGraduação em Direito. Recife: PPGD-UFPE, no. 13, p. 75-109.
STAMFORD DA SILVA, Artur, RAMOS, Chiara, BRUM, Lilian e (2009). Conciliação
judicial em teoria e na prática. Pesquisa etnometodológica. Advocatus, Recife: OABPE, N° 2, p. 64-70, Jul..
WEBER, Max (1996). Economia y sociedade. México: Fondo de Cultura Económica.
Artur Stamford da Silva
Doutor em Direito pela UFPE
Prof. Associado da Faculdade de Direito do Recife (CCJ-UFPE)
Pesquisador PQ2 do CNPq
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE
Virgínia Leal
Doutora em Letras pela USP
Profa. Associada do Depto. de Letras (CAC-UFPE)
Contatos:
Para esclarecimentos e informações contatar com:
José Antônio Peres Gediel – Fone: 3221-7271
Silvia Cristina Trauczynski – [email protected]
Fone: 3221-7244