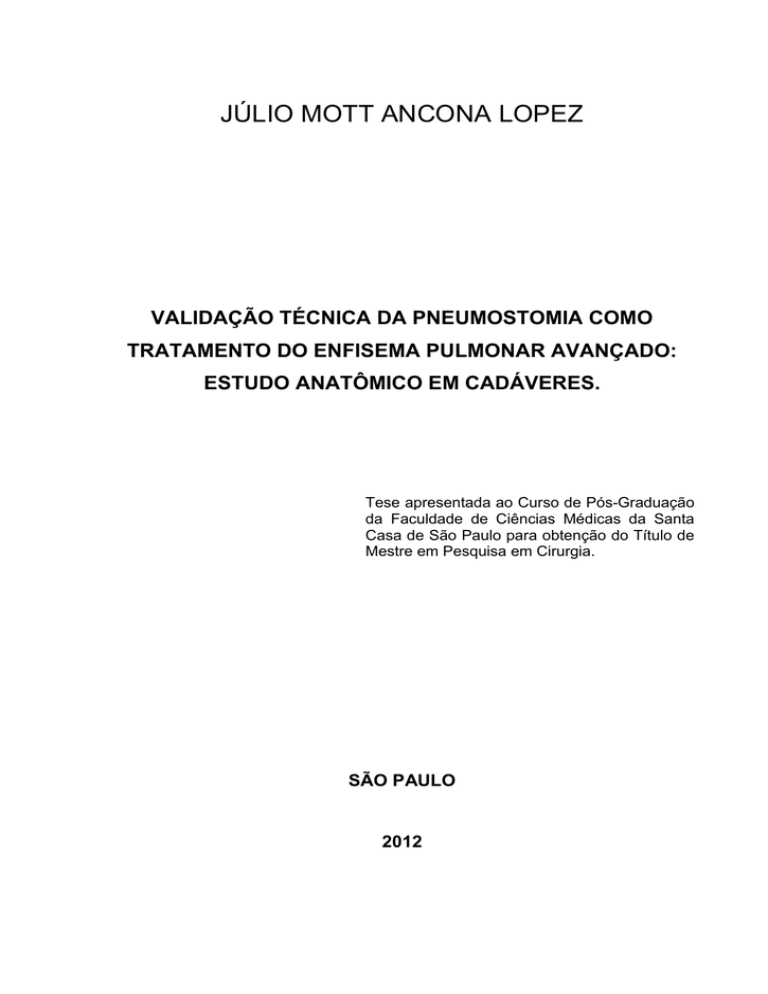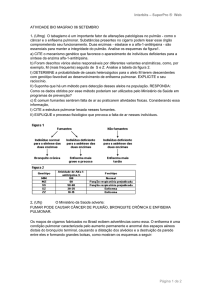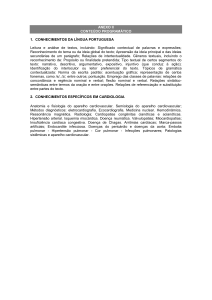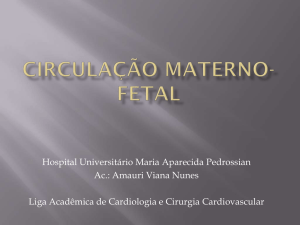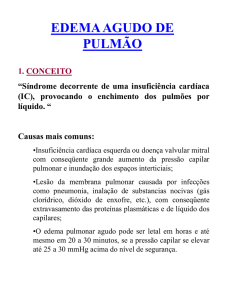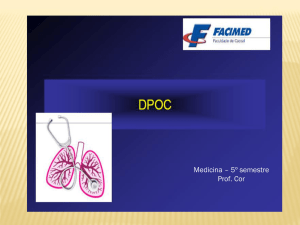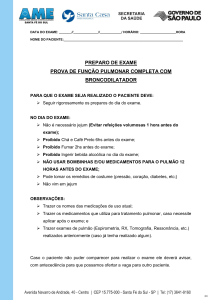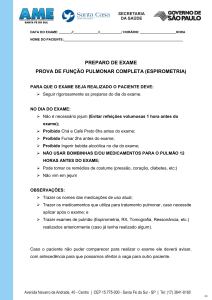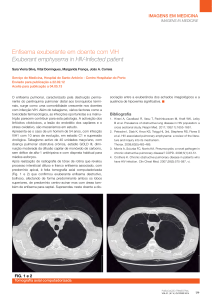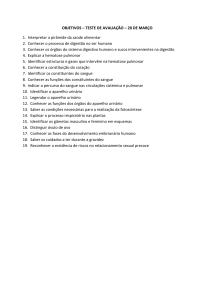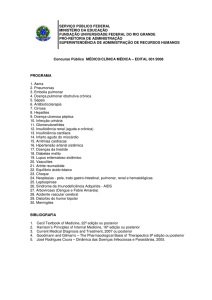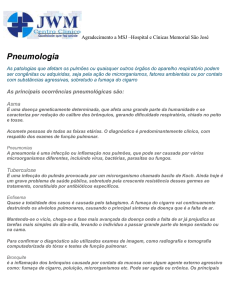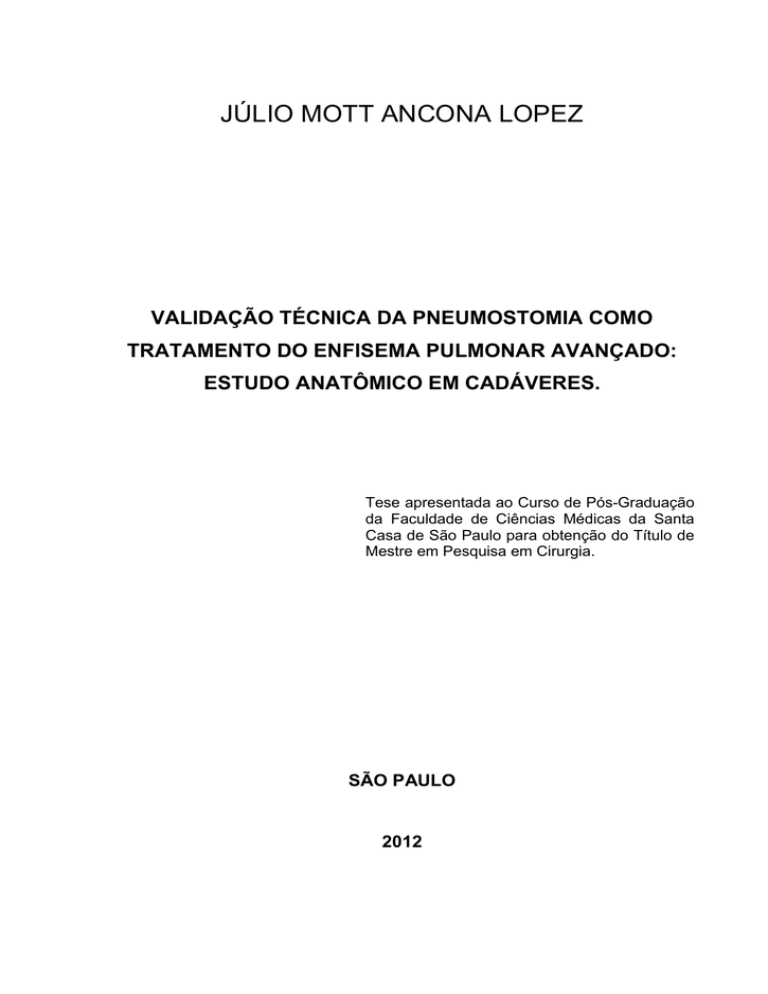
JÚLIO MOTT ANCONA LOPEZ
VALIDAÇÃO TÉCNICA DA PNEUMOSTOMIA COMO
TRATAMENTO DO ENFISEMA PULMONAR AVANÇADO:
ESTUDO ANATÔMICO EM CADÁVERES.
Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo para obtenção do Título de
Mestre em Pesquisa em Cirurgia.
SÃO PAULO
2012
JÚLIO MOTT ANCONA LOPEZ
VALIDAÇÃO TÉCNICA DA PNEUMOSTOMIA COMO
TRATAMENTO DO ENFISEMA PULMONAR AVANÇADO:
ESTUDO ANATÔMICO EM CADÁVERES.
Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo para obtenção do Titulo de
Mestre em Pesquisa em Cirurgia.
Área de Concentração: Reinserção Social
Orientador: Prof. Dr. Roberto Saad Junior
SÃO PAULO
2012
FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pela Biblioteca Central da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Lopez, Julio Mott Ancona
Validação técnica da pneumostomia como tratamento do
enfisema pulmonar: estudo anatômico em cadáveres./ Julio Mott
Ancona Lopez. São Paulo, 2012.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo – Curso de Pós-Graduação em Pesquisa
em Cirurgia.
Área de Concentração: Reinserção Social
Orientador: Roberto Saad Junior
1. Pulmão/cirurgia 2. Abscesso pulmonar/cirurgia 3. Enfisema
pulmonar 4. Procedimentos cirúrgicos torácicos 5. Cadáver
BC-FCMSCSP/47-12
DEDICATÓRIA
Ao meu Mestre, Prof. Dr. Roberto Saad Junior, fonte de exemplo e inspiração.
Ao Prof. Dr. Alexandre Saadeh, coautor de minhas conquistas.
Ao João Paulo Jorge Dias Silva, companheiro de vida.
Dedicatória
AGRADECIMENTOS
À Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fonte de generosidade e
conhecimento ilimitados e merecedora de todos os méritos e conquistas de seus
alunos e professores.
Ao Curso de Pós Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo, representado pela alta qualidade de seus Professores e Cursos,
e aos seus funcionários administrativos, pelo valioso suporte durante esses anos.
Ao Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo, representado pelos seus Diretores e funcionários, que me
acompanharam nessa longa jornada.
Ao Departamento de Anatomia Patológica, em especial ao Prof. Dr. Dino
Martini Filho, e aos funcionários do Necrotério do Hospital Central da Santa Casa de
São Paulo, que gentilmente permitiram meu acesso e facilitaram esta pesquisa.
Ao Prof. Dr. Roberto Saad Junior, por todo seu esforço em difundir seus ricos
conhecimentos de forma atenciosa, respeitosa e humana. A máxima de que “não
existe sabedoria sem compaixão” trilhou vosso caminho pessoal e acadêmico.
Vossa presença ativa na Disciplina de Cirurgia Torácica da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo e nas Sociedades Médicas Brasileiras é
fundamental para manter a Especialidade viva e saudável em nosso meio.
Ao Prof. Dr. Vicente Dorgan Neto, por todos os anos de ensinamentos e
dedicação à Disciplina, sempre disposto a dar o melhor de si como Professor. Minha
gratidão pelas suas valiosas sugestões.
À Profa. Dra. Jacqueline Arantes Giannini Perlingeiro, referência em minha
vida profissional e acadêmica, cujas críticas e orientações foram fundamentais na
execução desta Tese.
Aos colegas Pneumologistas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo, em especial aos Professores Doutores Jorge Ethel Filho e
Roberto Stribulov, pelas ricas ideias na fase inicial do projeto.
Ao Prof. Dr. Marcio Botter, amigo e tutor, que me auxiliou em todas as etapas
da realização desta Tese, sendo, afetivamente, Coorientador da mesma. Suas
correções foram fundamentais para o amadurecimento deste trabalho.
Aos Cadáveres que foram utilizados nas dissecções, o respeito eterno. Seus
sofrimentos foram transformados em esperanças para outros doentes que serão
potencialmente beneficiados com esta pesquisa.
Agradecimentos
Ao Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que agraciou tal
projeto com uma bolsa de estudos.
Ao Mestre em Cirurgia, Dr. Roberto Gonçalves, cuja erudição científica
acrescentou qualidade a este trabalho.
Ao Mestre em Cirurgia, Dr. Jorge Rivabem, meu especial obrigado e carinho.
Sua amizade, comprometimento, atenção e exemplo de cuidado aos pacientes, são
estímulos para a luta profissional diária. Esta tese não teria sido possível sem Vossa
valiosa participação.
Aos Residentes em Cirurgia Torácica que me sucederam, em especial aos
Doutores Eduardo Salvador Gerace, Daniela Cristina Almeida Dias e Aurilio Garcia
Lima e Paula.
À amiga e Instrumentadora Cirúrgica Adriana Delboni, cujo atencioso auxílio
nas dissecções tornou viável a realização deste trabalho.
À Camila Bertini Martins, cuja visão estatística enriqueceu imensamente os
resultados apresentados.
A todos os meus amigos, em especial ao Prof. Francisco Saraiva Jr., exemplo
de vida acadêmica; Dr. Daniel Kanarek, pelas diversas oportunidades profissionais,
Fabio Deslandes, Dra. Patrícia Garacisi, Dra. Renata Laurino e Dr. Ricardo Laurino,
pelo estímulo ao estudo.
Ao meu pai, Fabio Ancona Lopez, pela revisão do texto. Ao meu tio, Carlos de
Barros Mott, pelo estímulo e carinho; ambos possuidores de uma trajetória
acadêmica inspiradora.
Aos irmãos e sobrinhos, pelo amor e compreensão em minhas ausências.
Em especial a minha mãe, Léa Maria de Barros Mott, pelo apoio irrestrito e
amor incondicional.
Agradecimentos
ABREVIATURAS E SÍMBOLOS
CEP – Comissão de Ética em Pesquisa
cm – Centímetros
cm H2O – Centímetros de Água
CRVP - Cirurgia Redutora do Volume Pulmonar
DLCO – Capacidade de Difusão Pulmonar do Monóxido de Carbono
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
EF – Enfisema Pulmonar
EUA – Estados Unidos da América
FAPESP – Fundação do Amaparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FCMSCSP – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
VEF1 – Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo
Kg – Quilograma
mg - Miligramas
ml – Mililitros
mmHg – Milímetros de Mercúrio
NETT - National Emphysema Tratment Trial
PCO2 – Pressão Parcial do Gás Carbônico
RVPE – Redução do Volume Pulmonar por via Endoscópica
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TXP - Transplante de Pulmão
USD – Dolar americano
VATS – Cirurgia Torácica Vídeo-Assistida
VENT - Endobronchial Valve for Emphysema Palliation Trial
Abreviaturas e Símbolos
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ……………………………………………………………………...
1
1.1. Cirurgia da redução do volume pulmonar ................................................
5
1.2. Transplante de pulmão .............................................................................
8
1.3. Redução do volume pulmonar por via endoscópica .................................
10
1.3.1- Fenestração da parede brônquica.....................................................
11
1.3.2- Implantação de válvulas brônquicas unidirecionais ou instilação de
adesivos biológicos ..........................................................................
1.4. Drenagem do parênquima pulmonar com anestesia local .......................
12
16
1.4.1- Drenagem da bolha de enfisema gigante .........................................
16
1.4.2- Pneumostomia ..................................................................................
19
2. OBJETIVO .........…………………………………………………………………..
21
3. CASUÍSTICA E MÉTODO ………………………………………………………..
23
3.1. Técnica operatória ..................................................................................
26
3.2. Estudos estatísticos ................................................................................
36
4. RESULTADOS ……………………………………………………………………..
37
4.1. Variável sexo ...........................................................................................
38
4.2. Variáveis antropométricas .......................................................................
38
4.3. Variáveis anatômicas ..............................................................................
39
4.4. Análise de correlação ..............................................................................
43
5. DISCUSSÃO ...................................................................................................
44
5.1. Considerações finais ...............................................................................
57
6. CONCLUSÃO ……………………..………………………………………………..
59
7. ANEXOS ………………………………………………………………………….....
61
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………………………..
71
RESUMO .........................................................................................................
75
ABSTRACT .....................................................................................................
77
Sumário
1. INTRODUÇÃO
2
A
doença
pulmonar
obstrutiva
crônica
é
uma
entidade
nosológica
caracterizada como obstrução crônica do fluxo aéreo, associado à bronquite crônica
e a enfisema(1). Neste ocorre aumento anormal dos espaços aéreos distais ao
bronquíolo terminal, acompanhado por alterações destrutivas das paredes
alveolares.
O tecido alveolar supre duas funções críticas no mecanismo da ventilação. A
primeira função é dar característica elástica, de tal forma que o pulmão recue em
cada respiração. Além desta propriedade, o tecido alveolar promove um efeito em
“corda” que dá uma sustentação radial das vias aéreas durante a expiração. No
enfisema, a destruição das paredes alveolares diminui as funções essenciais do
mecanismo da ventilação. Sem a propriedade do recuo elástico e da sustentação
radial do tecido alveolar, as pressões alveolares colapsarão as vias aéreas na
expiração.
Finalmente, doentes enfisematosos perdem a habilidade de expirar
apropriadamente o que leva a hiperinsuflação (aprisionamento aéreo) do pulmão. O
efeito debilitante da hiperinsuflação é um extremo esforço respiratório e a
incapacidade de conduzir as trocas gasosas em uma proporção satisfatória.
Há um conceito importante que deve ser salientado na dinâmica pulmonar: a
ventilação colateral, isso é, a ventilação de ar pelas estruturas alveolares através de
canais (poros de Khon, Lambert e Martin), descritos em 1930 (2). No pulmão
enfisematoso, a ventilação colateral é mais evidente, desviando o ar da via aérea
normal, uma vez que há obstrução das vias aéreas(3,4).
Teoricamente, o fenômeno da ventilação colateral pode ser usado para
expelir o ar aprisionado do pulmão enfisematoso, sendo que seus potenciais
benefícios incluem: aumento do fluxo aéreo expiratório, diminuição do trabalho
expiratório, aumento na troca gasosa, diminuição no volume residual, diminuição da
dispneia e consequente aumento da ventilação e perfusão(5).
Estima-se que 14 milhões de pacientes sofram de DPOC nos EUA; desse
total, aproximadamente 1,7 milhões apresenta EP. Entre essa paciente grande parte
evolui para dispnéia grave com limitação extrema aos exercios e subsequente má
Introdução
3
qualidade de vida(6). Em 2001 aproximadamente 16.242 americanos morreram de
enfisema(7).
No Brasil, segundo os dados do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) do Ministério da Saúde, em 2003 foram gastos
R$ 66.711.853,00 (USD 22.846.526,00) como resultado de 182.035 internações
hospitalares de pacientes com idade igual ou superior que 50 anos e com
diagnóstico de DPOC(8).
Os tratamentos habituais incluem programas de cessação do hábito tabágico,
broncodilatadores, corticosteróides, metilxantina, antibióticos (quando indicado) e
oxigenioterapia suplementar(6). As técnicas e programas de reabilitação pulmonar
conseguem apresentar algum benefício adicional na qualidade de vida desses
pacientes. Entretanto, a maioria desses indivíduos, em fase avançada da doença,
apresenta extrema dispneia associada à péssima qualidade de vida(6).
A despeito de o tratamento clínicio permitir a redução dos sintomas e o tempo
de cada exacerbação, não há provas definitivas de que seja capaz de alterar a
história natural da doença ou de diminuir a mortalidade(9).
Dessa forma, diversas abordagens cirúrgicas têm sido propostas desde o
início do século para o tratamento do enfisema pulmonar avançado, sendo a cirurgia
redutora do volume pulmonar (CRVP) e o transplante de pulmão (TXP), as mais
comumente indicadas. Em ambos os métodos, são necessários o emprego de
anestesia geral, internação em unidade de terapia intensiva e permanência
hospitalar prolongada. Estes métodos apresentam alta morbidade e mortalidade,
além de custos elevados. Nos Estados Unidos da América, a CRVP tem um custo de
aproximadamente USD 20.000 e o TXP unilateral de USD 400.000(10).
Além destas modalidades cirúrgicas, há também a redução volumétrica
pulmonar por via endoscópica (RVPE) e a drenagem do parênquima pulmonar com
anestesia local, quer seja através da drenagem da bolha gigante de enfisema ou da
pneumostomia, como formas alternativas e recentes no tratamento do EP avançado.
Introdução
4
A cirurgia do enfisema pulmonar está historicamente sintetizada no Quadro 1,
que segue.
Quadro 1– Histórico da Cirurgia do enfisema pulmonar - Beneditt (2004)(11).
Procedimento
Ano de Introdução
Costocondrectomia
1906
Denervação autonômica
1923
Toracoplastia
1935
Bulectomia
Década de 40
Pneumoperitôneo induzido
1950
Pleurectomia parcial
1952
CRVP
1953 – Reintroduzida em 1994
TXP
1963
Pneumostomia
2008
Desde o começo do século passado, a toracoplastia com ressecção da
cartilagem costal com o intuito de reduzir o tamanho da caixa torácica nos paciente
enfisematosos, foi utilizada com pouco sucesso. Depois da Primeira Guerra Mundial,
vários avanços técnicos foram conquistados a fim de se realizar novos
procedimentos, tais como a utilização de modernas drogas anestésicas, a
monitorização peri-operatória, a determinação do risco cirúrgico com teste de função
pulmonar, o desenvolvimento da ventilação monopulmonar, o melhor controle
hemostático, a utilização da broncoscopia e os exames de Raios-X. Diante de tais
avanços, tornou-se possível a ressecção de tecido pulmonar, como nos casos de
supurações, doenças granulomatosas e neoplasias, com risco cirúrgico elevado,
porém aceitável.
Entre 1930 e 1960, diversos cirurgiões torácicos descreveram técnicas
operatórias relacionadas à cirurgia do enfisema, tais como alargamento da cavidade
torácica (esternotomia transversa) ou diminuição da mesma (toracoplastia e/ou
frenicotomia). A interrupção neuronal via simpatectomia, vagotomia, glomectomia
Introdução
5
ou denervação hilar, foram experimentadas a fim de se reduzir o broncoespasmo, a
secreção e a dispneia(12). Tais técnicas tentavam erroneamente tratar o defeito
básico provocado pela doença do ponto de vista fisiopatológico e anatômico(6).
1.1. Cirurgia da Redução do Volume Pulmonar (CRVP)
Outra abordagem para o tratamento cirúrgico do enfisema foi proposta por
Otto Brantigan, Professor de Cirurgia e Anatomia na Universidade de Maryland
(EUA). Ele concluiu que a remoção de todo o tecido doente do pulmão enfisematoso
não era possível, entretanto, propôs que a ressecção parcial e/ou plicatura do
parênquima pulmonar, restaurava parcialmente a posição e o funcionamento
diafragmático. Este autor realizou toracotomias com segmentectomias apical
bilateral. Entre 1957 e 1961, foram operados 56 doentes, com alguma melhora da
dispneia na maioria deles; porém não foram realizadas medidas fisiológicas
sistemáticas no seu estudo. Tal técnica ficou estagnada por quatro décadas, devido
as críticas de remoção de tecido pulmonar de pacientes com insuficiência
respiratória já instalada e aos pobres resultados obtidos, relacionados às precárias
técnicas de cuidados peri-operatórios(13), além da alta mortalidade cirúrgica
(16%)(12,14).
Em 1991, WakabayashiI retomou o interesse na CRVP quando descreveu o
resultado de 22 doentes submetidos à ablação de tecido enfisematoso com a
utilização do laser por videotoracoscopia. Apresentou uma mortalidade precoce de
10%, e os sobreviventes obtiveram um aumento de 35% na capacidade vital e 43%
de melhora no VEF1(12). Entretanto, o interesse por tal técnica diminuiu devido às
dificuldades materiais para a realização da mesma, e ao elevado número de mortes
tardias devido às complicações, como pneumotórax.
Pressionado
pelo grande
número de
pacientes encaminhados para
transplante de pulmão, e sem poder operá-los devido ao baixo número de doadores,
I
Wakabayashi (1991) Apud Wise RA, Drummond MB. The role of NETT in emphysema research.
Proc Am Rhorac Soc. 2008; 5:385-92.
Introdução
6
em 1995, Cooper et al(15) descrevem a esternotomia mediana associado à remoção
de 30% do volume pulmonar bilateralmente.
Os objetivos básicos da CRVP são: melhora no recolhimento elástico
pulmonar levando a maior tração radial nas vias aéreas; diminuição da resistência
de vias aérea e aumento dos fluxos expiratórios; redução na hiperinsulflação
pulmonar, permitindo ao diafragma adquirir configuração mais fisiológica para gerar
força inspiratória e produzir trabalho ventilatório mais eficiente(6).
A CRVP pode ser realizada por esternotomia, toracotomia anterior unilateral
ou bilateral, toracotomia lateral unilateral ou bilateral, ou através de abordagem com
cirurgia videoassistida. Qualquer que seja a técnica cirúrgica, aberta ou por VATS,
há conseso de que os melhores resultados obtidos são com a abordagem bilateral.
Em 2006, Mineo et at(16), afim de se evitar as complicações relacionadas à
anestesia geral e ressecção do parênquima doente, descrevem a CRVP com a
utilização de anestesia epidural com uso de VATS e grampeador, sem ressecção
pulmonar. Apesar do número reduzido de pacientes operados na série (n=12),
apresentou resultados semelhantes à técnica tradicional de CRVP.
O grupo da Universidade de Washington, um dos centros mais ativos em TXP
na ocasião, indicava a CRVP como um método de reduzir a hiperinsulflação no
pulmão nativo enfisematoso, seguido de TXP contralateral. A fim de se reduzir as
complicações encontradas por Brantigan, tais como o escape aéreo persistente e o
pneumotórax, utilizou-se a sutura mecânica com grampeadores, associados a um
reforço com pericárdio bovino na linha de sutura. Subsequentemente observou-se
que o procedimento podia ser realizado mesmo em pacientes que não foram
transplantados, com melhora dramática da condição pulmonar dos doentes (no
primeiro estudo publicado com 20 casos, houve uma melhora de 86% no VEF1 sem
nenhuma mortalidade)(12,15). Desta forma, de 1995 a 1997 foram realizados 711
procedimentos no EUA. Tal experiência demonstrou dados alarmantes relacionados
a esta técnica: depois de um ano da cirurgia, a mortalidade foi de 26 %, o tempo de
hospitalização foi maior que 30 dias em 16% dos doentes, e 40% dos pacientes
precisaram voltar ao hospital dentro de 15 meses após a cirurgia(12).
Introdução
7
Estes resultados alarmantes levaram as agências reguladoras de saúde dos
EUA a conduzirem um estudo prospectivo multicêntrico randomizado (National
Emphysema Tratment Trial - NETT), que permitiu identificar o perfil de pacientes que
se beneficiariam com a CRVP(12,14).
O NETT (National Emphysema Treatment Treatment Trial Research Group)(17)
definiu dois grupos de tratamento, um clínico e outro clínico e cirúrgico, realizado no
período de janeiro de 1998 a julho de 2002. Um total de 1.218 pacientes foi
considerado para o estudo. Foram selecionados os portadores de enfisema
pulmonar bilateral avançado. Após a randomização, 610 foram encaminhados
tratamento clínico e 608 para tratamento combinado. Todos foram submetidos a um
mesmo protocolo de avaliação clínica e a um programa de reabilitação pulmonar. O
estudo permitiu a identificação de um subgrupo de pacientes de prognóstico
favorável, quando submetidos à CRVP, formado por portadores de enfisema
pulmonar avançado e heterogêneo, com predomínio nos lobos superiores, na
presença de hiperdistensão difusa e baixa capacidade para exercícios físicos. O
ganho funcional e a melhora na qualidade de vida em 6, 12 e 24 meses favorecem o
grupo cirúrgico. Em 24 meses, a capacidade aos exercícios sofreu melhora
expressiva no grupo cirúrgico do que nos pacientes submetidos apenas ao
tratamento clínico. Para estes, uma melhora funcional, ainda que de pequena
magnitude, foi capaz de produzir impacto significativo na qualidade de vida.
Ao considerarmos aspectos econômicos, AlbertII et al (1996) descrevem que
apesar do tempo de hospitalização ter sido curto (oito dias em média), os custos
foram em média de USD 26.669,00, ou seja, extremamente elevados para a
realidade brasileira.
Atualmente, menos de 200 CRVP são realizadas por ano nos EUA(18).
II
Albert el al (1996) Apud National Institutes of Health. National Heart, Lung and Blood Institute.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease Data Fact Sheet”, March 2003. Available from:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/copd/copd_wksp.pdf.
Introdução
8
1.2. Transplante de pulmão
Na Rússia, DemikvoIII, em 1947, propôs modelos caninos experimentais de
autotransplante dos pulmões, do coração e do bloco coração-pulmão.
Na década de 1950, Hardin Kittle e MetrasIV descreveram os primeiros TXPs
realizados em cães com sucesso, no EUA e França, respectivamente.
HardyV, em 11 de junho de 1963, realizou o primeiro TXP em humanos, no
Hospital Universitário da Universidade de Mississipi. O paciente faleceu após 18
dias, porém, tal cirurgia acendeu o interesse mundial pelo tema entre os cirurgiões,
uma vez que tecnicamente o procedimento mostrou-se viável.
Durante os próximos 15 anos, aproximadamente 40 TXPs foram realizados
em diversos países. A maioria dos doentes falecia após duas semanas do
procedimento, em decorrência da rejeição ao enxerto, sepse, estenose ou fístula
brônquica.
Lima, CooperVI descrevem, em 1981, que a utilização de altas doses de
corticosteróides como imunossupressores possui um efeito prejudicial à anastomose
brônquica. Os mesmos autores preconizam a utilização de epíplon como um protetor
de tal anastomose.
A partir da década de 1980, a ciclosporina surge como um potente
imunossupressor, permitindo a diminuição da dose de corticosteroide utilizada,
possibilitando resultados pós-operatórios cada vez mais satisfatórios. Tal droga,
III
Demikvo (1947) Apud Botter M, Saad Junior R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr
R, Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005.
p. 499-530.
IV
Kittle, Mestras (1950) Apud Botter M, Saad Junior R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In:
Saad Jr R, Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo:
Atheneu; 2005. p. 499-530.
V
Hardy (1963) Apud Botter M, Saad Junior R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr R,
Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005. p.
499-530.
VI
Lima, Cooper (1981) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr
R, Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005.
p. 499-530.
Introdução
9
como descrito por GolderbergVII, em 1983, não interfere no processo de cicatrização
brônquica.
Em Stanford, Reitz e sua equipe, em 1982, reportam os primeiros casos de
transplante
combinado
coração-pulmão
em
pacientes
com
importante
comprometimento de ambos os órgãos. A partir desta publicação, o transplante
cardiopulmonar foi considerado a melhor alternativa terapêutica cirúrgica para
doenças avançadas, tanto para as cardíacas como para as pulmonares.
O grupo de Toronto, liderado por CooperVIII, em 1983, realizou o primeiro TXP
único bem sucedido, em doente masculino de 58 anos com fibrose pulmonar
idiopática, com sobrevida de seis anos.
Em 1989, MalIX e colaboradores, descrevem o TXP para o tratamento do
enfisema avançado. A técnica de TXP duplo, que viria a tornar possível a realização
de TXP em doenças supurativas foi demonstrada clinicamente pelo grupo de
Toronto, que realizou o transplante duplo de pulmões. O método foi posteriormente
aperfeiçoado pelo mesmo grupo e, em sequência, por NoierclercX e colaboradores,
em 1989, e por PasqueXI e colaboradores, em 1990, que descreveram a técnica de
TXP bilateral sequencial utilizada até os dias atuais(19,20).
O TXP tem como indicações gerais: paciente portador de pneumopatia
terminal, com severa limitação funcional, com expectativa de vida menor que dois
anos, sem alternativas terapêuticas, sem comorbidades, com menos de 65 anos de
idade e com boas condições psicossocial e familiar(21).
VII
Goldenberg (1983) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr
R, Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005.
p. 499-530.
VIII
Cooper (1983) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr R,
Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005. p.
499-530.
IX
Mall et al (1989) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr R,
Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005. p.
499-530.
X
Noierclerc et al (1989) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad
Jr R, Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu;
2005. p. 499-530.
XI
Pasque (1990) Apud Botter M, Saad Jr R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr R,
Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo: Atheneu; 2005. p.
499-530.
Introdução
10
Do ponto de vista técnico, opta-se por transplantar o pulmão mais
comprometido. Tal seleção é feita pela cintilografia perfusional. Quando a doença é
bilateral, prefere-se transplantar o pulmão direito. Nos últimos anos tem se indicado
mais frequentemente o transplante duplo, especialmente na população abaixo dos
50 anos, uma vez que os resultados funcionais e a expectativa de vida em cinco
anos são melhores nos pacientes submetidos ao TXP bilateral (66,7% vs. 44,9%)(22).
A análise comparativa dos pacientes em condições semelhantes em lista de
espera para o TXP demonstra que o mesmo tem um impacto indiscutível sobre a
qualidade de vida dos transplantados, mas não altera significantemente a
expectativa de vida desssa população, aproximadamente de 55% em cinco anos.
Por outro lado, os pacientes transplantados têm uma morbidade potencial
considerável relacionada à inevitável imunossupressão; as reinternações são
frequentes para 30% dos mesmos. O custo do transplante, considerado um
procedimento caro para a nossa realidade, ainda é inferior ao custo de manutenção
do paciente com enfisema grave(13).
TXP tem duas limitações importantes: a crônica falta de órgãos e o pequeno
número de centros especializados, gerando um aumento no tempo de espera pelo
órgão, de tal forma que 25% dos doentes selecionados para o TXP falecem na fila
de espera(19).
1.3. Redução do volume pulmonar por via endoscópica
Nos últimos anos, têm sido descritas algumas técnicas endoscópicas que
objetivam uma redução volumétrica do pulmão enfisematoso. São elas:
Introdução
11
1.3.1- Fenestração da parede brônquica (Fig. 1):
Figura 1 - Colocação de stent transbrônquico (Lausberg et al,XII 2003).
Este procedimento foi descrito por Rendina et alXIII (2003) e Lausberg et al
(2003) e envolve a criação de fenestrações brônquica utilizando catéter de ablação
de radiofrequência em brônquios segmentares ou subsegmentares. Stents
expansíveis são transfixados através da parede brônquica. Este método possui um
desafio técnico e potencialmente limitante, uma vez que os vasos brônquicos correm
adjacentes à via aérea. Portanto, um catéter com ultrassom doppler é utilizado para
determinar o local da inserção do stent e evitar sangramentos(23). Teoricamente, esta
técnica pode ser útil tanto em portadores de enfisema homogêneo como
heterogêneo(24).
Choong et al (2008)(4) utilizaram dez pulmões enfisematosos explantados e
ventilando-os em uma câmera pneumática que simula as pressões na cavidade
torácica, implantou três ou quatro stents transbrônquicos nos lobos superiores, que
serviram como uma passagem alternativa para o ar aprisionado. Houve uma
significariva redução da resistência do fluxo aéreo, com melhora do padrão
obstrutivo medido pelos volumes pulmonares (Fig. 2).
XII
Lausberg et al (2003). Apud Brenner M, Hanna NM, Mina-Araghi R, Gelb AF, McKenna RJ Jr, Colt
H. Innovative approaches to lung volume reduction for emphysema Chest. 2004; 126(1):238-48.
XIII
Rendina et al (2003). Apud Brenner M, Hanna NM, Mina-Araghi R, Gelb AF, McKenna RJ Jr, Colt
H. Innovative approaches to lung volume reduction for emphysema Chest. 2004; 126(1):238-48.
Introdução
12
Figura 2 – À esquerda o pulmão enfisematoso explantado sem a utilização da válvula. À
direita, o mesmo pulmão, ventilando sobre as mesmas condições, após a
colocação dos stents transbrônquicos. Há uma visível redução do volume
residual(4).
1.3.2- Implantação de válvulas brônquicas unidirecionais ou instilação de
adesivos biológicos
Teoricamente, a redução volumétrica pulmonar pode ser obtida através do
bloqueio das pequenas vias aéreas, com colapso dos alvéolos distais. Uma
variedade de métodos foi proposta, incluindo a injeção de biopolímeros ou colas
biológicas, a instilação de mediadores biologicamente ativos que causam contração
e fibrose, e as vávulas endobrônquicas ou plugs, e/ou a combinação destes
métodos.
Ingenito et al (2008)(24) publicaram o primeiro manuscrito descrevendo a
RVPE utilizando a instilação de cola de fibrina, causando colapso pulmonar regional.
Teoricamente, as vantagens deste método são: minimamente invasivo, há
possibilidade de repetição da técnica no mesmo paciente, ausência de fístula aérea,
economicamente acessível e possibilidade de realização ambulatorialmente. As
possíveis complicações são: alteração da relação ventilação/perfusão causando
Introdução
13
hipoxemia, o risco de infecção pós-obstrutiva e a possibilidade de reexpansão das
áreas ocluídas, devido à ventilação colateral.
Figura 3 - Aspecto endoscópico da colocação de plug endobrônquico. A– Medida do
diâmetro brônquico. B– Inserção do fio guia. C- Inserção do sistema pelo fio
guia. D– Plug locado(25).
Os plugs endobrônquicos(26) (Fig. 4, 5) funcionam da mesma maneira, e
possuem a vantagem de serem retirados e reposicionados, sendo que Toma et al
(2003)(25) descreveram sua utilização em 23 pacientes sem nenhuma mortalidade(23).
Introdução
14
Figura 4 - Plug endobrônquico(26).
Figura 5 - Aspecto tomográfico de dois plugs endobrônquicos causando
atelectasia segementar parcial do lobo superior direito(26).
As válvulas endobrônquicas são desenhadas de tal forma que permanecem
fixadas à parede brônquica por “ganchos” de nitinol e permitem a passagem de
muco e secreções, pois possuem internamente outra vávula unidirecional (Fig. 6).
Introdução
15
Figura 6 - Válvula endobrônquima com nitiniol (Emphasys Medical Inc; Redwood City, CA).
Noppen et al (2006)(27) descrevem com sucesso a utilização da válvula para o
tratamento de bolhas gigantes enfisematosas, em caso de paciente sem condições
clínicas para bulectomia cirúrgica. As duas figuras a seguir demonstram tomografias
de tórax pré e pós-colocação de válvulas endobrônquicas em lobo infeior esquerdo,
com colapso da bolha enfisematosa gigante (Fig. 7).
Figura 7 - Tomografia de tórax com bolha enfisematosa gigante tratada
endoscopicamente(27).
Introdução
16
O VENT (Endobronchial Valve for Emphysema Palliation Trial) foi o primeiro
estudo randomizado e multicêntrico sobre a utilização da RVPE, conduzido pela
Universidade de Pittsburgh e publicado em 2010(28). Levantou-se a segurança e a
eficácia da RVPE em pacientes com enfisema heterogêneo, comparado ao
tratamento medicamentoso exclusivo.
Dos 321 pacientes, 220 foram submetidos ao tratamento endoscópico e 101
receberam tratamento clínico habitual (grupo controle). Após 90 dias do
procedimento, no grupo submetido à RVPE, houve maior exacerbação do DPOC
(7,9% vs 1,1%) e hemoptise (7,9% vs 0%). Após seis meses, houve um aumento de
4,3% no VEF1 do grupo submetido à RVPE, enquanto houve uma diminuição de
2,5% no VEF1 do grupo controle. O teste da caminhada de seis minutos foi
semelhante aos dois grupos. Aos 12 meses, as complicações ocorreram mais
frequentemente nos pacientes submetidos à RVPE (10,3% vs. 4,6%), como a
pneumonia no lobo manipulado. O tratamento endoscópico parece ser mais efetivo
quanto mais heterogêneo for o enfisema e se as fissuras pulmonares não são
completas (menor ventilação colateral). Portanto, o VENT conclui que os benefícios
clínicos com o uso de válvulas endobrônquicas são modestos, à custa de maiores
complicações, tais com exacerbação do DPOC, pneumonia e hemoptise, após o
implante das mesmas.
1.4 – Drenagem do parênquima pulmonar com anestesia local
1.4.1– Drenagem da bolha de enfisema gigante
O EP bolhoso ocorre em consequência de processos broncoespásticos e
obstrutivos dos bronquíolos, com ruptura dos septos interalveolares, constituindo
vesículas cheias de ar e com parede extremadamente fina, funcionalmente inertes,
ocupando um grande espaço vital nas cavidades torácicas(29).
A remoção cirúrgica de bolhas de EP justifica-se, pois permite a diminuição do
espaço morto, o qual desvia parte do volume corrente e a reexpansão de áreas
Introdução
17
pulmonares atelectasiadas.
No Departamento de Cirurgia da FCMSCSP, a cirurgia para o EP é realizada
desde
1956(30),
nos
casos
das
toracotomias
para
ressecção
de
bolhas
enfisematosas pulmonares.
Até a década de 80, a ressecção das bolhas de enfisema, através de
toracotomia ou esternotomia, era o procedimento mais realizado. A partir da década
de 90, tais ressecções também foram realizadas através da VATS. Porém,
independente da via de acesso, os pacientes são submetidos à anestesia geral,
ressecção de parênquima pulmonar doente e sutura (manual ou por grampeamento)
do mesmo. É comum, como morbidade destes procedimentos, a difícil extubação,
retenção de secreções, persistência de fístulas aéreas, a presença de infecções e o
tempo prolongado de internação. A mortalidade varia de 1,5% a 21%(29).
A partir de 1996, foi introduzida, pelo grupo de Cirurgiões da FCMSCSP, uma
alternativa terapêutica para os doentes portadores de bolhas enfisematosas
gigantes, a drenagem da bolha(31), realizada com anestesia local, por meio de
pequena toracostomia. Essa técnica foi desenvolvida em nosso Serviço e é baseada
em uma modificação do procedimento idealizado por Monaldi (1938)(32) para o
tratamento de cavidades pulmonares tuberculosas. Realiza-se a drenagem simples
das bolhas pulmonares (ou “bulhostomia”), sem a ressecção das mesmas, sendo
associada à pleurodese com talco, instilado pelo dreno (Fig. 8).
Figura 8 - Realiza-se uma pequena incisão na parede da bolha para
a introdução de uma sonda de Folley(29).
Introdução
18
Botter et al(31) descrevem, em artigo de 2007, 49 bulectomias realizadas por
toracotomia em 46 pacientes, quatro bulectomias por VATS em quatro pacientes,
oito drenagens viteotoracoscópicas de bolhas em seis doentes e 31 drenagens de
bolha por toracostomia e anestesia local em 27 doentes. Houve complicação geral
de 40,2%, sendo as mais frequentes o empiema pleural e a pneumonia. Houve
quatro mortes nas 92 intervenções realizadas (4,3%), todas ocorridas em doentes
submetidos à bulectomias por toracotomia. A melhora dos sintomas foi relatada em
94,5% dos doentes em um mês após a operação. Do ponto de vista funcional, houve
melhora dos parâmetros espirométricos um mês após a operação, quando
comparados aos valores obtidos no pré-operatório(31). O Quadro 2(29) demonstra a
comparação de dados espirométricos, entre seis pacientes que foram submetidos à
drenagem da bolha, nos períodos pré e pós-operatório (30 dias).
Introdução
19
Quadro 2- Comparação de dados espirométricos pré e pós-operatórios.
Saad Jr et al (2000)(29).
1.4.2- Pneumostomia
Com o objetivo de propor mais um procedimento terapêutico que poderá
aliviar os efeitos debilitantes do EP avançado, em 2008 foi apresentado por
Cirurgiões da mesma instituição um novo protocolo(5) para tratar doentes portadores
de EP difuso, nos quais a terapêutica clínica máxima já havia sido realizada e, ainda
assim, existe dispneia incapacitante.
O método propõe promover passagens expiratórias alternativas à via aérea
principal para o aprisionamento no pulmão enfisematoso, por meio de uma
Introdução
20
drenagem do parênquima pulmonar, comunicando os alvéolos ao meio exterior.
Uma pequena toracotomia é feita para dar acesso do pulmão afetado, na linha
hemiclavicular do segundo espaço intercostal. Um dreno, de tamanho único, é
colocado na abertura e fixado ao pulmão. O dreno situa-se dentro do parênquima
pulmonar e é inserido após dissecção romba do mesmo. Outro dreno de tórax é
colocado no espaço pleural para ajudar a reexpansão pulmonar enquanto o primeiro
permanece no pulmão indefinidamente.
Tal procedimento surge como alternativa operatória à CRVP e TXP, e
apresenta as seguintes vantagens:
É realizado com anestesia local, sem a necessidade de uso de suporte
ventilatório durante o ato cirúrgico;
Não há o inconveniente da ressecção e sutura de um parênquima pulmonar
doente;
Não se utiliza imunossupressores e consequentemente todos os inconvenientes
efeitos adversos;
É tecnicamente simples;
Permite breve internação e pode dispensar internação em Unidade de Terapia
Intensiva;
Baixo custo (aproximadamente USD 1000).
Após a aprovação pelo CEP da FCMSCSP, foram realizados os primeiros
procedimentos operatórios com resultados encorajadores, e, atualmente, já são
nove pacientes operados pela técnica. Os resultados dos três doentes operados
foram demonstrados em publicação recente(33).
Entretanto, apesar da melhora clínica importante observada nos pacientes
operados, não há nenhum estudo experimental descrevendo os aspectos técnicos e
anatômicos da drenagem pulmonar, no que se diz respeito à segurança da técnica
em acessar satisfatoriamente o pulmão, sem que haja lesão de estruturas vitais do
doente. Além disso, se a utilização de um dreno com tamanho fixo, independente
dos dados antropométricos do doente, interfere em tais resultados.
Introdução
21
2. OBJETIVO
22
O presente estudo tem como objetivo validar a técnica operatória da
pneumostomia através de estudo anatômico em cadáveres, definir se o local
preconizado pelo protocolo inicial é adequado e seguro, e demonstrar a relação
anatômica do tubo de drenagem com as seguintes estruturas: parede torácica,
pulmões, grandes vasos e mediastino.
Objetivo
23
3. CASUÍSTICA E MÉTODO
24
Inicialmente, o projeto de pesquisa foi apresentado à Comissão Científica do
Departamento de Cirurgia e à Chefia do Departamento Anatomia Patológica, a fim
de se obter autorização para execução do mesmo.
Após tal liberação, o projeto de pesquisa foi enviado para apreciação junto ao
CEP da FCMSCS, sendo aprovado em 25 de maio de 2011 (Anexo 2). Após
liberação do CEP, as dissecções foram realizadas entre maio e novembro de 2011,
no Necrotério do Hospital Central da Santa Casa de São Paulo.
O projeto foi agraciado com a bolsa da FAPESP, entre fevereiro de 2010 a
2011.
Todas as dissecções foram realizadas pelo mesmo pesquisador.
Foram utilizados 30 cadáveres adultos de ambos os sexos. A escolha dos
mesmos baseou-se nos critérios de inclusão e exclusão, que seguem:
Critérios de Inclusão no estudo:
Cadáveres adultos, que possuíam o TCLE assinado por familiar ou
responsáveis;
Pacientes do Hospital Central da Santa Casa de São Paulo falecidos por
causas naturais (não violentas), que se encontravam no Necrotério da
Instituição. Tal Serviço faz parte do Departamento de Anatomia Patológica da
FCMSCSP;
Integridade da parede torácica, mediastino e seus órgãos constituintes,
espaço pleural e pulmões.
Critério de exclusão:
Cadáveres que apresentavam grandes destruições pulmonares, como
importantes aderências pleuro-pulmonares (os casos de tuberculose ou
pneumonias importantes, por exemplo).
Inicialmente, foram medidos os diâmetros torácicos com uso de régua e
esquadro, tendo como referência o ângulo infraesternal (Fig. 9, 10, 11, 12).
Casuística e Método
25
Figura 9 - Medida do diâmetro anteroposterior.
Figura 10 - Esquema da medida anteroposterior com régua e esquadro.
Casuística e Método
26
Figura 11 - Medida do diâmetro látero-lateral.
Figura 12 - Esquema da medida do diâmetro latero-lateral com régua e esquadro.
3.1. Técnica operatória
Em todos os procedimentos foi utilizado o mesmo par de drenos, que medem
7,5cm cada (Fig. 13).
Casuística e Método
27
Figura 13 - Detalhe dos drenos de aço utilizados no estudo.
Inicialmente, o dreno foi inserido perpendicularmente na parede torácica, na
altura do segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular bilateralmente (Fig. 14,
15).
Figura 14 - Local da inserção dos drenos na parede torácica anterior.
Casuística e Método
28
Figura 15 - Local da inserção dos drenos na parede torácica anterior.
O esterno foi seccionado transversalmente com retirada de toda parede
torácica anterior (plastrão esternal), aproximadamente na altura do quarto espaço
intercostal (Fig. 16, 17).
Figura 16 - Ressecção das costelas anteriores.
Casuística e Método
29
Figura 17 - Ressecção do “plastrão” esternal.
Nesse momento, a espessura da parede torácica foi medida bilateralmente,
próxima ao orifício de colocação do dreno (Fig. 18).
Figura 18 - Detalhe do dreno inserido em toda espessura da parede torácica anterior.
Casuística e Método
30
Com a exposição da cavidade pleural, o pulmão encontrava-se atelectasiado,
e a extremidade distal do dreno estava inserida nesta cavidade (Fig. 19, 20, 21, 22,
23).
Figura 19 - Resseção parcial das costelas anteriores e esterno; relação
dos drenos com ambos os pulmões (segmentos apicais).
Figura 20 - Relação dos drenos em ambos os pulmões.
Casuística e Método
31
Figura 21 - Hilo direito dissecado; relação do dreno com o pulmão direito.
Figura 22 - Relação da extremidade distal do dreno com o lobo
superior direito, no pulmão parcialmente expandido.
Casuística e Método
32
Figura 23 - Relação da extremidade distal do dreno com o lobo
superior esquerdo, no pulmão colabado.
Com o pulmão em sua posição anatômica e tendo-se como referência a
extremidade distal intratorácica do dreno, mediu-se, com uso de uma régua
compasso, a distância do mesmo com as seguintes estruturas (Fig. 24, 25, 26):
Brônquios principais direito e esquerdo;
Brônquios do lobo superior direito e esquerdo;
Artéria para o lobo superior direito e esquerdo;
Artéria pulmonar direita e esquerda;
Veia e artéria subclávia direita e esquerda.
Casuística e Método
33
Figura 24 - Medida da extremidade distal do dreno para a artéria do
lobo superior direito.
Figura 25 - Medida da extremidade distal do dreno para artéria pulmonar direita.
Casuística e Método
34
Figura 26 - Medida da extremidade distal do dreno para a veia
pulmonar superior direita.
O pulmão então era rechaçado, sendo medida à esquerda, a distância do
dreno com o arco aórtico e a direita, com a veia ázigos (Fig. 27, 28, 29).
Figura 27 - Exposição do dreno após tração do pulmão direito.
Casuística e Método
35
Figura 28 - Medida da extremidade distal do dreno com a veia ázigos.
Figura 29 - Medida entre extremidade distal do dreno e arco aórtico.
Casuística e Método
36
Tais dados encontram-se na Tabela de Medidas (Anexo 3).
3.2. Estudos estatísticos
Trata-se de um estudo analítico experimental e quantitativo.
O número da amostra (n=30) foi estabelecido de tal forma para que os
resultados apresentem significância estatística (p<0,05).
As variáveis analisadas foram:
1. Sexo;
2. Peso (Kg);
3. Altura (cm);
4. Diâmetro anteroposterior (cm);
5. Diâmetro látero-lateral (cm);
6. Distância entre o dreno e o brônquio principal (cm);
7. Distância entre o dreno e o brônquio do lobo superior (cm);
8. Distância entre o dreno e os vasos subclávios (cm);
9. Distância entre o dreno e as artérias pulmonar direita e esquerda (cm);
10. Distância entre o dreno e a artéria pulmonar superior (cm);
11. Distância entre o dreno e a veia pulmonar superior (cm);
12. Distância entre o dreno e a veia ázigos (cm);
13. Distância entre o dreno e a aorta (cm);
14. Espessura da parede torácica (cm);
Para estas variáveis foi realizada uma análise exploratória com o intuito de
obter informações relevantes ao estudo. Para as variáveis qualitativas foram
calculadas frequências e percentuais, para as variáveis quantitativas, medidasresumo (média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão)(34,35).
Casuística e Método
37
4. RESULTADOS
38
4.1. Variável Sexo
O percentual de cadáveres do sexo feminino observado corresponde a 33%.
Já o percentual de cadáveres do sexo masculino corresponde a 67% (Fig. 30).
Figura 30 - Distribuição do sexo dos cadáveres operados.
4.2. Variáveis antropométricas
Através da Tabela 1, nota-se que o peso médio dos cadáveres operados é
68,6kg com medida central de 66,5kg e erro padrão de 2,09kg. A altura média dos
mesmos é de 1,67 metros com mediana de 1,69 metros e erro padrão de 0,02
metros. A média do diâmetro anteroposterior é 29,42cm, sua mediana é 22,5cm e
erro padrão de 2,77cm. Já a média do diâmetro látero-lateral é 34,47cm com
mediana de 34cm e erro padrão de 1,09cm. Pode-se avaliar, através da Figura 31, a
simetria e a dispersão dos dados.
Resultados
39
Tabela 1- Medidas resumo das variáveis antropométricas.
Variáveis
N
Mínimo Máximo
Média Mediana
Erro
padrão
Peso (Kg)
30
50,00
88,00
68,57
66,50
2,09
Altura (m)
30
1,44
1,90
1,67
1,69
0,02
Idade
30
24,00
82,00
61,83
68,00
2,77
Diâmetro anteroposterior (cm)
30
15,00
60,00
29,42
22,50
2,50
Diâmetro látero-lateral (cm)
30
22,00
53,00
34,47
34,00
1,09
Diâmetro ântero-posterior (cm)
20 30 40 50 60
Peso (Kg)
50
60
Diâmetro latero-lateral (cm)
25
35
45
70
80
Altura (m)
1.5
1.7
Figura 31 - Boxplots das medidas antropométricas.
4.3. Variáveis anatômicas
Para todas as estruturas anatômicas em questão foi calculada a distância (em
centímetros) entre essas e a extremidade distal intratorácica do dreno, exceto para a
espessura da parede. Na Tabela 2, encontram-se as medidas resumo de todas as
estruturas anatômicas.
Resultados
40
Nota-se que nenhuma estrutura anatômica foi perfurada pelo dreno, ou seja,
nenhuma distância ao dreno foi igual à zero. A espessura média da parede é 2,95cm
com erro padrão de 0,16cm. A maior distância média ao dreno intrapulmonar foi de
7,23cm para o brônquio principal esquerdo com erro padrão de 0,19cm e a menor
distância média foi de 5,22cm à artéria pulmonar do lobo superior esquerdo com erro
padrão de 0,20cm.
Em todos os casos, a extremidade distal do dreno intratorácico tocou ou
perfurou parcialmente o segmento anterior dos lobos superiores bilateralmente. A
intensidade de contato do dreno como pulmão dependia se o mesmo estava
parcialmente expandido ou colabado.
Pelos boxplots construídos (Fig. 32, 33, 34, 35, 36) pode-se avaliar a simetria
e a dispersão das variáveis anatômicas.
Tabela 2- Medidas resumo para as variáveis anatômicas.
Variáveis
N
Mínimo Máximo Média Mediana
Erro
padrão
Lado Direito
Brônquio principal
Brônquio para o lobo superior
Vasos subclávios
Nervo frênico
Artéria pulmonar
Artéria pulmonar do lobo superior
Veia pulmonar superior
Veia ázigos
Espessura da parede
30
30
30
30
30
30
30
30
30
4,50
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
1,50
9,00
10,00
9,00
8,00
10,00
8,50
10,00
11,00
5,00
7,18
6,02
6,40
5,93
7,08
5,78
6,37
7,03
2,95
7,00
6,00
6,50
6,00
6,75
5,75
6,00
7,00
3,00
0,18
0,23
0,22
0,21
0,24
0,21
0,23
0,31
0,16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
6,00
4,50
4,00
4,00
4,50
3,50
4,00
3,00
1,50
10,00
11,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
5,00
7,23
5,83
5,97
6,10
6,45
5,22
6,00
6,20
2,95
7,00
6,00
6,00
6,00
6,25
5,00
6,00
6,25
3,00
0,19
0,21
0,22
0,24
0,23
0,20
0,25
0,26
0,16
Lado Esquerdo
Brônquio principal
Brônquio para o lobo superior
Vasos Subclávios
Nervo frênico
Artéria pulmonar
Artéria pulmonar do lobo superior
Veia pulmonar superior
Aorta
Espessura da parede
Resultados
41
Vasos subclávios (LD)
4
5
6
7
8
9
5
6
7
5
6
7
8
9
Brônquio para o lobo superior (LD)
Nervo frênico (LD)
4
Brônquio principal (LD)
8
4 5 6 7 8 9
Figura 32 - Boxplots das variáveis anatômicas - lado direito.
Veia pulmonar superior (LD)
4 5 6 7 8 9
Veia áziga(LD)
4
6
8
10
Tronco arterial (LD)
5
6
7
8
9 10
Artéria pulmonar para o lobo superior (LD)
4
5
6
7
8
Figura 33 - Boxplots das variáveis anatômicas - lado direito.
Resultados
42
Veia pulmonar superior (LD)
4 5 6 7 8 9
5
6
8
6
7
8
9 10
Artéria pulmonar para o lobo superior (LD)
Veia áziga(LD)
4
Tronco arterial (LD)
10
4
5
6
7
8
Figura 34 - Boxplots das variáveis anatômicas - lado direito.
Artéria pulmonar para o lobo superior (LE)
4
5
6
7
8
9
Veia pulmonar superior (LE)
4
5
6
7
8
9
Nervo frênico (LE)
4
5
6
7
8
9
Tronco arterial (LE)
5
6
7
8
9
Figura 35 - Boxplots das variáveis anatômicas - lado esquerdo.
Resultados
43
Figura 36 - Boxplots das variáveis anatômicas - lado esquerdo.
4.4. Análise de correlação (Anexo 4)
A relação entre as distâncias das variáveis anatômicas ao dreno e entre as
variáveis antropométricas medidas nos cadáveres foi investigada através do
coeficiente de correlação de Spearman, r.(34,35).
O coeficiente de correlação positivo significa que a relação entre as variáveis
em questão é positiva. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também. O
mesmo raciocínio vale quando o coeficiente é negativo. O coeficiente de correlação
de Spearman foi calculado para todas as variáveis estudadas.
Resultados
44
5. DISCUSSÃO
45
O primeiro estudo que cita a utilização da ventilação colateral como
possibilidade de tratamento do enfisema pulmonar é de Macklem, em 1978(36).
Não há na literatura mundial nenhum estudo que descreva a drenagem
pulmonar ou pneumostomia para o tratamento do EP grave, somente aqueles
citados
anteriormente
realizados
pelo
grupo
de
cirurgiões
torácicos
da
FCMSCSP(5,33) .
O único estudo publicado na literatura a respeito dos efeitos fisiológicos in
vitro da pneumostomia e a aplicação terapêutica da ventilação colateral é o que
segue(3) :
- Realiza-se uma expiração forçada em um pulmão enfisematoso humano
explantado de um procedimento de transplante. Pressões externas geradas ao redor
do pulmão neste teste foram – 10cmH20 a 20cmH20 para simular a manobra de
expiração forçada.
- Uma cânula foi colocada no brônquio do pulmão explantado enquanto outra foi
inserida através da pleura visceral no pulmão para medidas do fluxo expirado
(pneumostomia in vitro). A profundidade de penetração da cânula dentro do pulmão
foi de aproximadamente cinco milímetros (Fig. 37).
O teste sugere que a cânula adicional na pleura visceral resultou em aumento
da função pulmonar em uma porcentagem aproximada de 500% da medida do
VEF1. Medidas originais do VEF1 eram aproximadamente de 200ml (do brônquio)
antes de nenhuma intervenção. Subsequente a inserção da cânula no pulmão, as
medidas do VEF1 aumentaram para 1000ml (do brônquio e da cânula pulmonar).
Discussão
46
Figura 37 - Teste do pulmão enfisematoso explantado com pneumostomia in vitro.
Com o sucesso e o know-how em acessar o parênquima pulmonar
demonstrado anteriormente pelos Cirurgiões Torácicos da FCMSCSP, quer pela
realização da broncostomia, descrita por Saad Jr. em sua Tese de Livre Docência
em 1995(37) ou pela drenagem das bolhas de enfisema gigantes, descrita por Botter
em sua Tese de Doutorado em 2006(31), criou-se um protocolo clínico para identificar
os pacientes candidatos à drenagem pulmonar(5).
Os pacientes selecionados devem realizar no pré-operatório e na quarta
semana de pós-operatório: plestimografia, teste de caminhada de seis minutos,
Questionário do Hospital Saint George na Doença Respiratória (questionário de
qualidade de vida), a escala de Perfomance Status do Eastern Cooperative
Oncology Group e a escala do Medical Research Council, radiografia e tomografia
de tórax na inspiração e expiração.
São critérios de inclusão no estudo doentes com EP, com idade até 75 anos,
que apresentam invalidez apesar do tratamento clínico máximo (reabilitação
pulmonar) e tomografia de tórax de alta resolução evidenciando EP difuso,
homogêneo
ou
heterogêneo,
além
de
radiografia
de
tórax
mostrando
hiperinsulflação pulmonar. Tais pacientes devem possuir o seguinte perfil
espirométrico: FEV1 após broncodilatador menor que 35-30% do predito,
Discussão
47
capacidade pulmonar total maior que 250ml do predito e DLCO menor que 50% do
predito. São também incluídos os pacientes que cessaram o tabagismo por pelo
menos três meses antes do procedimento e aqueles que estão em lista de espera
para o TXP ou CRVP.
São critérios de exclusão: pacientes com idade superior a 75 anos,
bradicardia no repouso, arritmia ventricular complexa, supradesnivelamento do
segmento ST sustentado, coronariopatia, fração de ejeção ventricular menor que
45%, presença de doença pulmonar ou pleural que impeçam a operação,
bronquiectasias, presença de nódulo pulmonar suspeito pra neoplasia, bolha
enfisematosa gigante (maior que 1/3 do volume pulmonar), hipertensão arterial
pulmonar maior que 35mmHg, desnutrição ou obesidade severas e neoplasias com
expectativa de comprometer a sobrevida.
Técnica operatória para a realização da drenagem pulmonar:
- Doente em decúbito dorsal, submetido à anestesia local, no sexto espaço
intercostal, na linha axilar anterior, sendo realizada toracostomia com drenagem
fechada, no lado que será realizada a drenagem pulmonar (Fig. 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44);
Figura 38 - Anestesia local em linha axilar anterior direita, na altura do sexto
espaço intercostal, para a realização da toracostomia com
drenagem fechada.
Discussão
48
Figura 39 - Drenagem torácica sob selo d’água, antes da realização da
drenagem pulmonar.
- A seguir, realiza-se incisão de 4 ou 5 centímetros no hemitórax escolhido, sob
anestesia local, no segundo ou terceiro espaços intercostais;
- Dissecção por planos até a cavidade pleural;
Figura 40 - Dissecção da parede torácica anterior até abertura da
cavidade pleural.
- Adentrando à cavidade pleural, pinça-se o parênquima pulmonar, de modo a poder
abri-lo com segurança. Fazem-se quatro pontos cardeais fixando o pulmão à pleural
parietal;
Discussão
49
Figura 41 - Tração do pulmão com pinças.
Figura 42 - Sutura do pulmão à parede torácica.
- Realiza-se uma pneumotomia de 2 a 3 centímetros e introduz-se o dreno que é
fixado ao pulmão. Este dreno é introduzido no pulmão a uma profundidade de 5cm,
não sendo necessário colocá-lo sob selo d’agua. A saída do ar aprisionado pode ser
verificada de uma forma simples quando se coloca uma luva de látex estéril sobre o
dreno, causando a insulflação da mesma (Fig. 43, 44).
Discussão
50
Figura 43 - Aspecto final do dreno intrapulmonar (extremidade externa).
Figura 44 - Luva de látex conectada à extremidade externa do dreno, que se
insulfla com a respiração espontânea do paciente, demonstrando
como o mesmo funciona como uma válvula de escape para o
aprisionamento aéreo.
Após a confecção deste protocolo, foram operados ao todo nove pacientes,
sendo que os resultados dos três primeiros casos foram publicados em 2009(33).
Discussão
51
Os três pacientes descritos permaneceram no hospital por três dias. Os
drenos pleurais foram retirados após 24 horas do procedimento. No Quadro 3(33), a
seguir, estão relacionados os resultados obtidos dos exames realizados nos
diversos momentos para os três pacientes.
Quadro 3- Resultado da pletismografia, teste de caminhada de 6 minutos e dos
questionários de qualidade de vida durante os períodos pré e pósoperatórios.
Saad Jr et al (2009)(33)
A pneumostomia tem um caráter permanente e funciona como uma fístula do
pulmão à pele, com saída permanente de ar pela mesma (Fig. 45, 46).
Discussão
52
Figura 45 - Paciente com drenagem pulmonar em face anterior do
hemitórax direito (420 dias de pós-operatório).
Figura 46 - Detalhe da pneumostomia (420 dias de pós-operatório).
Comparando-se os Raios-X de tórax nos períodos pré e pós-operatório, é
possível notar que após o procedimento, além da aérea de fibrose e diminuição
volumétrica do lobo superior operado, há o retorno da hemicúpula diafragmática a
sua posição mais próxima da fisiológica, perdendo a retificação que é característica
do enfisematoso. Nota-se também, à radiografia de tórax, a íntima relação do dreno
Discussão
53
intrapulmonar com as estruturas do mediastino e pulmão (Fig. 47, 48, 49).
Figura 47 - Raios-X de tórax pré-operatório, em incidência póstero-anterior e perfil.
Figura 48 - Raios-X de tórax no 37º dia de pós-operatório.
Discussão
54
Figura 49 - Detalhe tomográfico do dreno intrapulmonar no quinto dia de pósoperatório.
Em relação à drenagem pulmonar dos casos já operados, deve-se salientar
que:
- O dreno de aço utilizado nos casos iniciais não é o mesmo utilizado atualmente,
sendo que este último é siliconado, mede 7cm com 0,8cm de diâmetro, possui um
filtro anterior (impede a entrada de sujidades pela estomia), além de uma aba que
permite a aderência do dreno à pele (Fig. 50, 51). Este último é descartável e
possibilita uma higienização mais adequada da estomia. Após a orientação da
equipe médica, a limpeza e troca do dreno pulmonar são realizadas pelo próprio
paciente em ambiente domiciliar.
Figura 50 - Visão anterior do dreno siliconado com abas autoadesivas
(Portoaero- Cupertino, CA, USA)
Discussão
55
Figura 51 - Visão lateral do dreno siliconado com abas autoadesivas (PortoaeroCupertino, CA, USA).
- Nos nove casos operados, houve um único episódio de sangramento pela estomia
em período pós-operatório tardio. Na ocasião, a tomografia computadorizada do
tórax mostrava íntimo contato da extremidade distal do dreno com vasos periféricos
do parênquima pulmonar e não do hilo (Fig. 52).
Figura 52 - Extremidade distal do dreno pulmonar à direita relacionando-se com
vaso periférico pulmonar, em paciente (R.S., masculino) que
apresentou sangramento tardio pela estomia.
O aparecimento tardio de sangramento sugere neoformação vascular
relacionado ao processo inflamatório local tipo corpo estranho. Uma vez retirado o
dreno, cessou o sangramento e a estomia cicatrizou espontaneamente.
Discussão
56
- Na maioria dos pacientes operados, há diferentes graus de formação de tecido de
granulação ao redor da estomia e no interior da mesma sendo facilmente tratada
ambulatorialmente com limpeza e debridamento;
- Oito pacientes foram submetidos à drenagem pulmonar unilateral e um único e
último foi submetido ao procedimento bilateral no mesmo ato operatório (Fig. 53, 54).
A cirurgia bilateral é perfeitamente factível e clinicamente segura.
Figura 53 - Pós-operatório imediato da drenagem pulmonar bilateral.
Figura 54 - Raios-X de tórax em perfil no pós-operatório imediato demonstrando
drenagem pulmonar bilateral com dreno de aço de 7,5cm (mesmo
tipo de dreno utilizado no presente estudo).
Discussão
57
5.1. Considerações Finais
Analisando
alguns
dados
levantados
no
presente
estudo,
algumas
considerações finais devem ser realizadas:
- O diâmetro anteroposterior aumentado no paciente portador de DPOC torna a
técnica da drenagem pulmonar preconizada no protocolo ainda mais segura, uma
vez que as estruturas mediastinais estão mais afastadas da parede torácica devido
ao pulmão hiperinsulflado;
- A extremidade distal do dreno relacionou-se com o segmento anterior dos lobos
superiores bilateralmente. Portanto a drenagem no segundo espaço intercostal na
linha médio clavicular acessa satisfatoriamente a região pulmonar com intenção a
ser drenada (área alvo);
- Não há diferença entre a espessura da parede do lado esquerdo e do lado direito,
sendo que sua média é de 2,95cm. O dreno mede 7,5cm, portanto havia 4,55cm de
dreno intratorácico disponível para penetrar no pulmão dos cadáveres. Nos
pacientes operados, no ato cirúrgico, insere-se aproximadamente 5cm de dreno
dentro do parênquima.
Do ponto de vista clínico, este valor parece ser seguro, uma vez que não
houve nenhum sangramento importante no ato operatório e ao mesmo tem eficaz,
permitindo satisfatoriamente a drenagem do ar aprisionado;
- Comparando-se um pulmão expandido de um paciente vivo e o pulmão
parcialmente expandido do cadáver, as distâncias entre a extremidade distal do
dreno e as estruturas medidas devem ser diferentes em ambos os casos.
Entretanto, a medida da extremidade distal do dreno às estruturas fixas do
mediastino (vasos subclávios, aorta e a veia ázigos) devem ter distâncias
semelhantes, tanto no vivo como no cadáver;
- Não foi aferido quanto o dreno penetra no pulmão (apesar de em todos os casos
sua extremidade distal penetrar parcialmente ou encostar-se ao segmento anterior
dos lobos superiores); também não foi estudada a intensidade de lesão estrutural do
Discussão
58
parênquima drenado. Para tal, seria necessário utilizar outro modelo de estudo: um
pulmão explantado e conectado a um respirador para que o mesmo permaneça
expandido, seguido de análise microscópico da lesão no pulmão drenado.
- Na análise de correlação dos dados cruzaram-se todas as medidas no sentido de
se identificar um padrão, por exemplo, se em pacientes com menor estatura, o dreno
se aproximava mais dos vasos mediastinais, portanto com maior risco de lesá-los.
De uma forma geral, pode-se notar que quanto maior a distância entre o dreno e os
brônquios principais, maior a distância do mesmo com as outras estruturas
mediastinais. Um dado interessante demonstrado é a relação da altura e do peso
com o nervo frênico, ou seja, quanto maior essas variáveis, em posição mais medial
o dreno se encontra, ou seja, a drenagem se aproxima mais do coração.
A análise de correlação também demonstrou a falta de relação entre a
espessura da parede com o peso e a altura. Assim, pode-se utilizar um dreno com
medida fixa independente dos dados antropométricos do paciente, uma vez que a
espessura da parede não se relaciona com eles.
Discussão
59
6. CONCLUSÃO
60
A utilização de um dreno torácico de tamanho fixo, na posição preconizada no
protocolo clínico, é factível, segura, simples e independe dos dados antropométricos
do paciente, uma vez que o dreno nesta posição não causou lesão de nenhuma
estrutura estudada.
Conclusão
61
7. ANEXOS
62
ANEXO 1
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para admissão no estudo
“Ventilação colateral com drenagem pulmonar: estudo anatômico em
cadáveres”.
Pelo presente Termo, eu, _________________________________________, portador(a)
da cédula de identidade R.G. n°.______________, inscrito no CPF/MF sob
n°____________________,
na
condição
de
responsável
legal
pelo
paciente__________________________________________________________________,
portador(a) da cédula de identidade R.G. n°________________, leio este Termo que se
apresenta em forma de texto corrido e único.
O presente estudo “Ventilação colateral com drenagem pulmonar: estudo anatômico em
cadáveres” visa descrever uma técnica operatória alternativa para tratar o enfisema
pulmonar avançado, doença grave e incapacitante, com poucas opções de tratamento
clínico e cirúrgico.
Este estudo faz parte de um projeto para uma cirurgia alternativa à cirurgia redutora do
volume pulmonar e ao transplante pulmonar e provavelmente permitirá que muitos pacientes
com enfisema tenham uma vida melhor ou, até mesmo, deixem de falecer em consequência
desta doença. Portanto, há um benefício em potencial para toda a sociedade.
Durante a realização da necrópsia, quando os órgãos internos do paciente que faleceu
serão examinados para auxiliar na causa do óbito do mesmo, será realizado um
procedimento aonde um pequeno dreno de aço será colocado na parede anterior do tórax,
através da mesma incisão por onde é feita a necrópsia. Após a colocação deste material,
serão realizadas medidas deste dreno com estruturas anatômicas, tais como o coração,
vasos sanguíneos do pulmão e da região do tórax, como a aorta. Em seguida, o dreno é
retirado e prossegue-se com a necrópsia.
Tal procedimento demora alguns minutos, não é permanente e não visa causar danos aos
órgãos do paciente que faleceu. Se por ventura houver dano de alguma estrutura anatômica
interna com a colocação do dreno, o médico que realizará a necrópsia será avisado de tal
forma que tal dano não prejudique na conclusão da causa de óbito do paciente. Indivíduos
serão admitidos neste trabalho sobre os critérios de inclusão e exclusão. São critérios de
inclusão cadáveres adultos, de qualquer sexo, peso e altura. Os cadáveres em que não há
integridade da parede torácica serão excluídos do estudo. Indivíduos serão escolhidos para
o estudo baseado na habilidade de seu responsável legal para entender o estudo e seus
objetivos, e então fornecer o Consentimento Livre e Esclarecido para participar no estudo.
Nenhum indivíduo será inscrito no estudo até que se obtenha um formulário de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo seu representante legal. Os formulários
originais de Consentimento Livre e Esclarecidos serão retidos pelo pesquisador para
garantir a privacidade do estudo. Uma cópia do mesmo ficará com o representante legal do
paciente que faleceu.
Um formulário de Consentimento Livre e Esclarecido assinado e datado deve ser obtido do
representante legal do paciente que faleceu antes de ser submetido a qualquer
procedimento relacionado ao estudo. Os pacientes que faleceram não serão submetidos a
nenhum outro procedimento sem que o representante legal tenha assinado o formulário de
Consentimento Livre e Esclarecidos.
Anexos
63
Declaro que recebi informações verbais e por escrito, de forma clara e compreensível, da
natureza da pesquisa e dos possíveis riscos referente à participação. Fui esclarecido sobre
o acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, liberdade de retirar meu
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isso traga
prejuízo à salvaguarda de confidencialidade, sigilo e privacidade, decorrentes da pesquisa.
Declaro que fui informado (a) pelos profissionais acima sobre as indicações, benefícios,
possíveis riscos e complicações da intervenção a ser realizada. Declaro que tive a
oportunidade de fazer perguntas quanto a este estudo, e obtive informações suficientes
sobre suas complicações inerentes ao procedimento, tais como, lesões de estruturas
anatômicas do paciente que faleceu e de como essas possíveis lesões não se relacionam
com a causa de óbito do mesmo.
Confirmo que li, compreendi e fui esclarecido sobre todos os itens acima relacionados.
São Paulo, _____ /___________ /_________
Responsável: _________________________
Grau de Parentesco: ___________________
Assinatura: ___________________________
Dr. Júlio Mott Ancona Lopez - CRM/SP 90970
R.G. 12.747.845-0 (SSP/SP)
CPF 170.803.188-07
Médico Responsável pela Pesquisa: “Ventilação colateral com drenagem pulmonar: estudo
anatômico em cadáveres”.
Rua Bela Cintra, 1679
Cerqueira César – São Paulo/SP
Cons: 30644011
Cel: 83464604
Res: 38645546
Anexos
64
ANEXO 2
Aprovação do Comitê de Ética
Anexos
65
ANEXO 3 - Tabela de medidas.
Anexos
66
ANEXO 4
Análise de correlação de todas as variáveis medidas.
Anexos
67
Anexos
68
Anexos
69
Anexos
70
Anexos
71
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
72
1. Coimbra I, Guimarães M. Doença pulmonar obstrutiva crônica. In: Pessoa FP,
editor. Pneumologia Clínica e Cirúrgica. São Paulo: Atheneu; 2000. P. 309-19.
2. Van Allen C, Lindskog G, Richter HT. Gaseous interchange between adjacent lung
lobules. Yale J Biol Med. 1930; 29(4):297-300.
3. Choong CK, Macklem PT, Pierce JA, Lefrak SS, Woods JC, Conradi MS, et al.
Transpleural ventilation of explanted human lungs. Thorax. 2007; 62(7):623–30.
4. Choong CK, Macklem PT, Pierce JA, Das N, Lutey BA, Martinez CO, Cooper JD.
Airway bypass improves the mechanical properties of explanted emphysematous
lungs. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178(9):902-5.
5. Saad Jr R, Dorgan Neto V, Botter M, Stribulov R, Rivanem JH, Gonçalves R.
Aplicação terapêutica da ventilação colateral no enfisema pulmonar difuso:
apresentação de um protocolo. J Bras Pneumol. 2008; 34(6):430-4.
6. Scarpinella-Bueno MAS, Romaldini H. Cirurgia redutora de enfisema. J Pneumol.
1997; 23(5):252-60.
7. National Institutes of Health. National Heart, Lung and Blood Institute. Chronic
Obstructive Pulmonary Disease Data Fact Sheet”, March 2003. Available from:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/copd/copd_wksp.pdf
8. Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do Sistema
Único de Saúde (SIH/SUS). DATASUS. Available from: http://www.datasus.gov.br.
[20 ago 2004].
9. Figueroa PAU, Martinez-Silveira MS, Ponte E, Camelier A, Pereira-Silva J.
Radiological profile of the ideal candidate for lung volume reduction surgery to treat
emphysema: a systematic review J Bras Pneumol. 2005; 31(3):197-204.
10. Mora JI, e Denis Hadjiliadis D. Lung volume reduction surgery and lung
transplantation in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct
Pulmon Dis. 2008; 3(4)629-35.
11. Benditt JO. Surgical therapies for chronic obstructive pulmonary disease.
Respiratory Care. 2004; 49(1):53-63.
12. Wise RA, Drummond MB. The role of NETT in emphysema research. Proc Am
Thorac Soc. 2008; 5:385-92.
13. Camargo JJP. Tratamento cirúrgico do enfisema. J Bras Pneumol. 2009; 35.
Editorial 1.
14. Sardenberg RAS, Younes RN, Deheizelin D. Lung volume reduction surgery: an
overview. Rev Assoc Med Bras. 2010; 56(6):719-23.
Referências Bibliográficas
73
15. Cooper JD, Trulock EP, Triantafillou AN, Patterson GA, Pohl MS, Deloney PA,
Sundaresan RS, Roper CL. Bilateral pneumectomy (volume reduction) for chronic
obstructive pulmonary disease. J Thoracic Cardiovasc Surg. 1995; 109(1):106-9
16. Mineo TC, Pompeo E, Mineo D, Tacconi F, Marino M, Sabato AF. Awake
nonresectional lung volume reduction surgery. Ann Surg. 2006; 243(1):131-6.
17. Fishman A, Martinez F, Naunheim K, Piantadosi S, Wise R, Ries A, Weinmann
G, Wood DE, National Emphysema Treatment Trial Research Group. A randomized
trial comparing lung-volume-reduction surgery with medical therapy for severe
emphysema. N Engl J Med. 2003; 348(21):2059-73.
18. Maceiras LS. Pros and cons of endoscopic treatment of emphysema. Arch
Broncopneumol. 2011; 47(4):167-8.
19. Botter M, Saad Junior R. Transplante pulmonar: o estado da arte. In: Saad Jr R,
Carvalho WR, Ximenes Netto M, Forte V. (Eds). Cirurgia torácica geral. São Paulo:
Atheneu; 2005. p. 499-530.
20. Fernandez FG, Patterson A. Lung transplantation. In: Shields TW, Locicero III J,
Reed CE, Feins RH. General thoracic surgery. 7th ed. Philadelphia: Lippincott William
& Wilkins; 2009. v. 1; p.1241-68. (Section XIV: Congenital, Structural, and
Inflammatory Diseases of the Lung)
21. Meyers BF, Yusen RD, Guthrie TJ, Davis G, Phl MS, Lefrak SS, et al. Outcome
of bilateral lung volume reduction in patients with emphysema potentially eligible for
lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001; 122(1):10-7.
22. Cassivi SD, Meyers BF, Battafarano RJ, Guthrie TJ, Trulock EP, Lynch JP,
Cooper JD. Thirteen-year experience in lung transplantation for emphysema. Ann
Thoracic Surg. 2002; 74(5):1663-9.
23. Brenner M, Hanna NM, Mina-Araghi R, Gelb AF, McKenna RJ Jr, Colt H.
Innovative approaches to lung volume reduction for emphysema. Chest. 2004;
126(1):238-48.
24. Ingenito EP, Wood DE, Utz JP. Bronchoscopic lung volume reduction in severe
emphysema. Proc Am Thorac Soc. 2008; 5:454-60.
25. Toma TP, Polkey MI, Goldstraw PG, Morgan C, Geddes DM. Methodological
aspects of broncohoscopic lung volume reduction with a proprietary system.
Respiration. 2003; 70(6):658-64.
26. Wei SC, Heitkamp DE, Teague SD, Frank MS. Endobronchial valves:
radiographic appearance of a new device for lung volume reduction. AJR Am J
Roentgenol. 2007;189(2):W92-3.
27. Noppen M, Tellings JC, Dekeukeleire T, Dieriks B, Hanon S, D'Haese J,
Meysman M, Vincken W. Successful treatment of a giant emphysematous bulla by
bronchoscopic placement of endobronchial valves. Chest. 2006; 130(5):1563-5.
Referências Bibliográficas
74
28. Sciurba FC, Ernst A, Herth FJ, Strange C, Criner GJ, Marquette CH, Kovitz KL,
Chiacchierini RP, Goldin J, McLennan G, VENT Study Research Group. A
randomized study of endobronchial valves for advanced emphysema. N Engl J Med.
2010; 363(13):1233-44.
29. Saad Jr R, Mansano MD, Botter M, Giannini JA, Dorgan Neto V. Tratamento
operatório de bolhas no enfisema bolhoso: uma simples drenagem. J Pneumol.
2000; 26(3):113–8.
30. Trench NF, Silva Telles FC. Fisiopatologia da distensão das grandes bolhas de
enfisema. Arq Hosp Santa Casa S Paulo. 1956; 2(1):87-108.
31. Botter M, Saad Jr R, Botter DA, Rivabem JH, Gonçalves R, Dorgan Neto V.
Tratamento operatório das bolhas pulmonares gigantes. Rev Assoc Med Bras. 2007;
53(3):217-21.
32. Monaldi V. Tentativi di aspirazione endocavitaria nelle caverne tuberculari del
pulmone. Lotta Tuberc. 1938; 9:910-1.
33. Saad Jr R, Dorgan Neto V, Botter M, Stribulov R, Rivabem JH, Gonçalves R.
Aplicação terapêutica da ventilação colateral no enfisema pulmonar difuso: relato
dos três primeiros casos. J Bras Pneumol. 2009; 35(1):14-9.
34. De Bussab W, Morettin PA. Estatística básica. 5ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva;
2006.
35. Massad E, Menezes RX, Silveira PSP, Ortega NRS. Métodos quantitativos em
medicina. 1ª Ed. São Paulo: Manole; 2004.
36. Macklem PT. Collateral ventilation. N Engl J Med. 1978; 298(1):49-50.
37. Saad Jr R. Broscostomia: uma opção operatória. In: Saad Jr R, Carvalho WR,
Netto M, Forte V. (Org.). Cirurgia torácica geral. 2 ed. São Paulo: Editora Atheneu;
2011. v. 1, p. 603-7.
Referências Bibliográficas
75
RESUMO
76
Lopez JMA. Validação técnica da pneumostomia como tratamento do enfisema
pulmonar avançado: estudo anatômico em cadáveres. Dissertação (Mestrado).
2012.
Objetivo: Descrever a técnica operatória da pneumostomia através do estudo
anatômico em cadáveres, demonstrar se o local definido para a drenagem pulmonar
é adequado e seguro, e determinar a relação anatômica do tubo de drenagem com a
parede torácica, pulmões, grandes vasos, e mediastino. Método: Foram dissecados
30 cadáveres de ambos os sexos, fornecidos pelo Necrotério do Hospital Central da
Santa Casa de São Paulo, no período de maio a novembro de 2011. Todos os
cadáveres tiveram seus pesos, alturas, diâmetros látero-lateral do tórax, póstero
anterior do tórax e espessura da parede torácica medidos. Em seguida, foi inserido
um dreno de aço de 7,5cm no segundo espaço intercostal, na linha médio clavicular
bilateralmente, e foi medida a distância
do dreno com as seguintes estruturas:
brônquios principais, brônquios para os lobos superiores, vasos subclávios, artérias
pulmonares, artérias pulmonares superiores, veia pulmonar superior, veia ázigos, e
aorta. Resultados: Dos 30 cadáveres dissecados, 67% eram do sexo masculino e
33% do feminino. O peso médio foi de 68,57Kg, a altura média foi de 1,67m, o
diâmetro anteroposterior médio foi de 29,42cm, o látero-lateral foi de 34,47cm e a
espessura média da parede torácica foi de 2,95cm. A maior distância média ao
dreno foi de 7,23cm para o brônquio principal esquerdo e a menor distância foi de
5,83 para o brônquio para o lobo superior esquerdo. Conclusão: a utilização de um
dreno torácico de tamanho fixo na posição preconizada é factível e segura,
independente dos dados antropométricos do paciente.
Palavras chave: 1. Pulmão/cirurgia 2. Abscesso pulmonar/cirurgia 3. Enfisema
pulmonar 4. Procedimentos cirúrgicos torácicos 5. Cadáver
Resumo
77
ABSTRACT
78
Lopez JMA. Technical validation of pneumonostomy for advanced pulmonary
emphysema: anatomical study in cadavers. Master Dissertation. 2012.
Objective: To describe the surgical pneumonostomy technique by anatomical study
of cadavers, ascertaining the validity and safety of the site defined for pulmonary
drainage, and to determine the anatomical relationship of the drainage tube with the
chest wall, lungs, large vessels, and mediastinum. Method: A total of 30 cadavers of
both genders were dissected. Cadavers were provided by the Morgue of the Santa
Casa de São Paulo Central Hospital between May and November, 2011. The
following cadaver parameters were measured: weight, height, laterolateral and
posteroanterior chest diameters and chest wall thickness. Subsequently, a 7.5cm
steel drainage tube was placed at the second intercostal space along the
midclavicular line bilaterally, and distances from tube to the following structures were
measured: primary bronchi, upper lobe bronchi, subclavian vessels, pulmonary
arteries, superior pulmonary arteries, superior pulmonary vein, azygos vein, and
aorta. Results: Of the 30 cadavers dissected, 67% were male and 33% female.
Cadavers had mean weight of 68.57Kg, height of 1.67m, anteroposterior diameter of
29.42cm, laterolateral measurement of 34.47cm, and chest wall thickness of 2.95cm.
The greatest mean distance to drain tube was 7.23cm for the left primary bronchus
and the shortest 5.83cm for the left upper lobe bronchus. Conclusion: Use of a chest
drain tube of fixed size placed at the recommended position was valid and safe,
independently of patients’ anthropometric data.
Key words: 1. Lung 2. Surgery, Lung abscess surgery 3. Pulmonary emphysema 4.
Thoracic surgical procedures 5. Cadavers.
Abstract