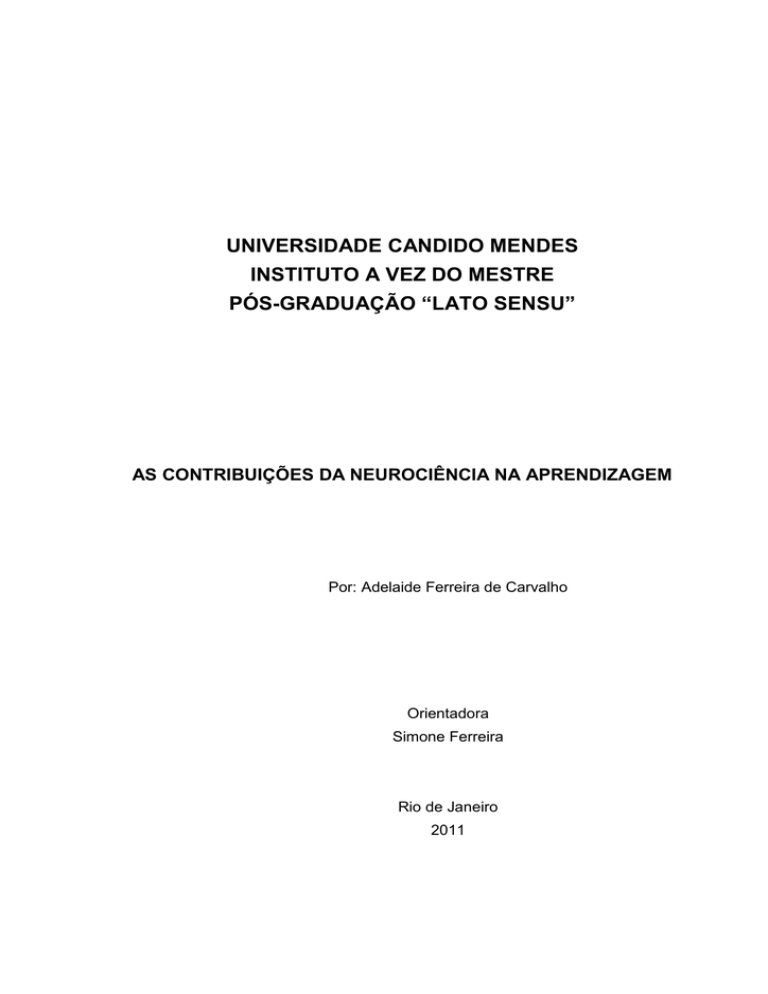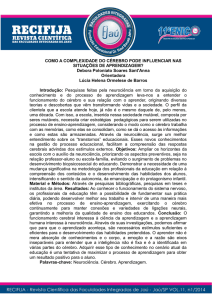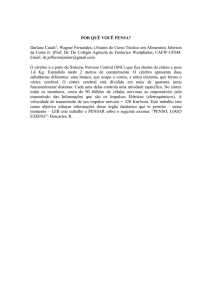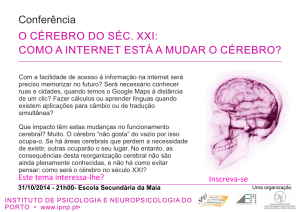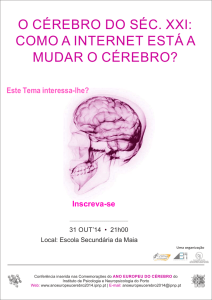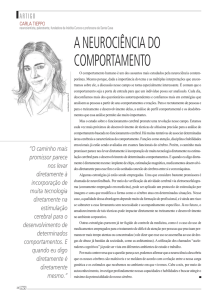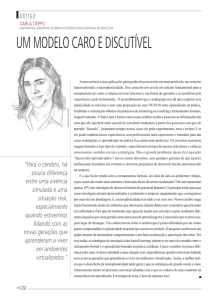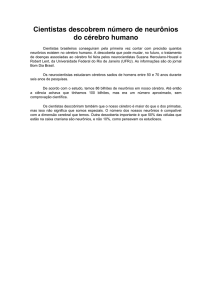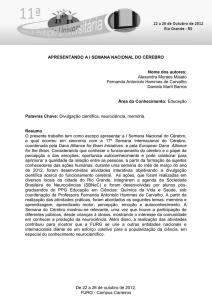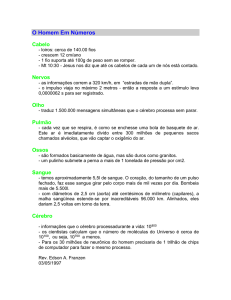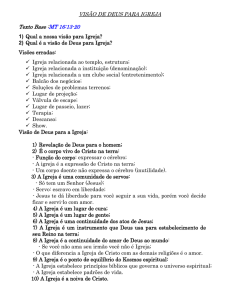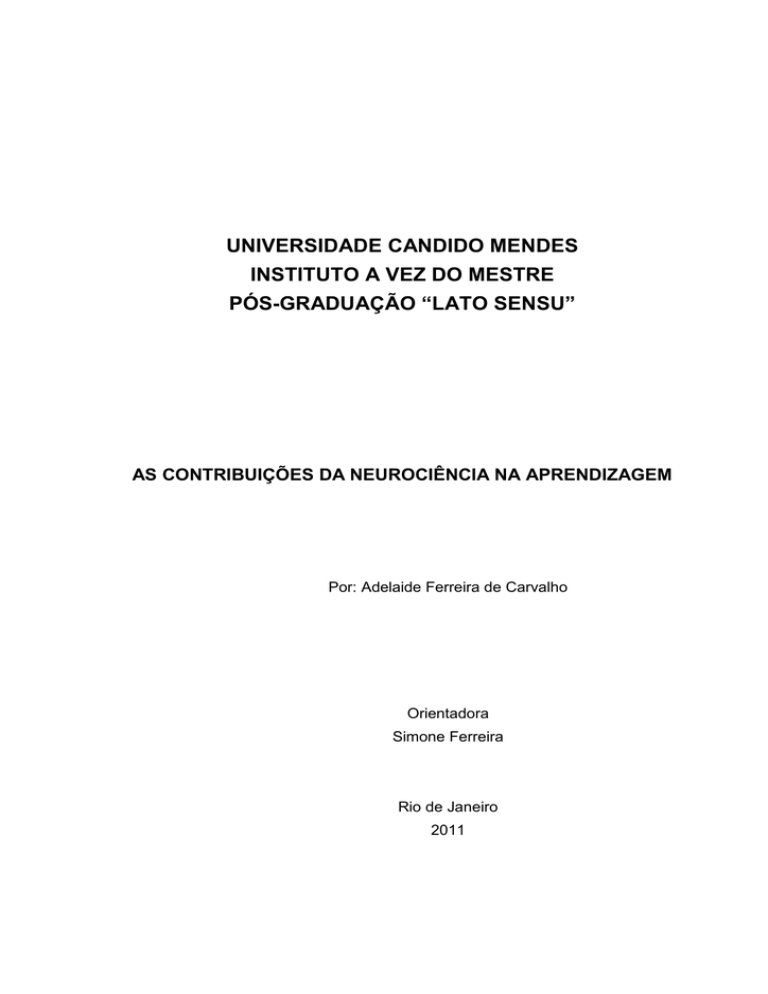
1
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
INSTITUTO A VEZ DO MESTRE
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NA APRENDIZAGEM
Por: Adelaide Ferreira de Carvalho
Orientadora
Simone Ferreira
Rio de Janeiro
2011
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
INSTITUTO A VEZ DO MESTRE
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCÊNCIA
NA APRENDIZAGEM
Apresentação de monografia à Universidade
Candido Mendes como requisito parcial para
obtenção do grau de especialista em
Psicopedagogia.
Por: Adelaide Ferreira de Carvalho
Rio de Janeiro
2011
3
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus por cada passo, cada vitória
e cada tropeço, pois cada um me guiou a um ser humano
mais experiente. Agradeço a meus filhos que me fizeram
uma pessoa melhor.
4
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho a todas as pessoas que
fizeram e continuam fazendo a diferença na vida das
crianças, tornando a inclusão uma realidade.
5
RESUMO
A escolha do tema deste trabalho foi baseada na necessidade de socializar
alguns conhecimentos interessantes e importantes para a aprendizagem.
Recentes pesquisas sobre o cérebro humano, sua anatomia, funcionamento e
suas dimensões como órgão da aprendizagem são apresentadas revelando
sua genialidade e algumas características até então desconhecidas e pouco
difundidas no âmbito escolar. Entende-se que ao revelar a genialidade do
cérebro, a Neurociência pode ser uma ferramenta a mais para os professores,
trazendo elucidações sobre a anatomia da aprendizagem e o seu processo, e
assim, os profissionais ligados à área da educação terão mais um subsídio em
sala de aula, sob o ponto de vista de novas perspectivas ao seu trabalho,
possibilitando o desenvolvimento de maior consciência sobre o sujeito que
aprende, ao reconhecê-lo como ser complexo em suas dimensões biológicas,
culturais e psicológicas. Diante de questões sobre as dificuldades escolares e
do grande desafio e responsabilidade de ser professor, principalmente nos
tempos atuais, surge a necessidade imperiosa de uma reflexão sobre a
formação do professor, razões e proporções de alguns equívocos cometidos
nas abordagens, diagnoses e, consequentemente, nas intervenções da
aprendizagem, analisando-se ainda, o diálogo entre teoria e prática, o que
torna significativo o trabalho em sala de aula. É assim que se move o processo
desta pesquisa, pelo desejo de compartilhar conhecimento, revelando alguns
mecanismos do aprender e, como e porque o cérebro é concebido como órgão
da aprendizagem, instigando o leitor a buscar novos conhecimentos, além de
convidar os professores a uma reflexão sobre questões pontuais sobre a
aprendizagem, suas relações sociais e políticas dentro das escolas.
6
METODOLOGIA
O trabalho fundamenta-se através de pesquisas bibliográficas
como suporte básico, e ainda através de leitura de artigos disponibilizados pela
internet, sendo observados os critérios da credibilidade e responsabilidade
destes materiais. Foram escolhidos títulos e obras que contribuíssem à
pesquisa científica sobre a Neurociência, e ainda, outros que dialogassem com
os aspectos relacionados à aprendizagem.
Diante da escolha do tema que aborda as contribuições da
Neurociência para a aprendizagem, houve a preocupação de escolher
assuntos pertinentes, de modo a encaminhar o leitor a um processo de
aquisição de conhecimentos, apresentando informações específicas sobre
conceito de Neurociência, sua história recente, objeto de estudo e seu campo
de atuação, numa rota que pudesse atender, neste sentido, à necessidade de
informações sobre as correlações das regiões cerebrais e determinadas
aprendizagens.
O
discurso
apresentado
atravessa
o
objetivo
informativo,
relacionando as informações à aprendizagem humana, refletindo em todo o
processo sobre a necessidade de investimento no desenvolvimento das
funções mentais, mantendo o cérebro ativo e mais capaz ao aprendizado. O
presente trabalho prepara assim o leitor a desenvolver um olhar investigativo
sobre a importância das ações do mediador ao lidar com as potencialidades
dentro de sala de aula, observando a necessidade de abordagens, diagnoses e
intervenções mais significativas. Ao caminhar no sentido das dificuldades da
aprendizagem, e ainda, sobre questões referentes à prática do professor,
torna-se interessante apresentar uma pesquisa de campo realizada por Tania
Zagury, onde professores revelam suas dificuldades em sala de aula,
direcionando assim o nosso olhar aos diversos aspectos que permeiam o fazer
pedagógico.
7
Neste movimento de informação e reflexão, além da abordagem
científica, a abordagem especificamente pedagógica sinaliza que toda pesquisa
científica deve atender a uma função, e neste caso, à função pedagógica.
8
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
8
CAPÍTULO I
NEUROCIÊNCIA
10
CAPÍTULO II
COGNIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
23
CAPÍTULO III
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
32
CAPÍTULO IV
TEORIA E PRÁTICA UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
43
CONCLUSÃO
45
BIBLIOGRAFIA
48
WEBGRAFIA
49
ANEXOS
51
ÍNDICE
53
9
INTRODUÇÃO
A Neurociência como estudo científico é relativamente um campo
recente no Brasil e vem estabelecer sua irrefutável relevância na compreensão
do processo da aprendizagem a partir do momento que desbrava o cérebro
humano, desvelando as reações ocorridas neste órgão humano e as mudanças
nas suas dimensões cada vez que a aprendizagem se concretiza.
Ao entendermos o funcionamento do cérebro e os mecanismos das
sinapses, poderemos entender como acontece a aprendizagem e que tal fato
não pode estar desconectado ao processo de desenvolvimento humano em
seus múltiplos aspectos.
As recentes descobertas revelam que estímulos externos provocam
reações elétricas e químicas entre os neurônios produzindo as sinapses, e que
estão diretamente relacionadas ao ato de aprender e à sua qualidade. Ao
pensarmos em qualidade nos remetemos às relações ensino-aprendizagem,
evidenciando aspectos como teoria e prática num diálogo permanente, e a
formação do educador, que deve corroborar efetivamente com o processo da
aprendizagem.
As reflexões e estudo irão direcionar nosso olhar no sentido da
diagnose e da avaliação de melhores estratégias a serem utilizadas,
identificando caminhos e instrumentos para uma efetiva intervenção, já que
estamos continuamente retornando às questões do insucesso escolar. Dentro
deste quadro, reconhecemos as dificuldades encontradas por diversos
profissionais e os aspectos positivos e negativos que norteiam sua prática, das
escolas que ainda se utilizam da medicalização do chamado fracasso escolar
como justificativa deste. Torna-se assim, fator de real relevância, para uma
congruência
determinantes.
de
objetivos,
discutirmos
sobre
os
prováveis
fatores
10
A aprendizagem como processo contínuo, tem uma relação direta
com o desenvolvimento humano, percebendo-se que a qualidade da formação
do educador estabelece uma relação direta com a sua prática, emoldurando o
sucesso ou o seu fracasso. É emergente o reconhecimento das contribuições
da Neurociência na educação, dialogar sobre os mitos e a realidade dessa
trajetória e da relevância da inclusão de suas descobertas no currículo de
formação dos professores, assim como a psicopedagogia, sendo coadjuvantes
e proporcionarem resultados mais significativos no caminho de uma
aprendizagem de qualidade, onde o sujeito possa ser respeitado em suas
diferenças.
11
CAPÍTULO 1
NEUROCÊNCIA
1.1 O que é neurociência
Neurocência é um termo que reúne as disciplinas biológicas, para
estudar o Sistema Nervoso normal ou patológico, a anatomia e a fisiologia do
cérebro, incluindo a relação entre cérebro e comportamento. No estudo
palológico, busca-se o conhecimento de diagnósticos, prevenção, tratamento e
dos mecanismos da doença. Lent, (2005), diz tratar-se de Neurociências e não
Neurociência, pois o estudo aborda outras disciplinas neurocientíficas, tais
como: a Neurociência molecular, a Neurociência celular, a Neurociência
sistêmica, a Neurociência comportamental e a Neurociência cognitiva.
Usaremos aqui o termo Neurociência, pois a abordagem será prioritariamente
cognitiva, sem deixar de reconhecer a importância das novas descobertas para
outras áreas.
O interesse nos avanços da Neurociência iniciou-se por volta da
metade do século passado, e eleita com destaque nos Estados Unidos, como
prioritária na década de 1990, que ficou conhecida como a “Década do
cérebro” (www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a11v26ns.pdf ).
As pesquisas científicas iniciaram no início do século XIX com as
descobertas dos fisiologistas Fristsch e Hitzig sobre a relação de estímujlos
elétricos em áreas específicas do córtex cerebral de um animal e os
movimentos que realizavam. Os médicos Broca e Wernicke confirmaram por
necropsia que indivíduos com danos cerebrais apresentavam deficits na
linguagem após algum acidente. Em 1880, o neuroanatomista Cajal estabelece
12
que a célula é única, distinta e individual, enquanto o cientista Sherington,
estudando reações, relata que as células nervosas (neurônios) respondem a
estímulos e são conectadas por sinapses ( RELVAS, 2010.p.23)
Novas
tecnologias
de
imagem
proporcionaram
avanço
nas
pesquisas fisiológicas e patológicas do cérebro nunca antes disponíveis.
A Neurociência no Brasil está representada principalmente pela
Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Originariamente
Sociedade Brasileira de Psicologia, tem trinta e quatro anos de existência e foi
fundada
por
Elisaldo
Carlini.
Nessa
reunião
histórica,
psicólogos,
psicofarmacólogos, neurofisiologistas, psiquiatras e outros especialistas,
discutiram sobre a importância da integração da psicologia e a neurociência
( www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a11v26ns.pdf).
Neurocientistas são todos os pesquisadores envolvidos com as
pesquisas neurocientíficas, que estudam e colaboram em novas descobertas
sobre a anatomia e a fisiologia do cérebro, incluindo estudantes de cursos
existentes em nível de pos graduação, não havendo uma formação em nível de
graduação.
1.1.1 Por que e para quê
Desde a pré-história a humanidade se questiona sobre a
materialidade e localização das funções mentais. As pesquisas atuais assim
têm contribuído para uma melhor compreensão dos diversos transtornos
mentais, dos mecanismos do funcionamento cerebral e de como a
aprendizagem acontece. Com o conhecimento de como o sistema nervoso
central funciona e a descoberta da plasticidade cerebral, surge um novo olhar e
uma esperança para aqueles que, sofrendo de lesões cerebrais, perderam
algumas habilidades importantes para seu cotidiano, como andar, falar, vestirse, lembrar fatos e nomes, etc.(RELVAS, 2010).
Quando pensamos em cognição, tal conceito nos remete a outros
como inteligência e aprendizagem humana. A Neurociência busca então,
explicar os mecanismos neuronais elementares que sustentam qualquer ato
13
cognitivo, perceptivo ou motor. Ao observarmos a estrutura do Sistema
Nervoso Central, onde se encontra a maioria das células nervosas, seus
prolongamentos, e o contato que fazem entre si, podemos conhecer também
as capacidades adaptativas do SNC, isto é, sua habilidade para modificar sua
organização estrutural, que permite o desenvolvimento de alterações
estruturais em resposta à experiência, e como adaptação a condições
mutantes e a estímulos repetidos. Experiência, adaptação e estímulos
repetidos estão intrinsecamente relacionados à aprendizagem humana, pois é
a partir desses mecanismos que os indivíduos aprendem e retém o que
aprenderam. Conhecer como o cérebro comanda e se desenvolve e as
conseqüências de cada função que realiza, fundamenta a ação pedagógica,
direcionando o processo da aprendizagem, na avaliação coerente, na
intervenção
constante,
na
prevenção
de
prováveis
dificuldades,
na
potencialização dos saberes e no encontro de estratégias para facilitar a
aprendizagem a partir da diagnose. A Neurociência, ao revelar os mistérios do
cérebro, ainda tão desconhecido, comprova a “interdisciplinaridade cerebral”,
um trabalho contínuo que implica diversas redes nervosas, aliando-se à
pedagogia e a outras disciplinas, principalmente à psicologia, que reconhece as
múltiplas inteligências do ser humano, podendo colaborar para uma
aprendizagem de qualidade ((RELVAS, 2010).
1.2 O cérebro humano e sua genialidade
Para ingressarmos numa fascinante e misteriosa viagem em
busca de esclarecimento sobre o cérebro, seu papel na inteligência humana e
na aprendizagem, torna-se necessária uma abordagem anatômica do cérebro e
um passeio na história de sua formação, para assim, compreendermos sua
complexidade e as relações que são estabelecidas com a aprendizagem
humana.
1.2.1 Anatomia do cérebro
14
Filogeneticamente, o cérebro humano poderia ser dividido em três
unidades: cérebro primitivo, realizando a tarefa de autopreservação e
agressão; cérebro intermediário, responsável pelas emoções, e cérebro
racional ou superior, responsável pelas tarefas intelectuais. O cérebro primitivo
é constituído pelas estruturas do tronco cerebral, cerebelo, mesencéfalo,
bulbos olfatórios, e pelo mais antigo núcleo da base cerebral; anatomicamente
delimitado, e que corresponde ao cérebro dos répteis. O cérebro intermediário
corresponde aos mamíferos inferiores, já apresentando estrutura do Sistema
Límbico: hipotálamo, tálamo, amígdala e hipocampo. O Sistema Límbico está
relacionado às emoções e à sexualidade. O cérebro superior é encontrado nos
atuais mamíferos: primatas, golfinhos e seres humanos, e representa a
evolução do homem em sua história filogenética (RELVAS, 2010).
Segundo LENT (2005), o Sistema Nervoso Central é um termo geral
para determinar as estruturas neurais situadas dentro do crânio e da coluna
vertebral. Segundo Critérios anatômicos, o SNC pode ser dividido em grandes
partes: Encéfalo e medula espinhal. O encéfalo possui uma forma irregular,
cheia de dobraduras e saliências que permite ver diversas subdivisões. Podese então, reconhecer três partes do encéfalo: o cérebro, o cerebelo e o tronco
encefálico. No cérebro encontra-se o córtex cerebral, onde estão agrupados os
neurônios, nesta área estão representadas as funções neurais e psíquicas
mais complexas. O cérebro é constituído por dois hemisférios separados por
um profundo sulco. Grandes regiões do cérebro, de delimitação por vezes
imprecisas são chamadas de lobos: frontal, parietal, occipital, temporal e
insular.
As associações recíprocas entre as diversas áreas corticais
asseguram a coordenação entre a chegada de impulsos, sua decodificação e
associação, e a atividade motora de resposta. O lobo frontal é responsável pelo
planejamento e pelo controle motor; o lobo temporal tem centros importantes
de memória e audição; o lobo parietal lida com os sentidos corpóreos e
espaciais; o lobo occipital direciona a visão. No tronco cerebral encontram-se o
bulbo raquiano e o tálamo (RELVAS, 2010).
15
O estudo microscópico possibilitou identificar o neurônio e o gliócito
como as unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Considera-se
que o neurônio seja uma unidade morfofuncional fundamental e o gliócito uma
unidade de apoio ( LENT, 2005).
Em sua abordagem, LENT (2005), diz que a célula nervosa veicula
mínimos sinais elétricos, capazes de codificar tudo o que sentimos a partir do
meio ambiente interno e externo, e ainda, tudo o que pensamos a partir de
nossa própria consciência. Os neurônios operam em grandes conjuntos, que
associados formam circuitos ou redes neurais. A diferença entre os neurônios e
as demais células do organismo animal é a sua morfologia adaptada para o
processamento de informações e a variedade de seus tipos morfológicos. O
neurônio é formado por um corpo neuronal ou soma, dentritos e do axônio. O
corpo neural apresenta diversos prolongamentos ramificados, chamados de
dentritos, é deles que o neurônio recebe informações de outros aos quais se
associa. O axônio ou fibra nervosa é a parte do neurônio por onde saem as
informações dirigidas a outras células de um circuito neural. O gliócito seria
encarregado de alimentar e garantir a saúde do neurônio, e ainda, fazer a
orientação de crescimento e de migração dos neurônios durante o
desenvolvimento, de comunicação entre eles, de defesa e reconhecimento de
situações patológicas.
Os neurônios estão sempre se associando a outros a cada vez que
são estimulados por fatores do desenvolvimento humano, fatores estes
internos ou externos; a cada estímulo acontece o contato entre a fibra nervosa
e um dentrito ou o corpo neuronal e mais raramente outro axônio. A esse
contato é o que se chama sinapse. As sinapses então são resultado de
contatos entre os neurônios, através de produção de sinais elétricos que
funcionam como unidades de informação. Isto é possível porque a membrana
plasmática do neurônio é excitável (LENT, 2005). As sinapses ocorrem em
respostas de estímulos internos em decorrência do desenvolvimento e ainda
por estímulos externos. Quanto mais estímulos acontecerem, mais sinapses
serão realizadas, aumentando a capacidade de plasticidade cerebral. Em
16
termos de aprendizagem humana pode-se dizer que quanto mais estimulado,
mais apto o cérebro fica.
1.2.2 Funções mentais
Pode-se dizer que funções mentais sejam processos que se
originam da necessidade do ser vivo adaptar-se ao meio e sobreviver frente
aos obstáculos que essa aventura impõe. O cérebro é o órgão responsável
pelo controle das funções de nosso corpo. Pesquisas revelam que as funções
mentais estão representadas em regiões restritas do sistema nervoso e que
cada um dos neurônios tem uma propriedade específica e se conectam
profusamente, a atividade de um interfere na atividade de milhares de outras
células, o que evidencia que os múltiplos circuitos neurais podem variar em
cada momento, originando a variabilidade do comportamento humano.
“Luria
propõe
igualmente
a
noção
de
pluripotencialidades,
reforçando a idéia de que qualquer área específica do cérebro pode participar
em inúmeros sistemas funcionais ao mesmo tempo” (FONSECA, 2007). As
funções mentais podem ser representadas pela: percepção, atenção, memória,
linguagem, emoção e razão. Nas palavras de LENT, 2005, a percepção, para
os seres humanos, é a capacidade de associar as informações sensoriais à
memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e si
mesmos e orientar o nosso comportamento. O que diferencia a percepção das
sensações seria o que se chama de constância perceptual, explicando que
para os sentidos uma imagem é diferente de acordo com a posição que se
encontra o objeto, mas para a percepção trata-se de um mesmo objeto. Está
situada no córtex cerebral, numa região chamada de córtex associativa; possui
duas partes integrantes de mecanismos: analíticos e sintéticos. O primeiro se
encarrega de analisar as partes constituintes e as propriedades do objeto, o
segundo toma consciência global e unificada dele.
Ainda baseado nas investigações de LENT, 2005, memória é
focalizar a consciência, concentrando os processos mentais em uma única
tarefa principal e colocando as demais em segundo plano, apresentando tipos
diferenciados: atenção explícita e atenção implícita. Na atenção explícita a
17
atenção coincide com a fixação visual e tende a ser automática, e na implícita,
muitas vezes a atenção não coincide com o foco visual, os objetos a serem
percebidos não são selecionados pela posição que se encontram e sim por
outros parâmetros, sendo uma operação mental voluntária. Postner descobriu
que há uma relação de tempo entre o aparecimento da pista que direciona ao
foco e a ocorrência do estímulo-alvo, observando que quanto maior for o tempo
do aparecimento da pista, maior também será o tempo de reação, o que produz
um fenômeno chamado de inibição de retorno. Caso esse fenômeno se repita
várias vezes haverá a extinção da atenção. Descobriu ainda que existe um
mecanismo seletivo que provavelmente cria melhores condições para as
percepções de estímulos relevantes.
“Memória é a capacidade que tem o homem e os animais de
armazenar
informações
que
possam
ser
recuperadas
e
utilizadas
posteriormente” (LENT, 2005). Alguns processos mentais são utilizados na
memória: aquisição, seleção, retenção, consolidação e evocação. Pode ainda
ser classificada segundo o tempo de retenção como: memória ultra-rápida;
memória de curta duração e memória de longa duração. Quanto a sua
natureza, é classificada em: memória explícita, memória implícita e memória
operacional. A memória explícita reúne tudo que podemos evocar pelas
palavras, podendo ser episódica quando estiver relacionado a conceitos
temporais, ou semântica, quando envolver conceitos atemporais. A memória
implícita não precisa ser descrita com palavras, podendo ser de quatro
subtipos: memória de representação perceptual, memória de procedimentos,
associativa e memória não-associativa. A memória operacional é aquela em
que armazenamos temporariamente informações úteis para o raciocínio
imediato e a resolução de problemas. O processo de aquisição das novas
informações que vão ser retidas na memória está relacionada à aprendizagem
( LENT, 2005).
“A linguagem é determinada pelos sistemas de comunicação com
regras definidas que devem ser empregadas por um emissor para que a
18
mensagem possa ser compreendida pelo receptor” (LENT, 2005. p. 623), nas
modalidades: oral, escrita, gestual, etc.
Em suas pesquisas Broca colaborou para o conceito de localização
do sistema nervoso, lançando a idéia de dominância hemisférica. Durante
muitas décadas pensou-se que o hemisfério esquerdo, sede da fala, era
dominante sobre o direito, tendo esse apenas papel secundário e coadjuvante.
A importância dessas descobertas tornou-se relevante para os tratamentos de
distúrbios da fala. A linguagem falada tem uma base neurobiológica inata, e a
escrita é uma construção cultural. A linguagem falada é o principal modo de
comunicação dos seres humanos, sendo caracterizada pela produção e
compreensão de sons vocais de sequência rápida, usando o aparelho fonador
e depois o auditivo. Os psicolinguistas consideram que possuímos o que se
chama de léxicon mental, uma espécie de dicionário onde o indivíduo busca
informações semânticas, sintáticas e fonológicas necessárias à expressão
verbal de seus pensamentos. O léxicon estaria organizado em redes
semânticas categorizados por significados semelhantes: animais, pessoas,
cores, plantas, instrumentos, etc. Assim, é possível identificar as regiões
cerebrais correspondentes a cada categoria, o que torna relevante para o
tratamento de alguns distúrbios da fala. Tais estudos revelaram ainda que o
processamento fonológico mostrou-se lateralizado em homens e bilateral nas
mulheres, não constituindo uma questão genética, mas simplesmente de
estratégias empregadas pelos homens e pelas mulheres na busca do léxicon.
Observou-se ainda que o córtex frontal anterior à área de Broca pode sediar o
léxicon sintático e o córtex frontal posterior seria responsável pela expressão
verbal. Como já vimos, a linguagem escrita difere da falada por ser cultural e
mais formal, dependendo de uma aprendizagem mais sistêmica. A diferença é
fundamental na desvantagem temporal, pois para a escrita é necessário maior
empreendimento de outras áreas. Um século após a descoberta de Broca,
pesquisas de Roger Sperry revelaram que os hemisférios possuem suas
especializações, porém sem dominância, pois os dois lados trabalham em
conjunto, estando em constante comunicação realizada através de milhões de
19
fibras nervosas, chamadas de comissuras cerebrais. As comissuras cerebrais
são três: o corpo caloso, a comissura anterior e a comissura do hipocampo. O
corpo caloso é a maior delas, possuindo duzentos milhões de fibras que
interconectam a maior parte do córtex cerebral de ambos os hemisférios. Essas
pesquisas relatam experimentos de cirurgias realizadas de transecção das
comissuras cerebrais em indivíduos portadores de epilepsias graves. Verificouse que a interrupção do corpo caloso impede que o foco epilético se expanda
para o hemisfério oposto, diminuindo assim o número de crises e podendo ser
controlada. Observou-se em pacientes comissurotomizado uma desconexão
inter-hemisférica, que como o próprio termo expressa, impede que os dois
hemisférios troquem informações. A partir dessa síndrome pode-se lateralizar
os estímulos, revelando a especialização de cada hemisfério (LENT, 2005).
“Razão e emoção são operações mentais acompanhadas de uma
experiência interior característica, capazes de orientar o comportamento e
realizar os ajustes fisiológicos necessários” (LENT, 2005. p.653). As definições
sobre razão e emoção não são precisas por não serem fáceis de serem
observáveis em nível de repercussão orgânica, por isso os neurocientistas
adotaram uma definição operacional. O autor continua observando que “a
emoção é uma experiência subjetiva acompanhada de manifestações
fisiológicas detectáveis, através das mudanças de expressões faciais e
movimentos corporais, além de outros como: suor, taquicardia, ruborização,
etc. Charles Darwin foi o primeiro a constatar que tanto em homens e animais,
as expressões comportamentais de emoções são inatas. Tal comprovação
demonstra que tem uma utilidade para a vida dos animais, seja para
adaptação, garantia da sobrevivência dos indivíduos e ainda, da espécie. O
anatomista James Papez descobriu que vários aspectos das emoções estavam
relacionados em redes neurais, o que ficou conhecido por circuito de Papez,
que inclui: o córtex cingulado, o hipocampo, o hipotálamo e os núcleos
anteriores do tálamo e mais tarde a amígdala. A partir do circuito de Papez,
Paul Broca definiu o circuito como sistema límbico, relatando que a maioria das
regiões envolvidas, com as emoções, localiza-se na face medial dos
20
hemisférios e no diencéfalo. As emoções podem ser consideradas negativas ou
positivas de acordo com as manifestações e causas determinantes. Como
emoções negativas destacam-se o medo, o estresse e a ansiedade. O medo
por ser provocado por estímulos causadores determina que as regiões neurais
conectam-se de algum modo com os sistemas sensoriais. O estresse acontece
diante de uma causa geradora de medo crônico, e a ansiedade, um estado de
tensão ou apreensão, gerada pelo medo ou pela expectativa de que algum fato
possa acontecer no futuro, seja ele positivo ou negativo. As emoções positivas
são aquelas que nos causam prazer. “Os sentimentos de prazer que levam à
autoestima indicam a importância dos estímulos de reforço positivo ou
recompensa que determinam os comportamentos” ( LENT, 2005, p.670 ).
LENT, 2005, define consciência como “a percepção da lógica de
nossas operações”, um termo sujeito a diferentes interpretações, pois também
pode indicar nível de alerta. Assim, entende-se que a razão está relacionada à
emoção e que nem sempre é consciente. O uso da razão requer o
estabelecimento de um objetivo, de planejamento e execução. O indivíduo se
utiliza de sua memória operacional e uma lógica global inconsciente. A razão
está relacionada com o córtex pré-frontal no lobo frontal, estabelecendo
conexões com todo o encéfalo.
Constatamos assim, a relevância da compreensão do funcionamento
das articulações neurais e as funções que realizam.
Estudos demonstram a enorme capacidade cerebral e sua
habilidade modificatória, evidenciando ser o cérebro provido de genialidade, e
ainda, que tais evidências possibilitam entender como o meio ambiente e a
cultura
do
indivíduo
podem
provocar
novas
aprendizagens
e
consequentemente novas mudanças no cérebro.
1.2.3 Plasticidade cerebral
Chama-se neuroplasticidade ou simplesmente plasticidade, a
capacidade de adaptação do sistema nervoso, especialmente a
dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente que
ocorrem no dia-a-dia da vida dos indivíduos, conceito amplo
que se estende desde a resposta a lesões traumáticas
21
destrutivas até as sutis alterações resultantes do processo de
aprendizagem ( LENT, 2005. p. 135 ).
De acordo com estudos, cientistas puderam comprovar as
modificações sofridas pelos neurônios a cada estímulo do meio ambiente. Em
outros casos a mudança só pode ser observada por correlatos funcionais. Com
os avanços tecnológicos foi possível observar a estrutura microscópica do
tecido nervoso, assim compreendendo-se a organização de suas unidades,
estruturais e funcionais, que são respectivamente os neurônios e os gliócitos.
Os neurônios são células com funções de transmissão e processamento de
sinais e são formados por dentritos e axônios. Os dentritos captam os sinais de
outros neurônios e os axônios levam as mensagens para outros neurônios ou
célula muscular. A comunicação entre os neurônios gera pulsos elétricos que
se propagam ao longo do axônio, levando uma mensagem química para a
célula seguinte. A este fenômeno é o que chamamos de sinapses. “Ao serem
transmitidas, as mensagens podem ser modificadas, e é justamente nisso que
resulta a grande flexibilidade funcional do sistema nervoso”(LENT, 2005 ).
Torna-se
relevante
à
compreensão
do
estudo
sobre
a
neuroplasticidade, entender o funcionamento das sinapses. Estudos revelaram
que existem dois tipos de sinapses, as elétricas e as químicas. As sinapses
elétricas são incapazes de processar informação, apenas transmitindo uma
cópia de uma célula à outra. É a velocidade de transmissão, permitindo que
numerosas células se acoplem, fato importante para que algumas funções
orgânicas se realizem, o que torna evidente a relevância desse tipo de sinapse.
As sinapses químicas, diferente das elétricas, permitem a transmissão de
informações, ao ser constatado liberação de substâncias biológicas, alterando
a informação transmitida ente as células nervosas, como um microcomputador
biológico.
O estudo da plasticidade ontogenético revela a existência de uma
fase na infância durante a qual a influência do ambiente é determinante para o
estabelecimento das características fisiológicas e psicológicas do indivíduo.
Tais fatos podem ser comprovados em relatos de crianças que se
desenvolveram em ambientes selvagens; encontradas em companhia de
22
animais e após esse período submetidas à aprendizagem, tiveram um
desempenho insatisfatório. Tal fato corrobora para a evidência de que as
possibilidades de aprendizagem se esgotam durante a infância. A função da
linguagem parece se estender até o período de dez anos, ainda havendo certa
controvérsia nessa avaliação.
A descoberta dos períodos críticos levou à conclusão equivocada de
que a capacidade dos circuitos neurais se extinguiria depois de certa idade. A
partir de experiência com macacos, um grupo de pesquisadores dos Institutos
de Saúde dos Estados Unidos, pode descobrir que o cérebro de animais
adultos é dotado de plasticidade axônica. Nesta pesquisa, certo número de
macacos fora submetido a uma cirurgia onde as raízes dorsais da medula
correspondente aos membros superiores foram cortadas. Ao final de dez anos,
observaram que a face da região cerebral que representava o braço, passava a
conter uma nova representação da face, portanto, uma dupla representação do
córtex cerebral. A neuroplasticidade varia de acordo com a idade do indivíduo,
sendo verificada profusamente na fase de desenvolvimento dita crítica, período
em que muitas transformações ocorrem no organismo. Na fase adulta
observou-se que a neuroplasticidade diminui seu ritmo ou apenas modifica na
fase adulta, porém não se extingue ( LENT, 2005).
LENT, 2005, revela que a plasticidade nem sempre provoca
conseqüências benéficas, evidenciando algumas anomalias ou resultados maladaptativos, e, portanto, danosos ao indivíduo. Apesar dessa tese ainda não
estar comprovada, um dos exemplos a ser dado é o caso da “síndrome do
membro fantasma”, quando um indivíduo que teve algum membro cortado,
pode ainda ter algumas sensações específicas do membro, como se ele ainda
existisse. Outro dado refere-se ao experimento em hamsters. Ao realizar lesões
em seu sistema visual, notou modificabilidade de comportamento visual do
animal, ao ser colocado sementes de girassol, seu alimento preferido, o animal
virava a cabeça para o lado oposto.
A respeito do benefício da plasticidade, são evidentes alguns
fenômenos que comprovam que indivíduos cegos têm maior aquidade auditiva
23
do que aqueles que vêem, que sua percepção somestésica é mais apurada do
que os demais, e até que os violinistas treinados desde a infância possuem
maior representação cortical dos dedos da mão esquerda. Experiências em
gatos que tiveram os dois olhos suturados revelaram que sua acuidade auditiva
e a percepção espacial são melhores em comparação às mesmas habilidades
em gatos normais. Observaram ainda, que as áreas do córtex cerebral
apresentavam aumento. Mesmo que os mecanismos celulares compensatórios
ainda não estejam completamente esclarecidos, estudos demonstram a
enorme capacidade cerebral e sua habilidade modificatória.
RELVAS, 2010, faz sua contribuição quando relata que o cérebro
possuindo cerca de cem bilhões de neurônios, pode estabelecer milhares de
sinapses, e que por isso mesmo a capacidade de aprender é ampla. Fala de
uma “interdisciplinaridade cerebral”, quando o conhecimento de uma área é
aproveitado em outra área.
A aprendizagem é uma modificação biológica na comunicação
entre os neurônios, formando uma rede de interligações que
podem ser evocadas e retomadas com relativa facilidade e
rapidez. Todas as áreas cerebrais estão envolvidas no
processo
de
aprendizagem,
inclusive
a
emoção.
( RELVAS,2010,p. 35 ).
Pode-se dizer que quando ocorre a ativação de uma área cortical,
acontecem alterações em outras áreas, pois as regiões cerebrais não
trabalham isoladamente. As associações recíprocas coordenam a chegada dos
impulsos, sua decodificação e a atividade motora de resposta.
Ao pensarmos em aprendizagem vem logo à nossa mente
questionamentos sobre inteligência e cognição, pois atribuímos a elas toda a
capacidade de aprender. “A cognição por definição é sinônimo de ato ou
processo de conhecimento”, ou algo que é conhecido através dele (FLAVEL,
1993, Apud FONSECA, 2007. p. 32).
É importante o diálogo entre os diferentes conceitos, buscando
reforçar a idéia de que somente através dos estímulos repetidos e
significativos, o cérebro poderá desenvolver sua capacidade de plasticidade.
Daí a importância que a Neurociência vem estabelecer quando dispõe de suas
24
descobertas e reclama sua posição no âmbito escolar, para que os indivíduos
possam desenvolver suas competências e habilidades em toda a sua plenitude,
colaborando ainda com questões relacionadas a distúrbios ou transtornos da
aprendizagem.
25
CAPÍTULO 2
COGNIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
A aprendizagem é um imenso e complexo evento neurológico, cujo
processo envolve sempre a potencialização ou capacidades cognitivas. As
funções cognitivas não se desenvolvem espontaneamente, necessitando de
treino sistemático e mediatização contínua. Dessa forma, compreender como
se processa o desenvolvimento cognitivo e a sua relação com a cultura, é fator
que não podemos ignorar, pois diante de questões como dificuldades de
aprendizagem, torna-se imprescindível estabelecer uma prática adequada ao
desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, tanto biológico como
culturais.
2.1 – Pressupostos filogenéticos da cognição
“A cognição tem um passado aproximado de quatro bilhões de anos,
mas apenas cem anos de história. Em termos filogenéticos, a cognição
emergiu da ação e da motricidade ideacional inerente à espécie humana”
(CALVIN, 1998,1989. apud FONSECA, 2007). A cognição tem origem da
necessidade que o homem teve em se adaptar ao meio ambiente e a
necessidade de sobreviver, solucionando prováveis problemas ou movido pelo
prazer pessoal. A evolução cognitiva baseia-se assim, primeiramente às
exigências ambientais, passando para as exigências sociais e culturais. A
linguagem é o aspecto que destaca a evolução cognitiva.
A espécie humana possui uma sintaxe biológica e extrabiológica. A
biológica refere-se à motricidade desenvolvida com o estilo de vida de
26
caçadores-recoletores. A extrabiológica refere-se à cultura, que atingiu seu
auge com a linguagem corporal e depois a falada ( FONSECA, 2007 ).
O mesmo autor define cognição como “um sistema complexo de
componentes
que
envolvem
conhecimento,
pensamento,
criatividade,
resolução de problemas, inferência, conceitualização e simbolização”. Como
produto da evolução filogenética, evoca sistemas de sobrevivência, de prazer e
de aprendizagem. A construção da cognição não é linear, dependendo de
fatores que envolvem o desenvolvimento biológico, interno e fatores externos
mediatizados por contextos sociais e culturais.
As competências cognitivas são representadas pela aprendizagem,
em sua eficácia ou ineficácia, através do desempenho intelectual, fatores de
performance que constituem os processo da aprendizagem.
Stenberg( 1998,1982,1977) distingue cinco componentes
fundamentais da inteligência: componentes de aquisição,
componentes de retenção, componentes de transferência,
metacomponentes de controle ( envolvendo planificação e
decisão) e componentes de desempenho. (FONSECA,2007.
p. 63).
Seguindo o mesmo autor, podemos dizer que o processo cognitivo é
global, pois não se pode determinar exatamente o que ocorre no cérebro em
termos de aprendizagem, mas observar como ele capta, extrai, integra,
armazena,
combina, elabora, planifica e
comunica a
informação. O
desenvolvimento cognitivo, assim, é revelado na interligação que ocorre nesse
processo.
A cognição não pode ser desconectada ao estudo sobre a memória,
pois aprender está diretamente relacionado à capacidade de relembrar e de
recuperar informações armazenadas. A memória sendo crucial para a
aprendizagem envolve complicados códigos eletroquímicos e desencadeia um
conjunto de mudanças nas estruturas neuronais. Possuindo uma dimensão
temporal, no primeiro momento foca ativamente a informação por cerca de
trinta segundos, passando a um nível mais elaborado e emocionalmente mais
integrado de armazenamento, onde possa ser rechamada por um período mais
longo. Daí a importância da treinabilidade e educabilidade da memória e da
27
metamemória, através de estratégias como: visualização, imaginação,
verbalização,
categorização,
etc.
Estas
estratégias
irão
efetivamente
proporcionar a promoção do potencial da aprendizagem.
Segundo Stenberg (1982,1977), o desenvolvimento cognitivo é
metacoponencial, metaexperencial e metacontextual, onde suas competências
podem ser
diagnosticadas e ensinadas separadamente,
relacionando o
conhecimento com a cultura. A aprendizagem envolve um equilíbrio entre a
herança biológica e o contexto sociocultural facilitador.
Nesse sentido, a
aprendizagem humana é o produto das interações interiores e exteriores,
realizadas com outros aprendentes. A aprendizagem humana assim é uma
síntese psicopedagógica, como evocou Vygotsky (1986,1962). “Psicológica,
porque envolve processos de atenção, de codificação, de planificação e de
expressão, e pedagógica porque envolve a aplicação de estratégias e
mediatização sociocultural”. (DAS 1998,1966. FONSECA, 2007).
2.1.1 - Cognição X Inteligência
Ao refletirmos sobre aprendizagem, é importante percebermos
alguns equívocos cometidos no espaço da escola, quando educadores
costumam confundir conceitos sobre cognição e inteligência, sendo comuns
comentários a respeito dos alunos avaliados como mais inteligentes ou menos
Inteligentes. Assim, “inteligência é uma habilidade nata, relativamente fixa e
constante, e largamente determinada geneticamente “(FONSECA, 2007). A
cognição são modos de como a informação se processa, dispositivos,
estratégias de adaptação e pensamento. Como dispositivos, são altamente
modificáveis ao longo do desenvolvimento. Os indivíduos adquirem tais
processos através da aprendizagem por exposição direta às fontes de
informação e pelas experiências de interação mediatizada por outros
indivíduos.
É
imprescindível
assim
que
haja
uma
aprendizagem
contextualizada pelas interações sócios-culturais, pois a inteligência sozinha
não é capaz de dar conta de uma percepção clara e efetiva, de um
pensamento plástico. Mediatizar assim não é sinônimo de mediar, pois
28
mediatizar compõe fatores de troca de experiências e intervenção da promoção
concreta do enriquecimento cognitivo.
2.2- Relações entre desenvolvimento e aprendizagem humana
2.2.1 Desenvolvimento e processos
O desenvolvimento é simultaneamente orgânico e social, pois para
muitos neurocientistas, seu mecanismo é uma função do meio, sendo ainda
individual, pois cada cérebro é diferente do outro.
Piaget em seus estudos sobre a origem da inteligência evidenciou a
existência de estágios no desenvolvimento humano. Segundo ele o ambiente é
o que deflagra o desenvolvimento. Entendendo que o homem possui
equipamento neurológico e sensorial que interfere em seu desenvolvimento,
ressalta que é a interação com o meio que precipitará a organização desses
significados em estruturas cognitivas. O desenvolvimento está relacionado ao
equilíbrio das necessidades biológicas fundamentais à sobrevivência. Segundo
Piaget a aprendizagem objetiva o equilíbrio. Assim colabora com seus
conceitos sobre organização, adaptação, assimilação e acomodação. Face a
um novo conhecimento, o indivíduo primeiramente toma conhecimento das
relações das partes e o todo, após esse conhecimento, adapta-se ao objeto e
mais tarde apropria-se dele.
A adaptação passa por duas fases: a assimilação, que são os
ajustes intelectuais necessários diante dos novos objetos a conhecer, e a
acomodação, quando o indivíduo constrói o equilíbrio entre as duas fases da
adaptação. Na interação com o meio é que o homem desenvolve sua
intelectualidade diante de desafios, organizando-se e adaptando-se a ele,
primeiramente por assimilação, ao
incorporar dados
sobre
o objeto
apresentado, passando à acomodação, quando há a construção do
conhecimento.
Piaget ainda fala de desequilibração, um certo desajuste face a
novos desafios. De acordo com Piaget “a cognição seria um instrumento
29
adaptativo do comportamento humano”. Outro conceito dedicado à construção
do conhecimento desenvolvido por Piaget fala sobre “esquemas”. Esquemas
seriam processos de ação aplicados à realidade pelo indivíduo diante de sua
interação com o meio. São estes os modos sistemáticos pelos quais nos
apropriamos dos objetos. “Um determinado conjunto de esquemas integrados
virá a constituir-se numa estrutura intelectual” (AZENHA,1998).
As descobertas de Piaget colaboraram e ainda são suportes de
pesquisas a respeito do desenvolvimento humano e sua aprendizagem ( LIMA,
2002,2001,1998 ).
2.2.2.Desenvolvimento cognitivo e afetividade
O desenvolvimento é um processo interior enquanto que a
aprendizagem envolve fatores externos; estão reciprocamente relacionados,
pois quanto mais são os estímulos oferecidos, maior será o desenvolvimento.
Desde a tenra idade, o indivíduo estabelece as suas relações sociais, provido
de uma capacidade mental advinda de uma estrutura dita biológica, desenvolve
as funções mentais através de estímulos exteriores. A qualidade do
desenvolvimento está diretamente ligada a fatores de intensidade dos
estímulos. O bebê poderá desenvolver mais satisfatoriamente a sua percepção,
concentração, por exemplo, pelo contato com a sua família, o toque de sua
mãe, a exposição de objetos em seu meio ambiente, a conversa e o movimento
e as brincadeiras exploradas com a criança, todas essas ações proporcionam o
desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas e a coloca em contato
com o mundo.
2.2.3 – Critérios na mediatização da aprendizagem
Feurerstein ( 1980 ) e Haywood ( 1995 ) apud FONSECA (2007),
sugerem alguns critérios na mediatização da aprendizagem: intencionalidade,
transcendência, significação, regulação do comportamento e participação
compartilhada. O mediatizador deve usar a interação com a finalidade de
produzir mudança cognitiva estrutural e não apenas circunstancial, de modo
30
que o indivíduo possa pensar sobre suas ações, conferindo suas competências
na aplicação de modos diferentes de pensamento e adaptação de estratégias
de resolução de problemas. O bom mediatizador deverá também regular o
comportamento impulsivo do mediatizado, possibilitando maior reflexão sobre
as estratégias de resolução de problemas, pois os freqüentes erros diante de
tentativas vazias podem determinar bloqueios. Enfim, interação entre os
indivíduos deve ser caracterizada por mútua confiança, possibilitando
mudanças no desenvolvimento mental. Tais critérios desenvolvem nos
indivíduos a propensabilidade de aprender a aprender (FONSECA, 1999,
1999a ).
As contribuições de Luria e Vygotsky em estudos realizados sobre
as funções mentais revelam conceitos implícitos no desenvolvimento e
aprendizagem humana. O cérebro modifica suas estruturas e mecanismos a
partir da interação dos indivíduos com o mundo. As sensações fornecem ao
cérebro informações sobre o corpo que produz uma motricidade adaptativa e
flexível. Ontogeneticamente essa interação sensorial acontece no útero
materno e após o nascimento através de gestos, visão e palavras.
O processo de aprendizagem humana envolve ao menos três
componentes: a memória, a consciência e a emoção. A estes
somam-se outros que são os próprios mediadores da ação
humana, o desenvolvimento e a utilização dos sistemas
simbólicos, principalmente a linguagem, e o papel da cultura no
processo de desenvolvimento humano.Este processo é
resultante
da
articulação
entre
desenvolvimento,
aprendizagem, socialização e formação da personalidade.
( LIMA, 2002,2001,1998. P. 9 )
Percebemos assim que a articulação entre desenvolvimento,
aprendizagem, socialização e formação da personalidade é na verdade o
aspecto da formação global do indivíduo, aspecto esse a ser dimensionado no
âmbito escolar, favorecendo-lhe ao introduzir neste espaço, conhecimentos de
outras áreas do saber. A psicologia é a área que mais influenciou os aspectos
pedagógicos, trazendo à luz de nossos conhecimentos teorias sobre o
desenvolvimento e aprendizagem. ( LIMA, 2002,2001, 1998).
31
Vários neurocientistas têm apontado para o fato de que o
desenvolvimento do cérebro se forma na dinâmica cotidiana das reações do
indivíduo
ao
meio,
idéia
defendida
por Wallon,
ressaltando
que
o
desenvolvimento é do contexto. Vygoksky propõe um conceito que chamou de
Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento Potencial,
considerando o que o indivíduo consegue realizar sozinho e o que ele pode
realizar tendo ajuda de outros indivíduos. Diverge de Piaget em sua teoria
sobre desenvolvimento. Segundo Piaget, a aprendizagem só ocorre depois do
desenvolvimento, quando biologicamente o indivíduo está preparado. Para
Vygotsky o desenvolvimento discorre de uma aprendizagem adequada, e que a
partir da aprendizagem é que serão desenvolvidas as características humanas
construídas historicamente.
A aprendizagem não é em si mesma desenvolvimento, mas
uma correta organização da aprendizagem da criança; conduz
ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos
de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se
sem a aprendizagem (Vygotsky, 1977. p.47 apud
http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/v11n3a02.pdf ) .
A partir dos estudos neurocientíficos pode-se tirar elementos
fundamentais sobre as relações de desenvolvimento e aprendizagem, quando
afirmam que algumas práticas no processo de construir o conhecimento
dependem da idade do indivíduo, porém, outras práticas devem ser realizadas
independentes da idade, e que a natureza de alguns problemas na
aprendizagem pode estar na esfera do desenvolvimento do sistema nervoso.
Um bom exemplo diz respeito à competência relacionada ao desenvolvimento
temporal e espacial na aprendizagem da escrita. Entendendo que a
alfabetização envolve a construção sonora da palavra escrita, percebemos que
a leitura em voz baixa ou em voz alta é componente da aprendizagem da
escrita. Sabemos que dentro desse processo a memória tem papel
fundamental. Assim o tempo de exposição de um determinado assunto deve
ser trabalhado tanto pela memória imediata quanto pela memória a longo
prazo. . O corpo caloso, responsável pela comunicação entre os dois
hemisférios do cérebro, está ligado à memória, levando aproximadamente uma
32
década para amadurecer, isto significa que quanto menor a criança for, menor
será o fluxo de informações entre os hemisférios. Isto explica porque pouco nos
lembramos dos primeiros anos de
vida
(RESTAK,1995 apud
LIMA,
2002,2001,1998 p. 15 ).
Outro aspecto refere-se ao desenvolvimento da consciência,
envolvendo atenção, percepção e emoção, e a sua origem. De acordo com as
descobertas, a consciência tem sua origem na formação de uma saliência no
cérebro, provocada pela elaboração de uma rede neural; esta rede é
constituída a partir do tempo e forma de exposição do indivíduo a determinado
conteúdo. (DAMASIO, 1995, apud LIMA, 2002, 2001, 1998).
LIMA (2002, 2001, 1998) fala da importância da cultura sobre a
memória, pois esta depende da biografia do sujeito, construindo seu
conhecimento através do domínio das práticas culturais existentes em seu
meio; completa dizendo que o tempo e espaço determinam as formas e as
qualidades da aprendizagem e que a imitação, primeira estratégia que o ser
humano utiliza para aprender, além de ação motora, desencadeia processos
neurológicos da memória.
Os
conhecimentos
recentes
contribuem
para
esclarecer
os
elementos implicados em aprender e se desenvolver como ser humano.
Mesmo entendendo o desenvolvimento como um aspecto social e cultural, isto
é, a cultura é que dimensiona o desenvolvimento, é correto dizer que o
desenvolvimento possui aspectos biológicos. Um organismo ainda imaturo não
poderá realizar certas funções; uma criança que não tem um aparelho fonador
estruturalmente formado, não conseguirá falar, assim como um bebê de
apenas alguns meses não conseguirá andar, escrever ou ler e outras
habilidades que dependem do tempo de organização e formação neurológica,
psicológica e psicomotora.
A aprendizagem como formação humana é um desafio para as
instituições de ensino, não podendo ausentar-se das importantes contribuições
da psicologia, da neurologia e neuropsicologia para a educação, pois todas as
disciplinas mencionadas trazem informações imprescindíveis para uma ação
33
pedagógica que propicie o desenvolvimento humano em sua globalidade,
podendo assim descobrir melhores estratégias para ajudar o aluno em sua
aprendizagem, reconhecendo seu tempo biológico e psicológico, intermediando
e provocando seu potencial cognitivo. Não se pode entender a educação sem o
olhar investigativo, sem intencionalidade, sem o conhecimento do sujeito da
aprendizagem. É nesse sentido que a Neurociência pode ser considerada
como uma ferramenta a mais para o educador, ao trazer elucidações
importantes sobre a estrutura e processos cognitivos.
34
CAPÍTULO III
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
O cérebro é um conjunto dinâmico, continuamente modelado a partir
de experiências sensoriais e de aprendizagem. Nosso sistema nervoso contém
uma extensa rede de neurônios que se intercomunicam e que passam por
várias fases de amadurecimento e organização. Ao se organizarem, os
neurônios compensam prováveis deficiências. O estímulo ambiental é o que
garante a modificabilidade do comportamento ( BARBIRATO, 1970).
O mesmo autor diz que a preocupação com a saúde mental
começou após a Primeira Guerra Mundial, com a questão dos órfãos
produzidos pela guerra, mas a atenção cresceu na segunda metade do século
XX pelas exigências que a criança apresenta durante a escolaridade,
percebendo-se assim que o desempenho escolar está intimamente relacionado
à saúde mental. A partir daí iniciou-se o estudo sobre o papel do cérebro para a
compreensão do funcionamento da mente.
3.1 Anatomia da aprendizagem humana
Todas as células cerebrais são formadas durante os três primeiros
meses de gravidez. Ao nascer, a criança já possui 100 bilhões de neurônios,
que ao interagir com o mundo irão formar conexões que vão possibilitar o
desenvolvimento de todas as funções da vida mental.
Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para o seu
desenvolvimento, cada experiência nova favorece condições para o surgimento
de novas capacidades, além de desenvolver o equilíbrio psicológico (RELVAS,
2010 )
35
A aprendizagem é a modificação do comportamento,
como resultado da experiência ou aquisição de novos
conhecimentos acerca dos meios, e a memória é a
retenção deste conhecimento por um tempo
determinado. ( RELVAS, 2010, p.36 )
A aprendizagem, segundo a autora, é uma modificação biológica,
pois está ligada às coligações neuronais, evocadas e retomadas com rapidez.
Isto é possível porque o cérebro possui uma plasticidade que permite ilimitada
capacidade de aprender e responde eficazmente à atividade física e ao treino
mental, podendo manter-se ágil durante toda a vida. É importante ressaltar que
atividades que não provocam a concentração e o pensamento, podem traduzir
numa limitação à aprendizagem, pois o cérebro necessita de estímulos
constantes para que haja maior comunicação entre as células nervosas. A
atividade física aeróbica surge então, entre outros estímulos, como coadjuvante
da aprendizagem, a partir do momento em que permite a oxigenação do
cérebro, levando oxigênio às áreas do cérebro, possibilitando a comunicação
entre os neurônios, as sinapses, melhorando a memória e a capacidade de
raciocínio.
As regiões cerebrais não atuam isoladamente, pois outros
conhecimentos podem ajudar na construção de um conhecimento específico. É
a plasticidade cerebral que permite isto ser possível.
RELVAS, 2010, aponta quatro processos de aprendizagem a partir
da neuroplasticidade neuronal: habituação, sensibilização, condicionamento
clássico e condicionamento operante. Na habituação, estímulos repetidos
provocam uma sensível diminuição das respostas. Na sensibilização, há um
aumento de neurotransmissores. No condicionamento clássico, ocorre a
associação de estímulos, e no condicionamento operante, há a associação
entre estímulo e comportamento.
A memória é a base no processo da aprendizagem, pois é o registro
vivo
de
experiências
comportamento.
que
Através
da
poderão
memória
ser
evocadas
planejamos,
na
mudança
abstraímos,
do
temos
julgamento crítico e atenção. RELVAS, 2010, assim, aponta dois tipos de
36
memória: a emocional e a racional. As duas memórias se articulam
rapidamente nas tomadas de decisão.
O Sistema límbico é uma área do cérebro importante para o
aprendizado, pois o hipocampo é ativado no processo de assimilação,
momento em que são enviadas as informações para a memória curta ou longa
duração. O hipocampo seleciona as informações, enviando as mais relevantes
ao córtex. A partir deste momento é o lobo frontal quem guarda as
informações, classificando-as de acordo com o tipo. As diferentes memórias se
completam dando origem ao raciocínio. RELVAS, 2010, determina a relação
das funções desempenhadas por diferentes regiões corticais.
Córtex motor primário
Inicia o comportamento
Córtex visual primário
Detecta estímulos visuais
Voluntários
Córtex motor primário
Detecta os estímulos
auditivos
Córtex visual primário
Coordena movimentos
complexos
Córtex motor primário
Produção da fala articulada
Córtex de associação
Base do esquema corporal
Área de Wernicke
Compreensão da fala
Área Pre - frontal
Planejamento, emoção,
julgamento
Área Temporo-parietal
Percepção
3.2 Gêneros, cérebro e aprendizagem
A escola deve estar preparada para atender as múltiplas
inteligências dos alunos, assim como dispor de tecnologias para desenvolvêlas, e ainda, conhecer bem o grupo a que atende nas suas possibilidades,
habilidades, dificuldades e diferenças. Pensando assim é que RELVAS, 2010,
37
contribui com seus estudos sobre a anatomia cerebral e as diferenças entre
meninos e meninas. Apesar de entender que as diferenças culturais são
maiores entre os gêneros, estudos revelaram que a anatomia cerebral entre os
gêneros são diferentes, acarretando diversidade no modo de aprender.
A educação em seu aspecto geral abraça a ideia do respeito à
história
do
indivíduo,
sua
cultura
e
fatores
que
determinam
seu
desenvolvimento. Muitas são as contribuições nesse campo sobre as múltiplas
Inteligências, a necessidade de uma visão holística sobre as dificuldades da
aprendizagem e a urgência de uma prática realista que possa contribuir
efetivamente para a construção do sujeito crítico e capaz de transformar sua
própria realidade. Dentro desses pressupostos, poucos sabem sobre os
aspectos biológicos que nos caracterizam individualmente, pois, apesar de
apresentarem padrões, possuem especificidades representadas pela cultura.
Dentro desse quadro, RELVAS, 2010, presenteia-nos com suas abordagens
sobre os diferentes modos em que homens e mulheres aprendem, pensam,
criam estratégias, calculam o tempo, estimam a velocidade de objetos,
realizam cálculos matemáticos, orientam-se no espaço e reagem às suas
experiências. Tais padrões diferenciados de comportamento são evidenciados
não apenas por fatores culturais, mas também genéticos.
Por meio das pesquisas neurobiológicas comportamentais,
chega-se a uma “quase conclusão’ teórica, que o meio
ambiente e a aprendizagem social contribuem em uma grande
variedade de diferenças neurofisiológicas e anatômicas entre
os cérebros dos homens e das mulheres. O estudo demonstra
as diferenças cerebrais. Métodos pesquisados por meio de
exames de imagem, tornam possível o estudo do cérebro vivo,
realizando diferentes funções ( RELVAS, 2010, pag.70 )
A ciência afirma que o hemisfério esquerdo é analítico enquanto o
direito, intuitivo. Ligados por um feixe nervoso, considera-se que nesta região
reside a chave do desenvolvimento intelectual. Costuma ser difundido que pelo
fato do hemisfério esquerdo estar mais relacionado à área exata, estaria
refletida a ideia de que aí se origina a inteligência e maior capacidade de
raciocínio crítico. Estudos revelam que o pensamento crítico seria estéril e
38
fadado ao erro caso não houvesse o discernimento criativo e intuitivo originado
no hemisfério direito. O corpo caloso assim é na verdade, o campo de
comunicação entre os hemisférios e o grande responsável pela tarefa
intelectual ( SAGAN, apud RELVAS, 2010 ).
De Acordo com RELVAS, 2010, existem algumas diferenças
genéticas entre os cérebros femininos e masculinos, ocorrendo então
diferentes modos na aprendizagem. O feixe que liga os dois hemisférios
cerebrais é maior nos cérebros femininos, o que permite maior comunicação
entre os hemisférios. Como as regiões cerebrais não trabalham isoladamente,
sendo outras acionadas para determinada tarefa, foi constatado maior
densidade de neurônios entre os cérebros femininos.
Os cérebros masculinos trabalham mais centralizados nas regiões
específicas; assim sendo, há diferentes mecanismos de aprendizagem entre
homens e mulheres, modificando os comportamentos ao lidarem com as
tarefas e mesmo com suas emoções. Segundo estudos as mulheres são mais
capazes de verbalizar suas emoções enquanto os homens as isolam e tendem
a seguir em frente. Consequentemente as mulheres tendem a ser mais
cautelosa do que os homens quando falam, e estes com maior probabilidade a
dizerem coisas sem pensar.
O cérebro feminino atinge sua maturidade aos oitos anos enquanto o
masculino apenas três anos mais tarde, porém as regiões onde se concentram
as atividades de raciocínio mecânico e espacial e concentração visual parecem
se desenvolver quatro a oito anos mais cedo nos homens.
O cérebro dos homens é dez por cento maior que o cérebro das
mulheres. Descobertas revelam que existe uma região no córtex, o lóbulo
ínfero-parietal (LIP), bilateral, localizando-se acima do nível das orelhas. O
tamanho parece estar relacionado às habilidades mentais em matemática. Nos
homens, o lado esquerdo desse lóbulo é maior que o direito; nas mulheres
ocorre o oposto, o lado direito dessa região é maior que o esquerdo. “O LIP
permite que o cérebro processe informações a partir dos órgãos dos sentidos,
e ajude a atenção e a percepção seletivas” ( RELVAS, 2010 ).
39
Tais diferenças vêm revelar a irrefutável urgência das escolas e
consequentemente professores estarem preparados para colaborar com a
qualidade de ensino, pois ignorar tais diferenças, e abordar diferentes assuntos
dentro de um mesmo formato é no mínimo contribuir para desinteresses
precoces dentro da educação. Na realidade, a diversidade genética entre
homens e mulheres não invibializa esta ou aquela aprendizagem, mas nos
fornece esclarecimento sobre o modo diferenciado de aprender, guiando-nos a
escolher meios mais eficazes para promover uma aprendizagem que possa
desenvolver as capacidades de cada indivíduo.
Os processos como as aprendizagens ocorrem são discriminadas
por RELVAS, 2010, afirmando que são indiferentes entre homens e mulheres.
Os processos das aprendizagens são: aprendizagem intraneurossensorial,
interneurossensorial e integrativa. A aprendizagem intraneurossensorial é
específica do sistema nervoso, à sua estrutura, caso alguma região esteja
lesada,
pode
apresentar
algumas
disfunções.
A
aprendizagem
interneurossensorial funciona na interligação, realizando diversas atividades
integradas, possibilitando desenvolver potencialidades.
O processo de aprendizagem ocorre através da sensação,
percepção, formação de imagens, simbolização e conceituação.
A sensação é o nível mais primitivo do comportamento e pelo qual
indivíduo percebe o mundo. A percepção é a consciência da sensação. A
formação de imagens está relacionada ao processo de memória das
informações percebidas, sejam elas visuais ou não. A simbolização é a
capacidade de representação verbal ou não verbal. A conceituação é o
processo mental que envolve capacidades de abstração, classificação e
categorização.
3.3 Educação emocional
Todo o Sistema Nervoso Central está envolvido na questão da
emoção, tanto nas dimensões biológicas, psicológicas, afetivas e emocionais.
40
RELVAS, 2010, propõe que as emoções podem decorrer das
mudanças corporais ou viscerais decorrentes de algum estímulo, da
estimulação cognitiva, e ainda, subjetivas de atividade no sistema nervoso
central, sendo o tálamo importante para a expressão da emoção.
A emoção responde a um circuito cerebral que envolve estruturas do
sistema límbico e do córtex pré-frontal, que desempenha papel de regulador
das emoções. O córtex pré- frontal amadurece tardiamente em seres humanos
e este fator interfere enormemente no comportamento dos indivíduos expostos
à aprendizagem. A partir dessa observação torna-se impossível separar as
dimensões relativas ao cognitivo e às emoções, concluindo-se que uma
emoção positiva facilita a aprendizagem, enquanto que uma percepção
negativa
pode
resultar
em
sua
dificuldade
(http://hegelperuportugues.blogspot.com/2009/03/as-emocoes-e-oaprendizado.html).
A educação emocional assim relaciona-se à automotivação, ao
controle de impulsos, canalizando as emoções para situações apropriadas,
possibilitando que os aprendentes liberem mais os seus talentos.
Para desenvolver a educação emocional o educador deve conhecer
os mecanismos entre os hemisférios cerebrais, pois o esquerdo crítico e
analítico interfere na criatividade do direito, limitando a liberação do talento.
3.4 Avaliação e intervenção
A identificação precoce de dificuldades na aprendizagem na
educação infantil é crucial, pois constitui uma das estratégias profiláticas e
preventivas para a redução de seus efeitos, pois os indivíduos estão numa fase
do desenvolvimento em que a plasticidade neuronal é maior. A intervenção
compensatória trará resultados positivos no futuro. Neste sentido alguns sinais
podem ser identificados nesta fase e assim nos orientarmos diante de algumas
dificuldades na aprendizagem ( FONSECA, 2007 ).
O diagnóstico interdisciplinar deve ser um processo sistemático,
onde o início se dá dentro da escola, ouvindo as pessoas que estão
41
diretamente relacionadas ao processo de aprendizagem. A primeira questão a
ser abordada refere-se ao como o ao por que o professor faz a diagnose,
afirmando
que
a
criança
não aprende.
Observações
realizadas
por
especialistas apontam algumas hipóteses revelando ausência de estrutura ou
uma deficiência desta, implicando em equívoco de uma diagnose “simplista”. A
escola assim encaminha as crianças a uma verdadeira travessia em busca de
tratamentos, ora determinados como afetivos, psicológicos ou orgânicos na
busca por justificativas para a não aprendizagem. Percebe-se um grande
equívoco sobre o que sejam os distúrbios de aprendizagem e as dificuldades
escolares, em que o primeiro pertence à área médica e o segundo
especificamente pedagógico. Apesar das falhas avaliativas, a questão sobre as
dificuldades de aprendizagem é uma crescente em nossa sociedade atual e
são relegadas a um segundo plano quando comparadas à questão médica.
Pensar sobre a distinção entre distúrbios da aprendizagem e as dificuldades
escolares é uma ação emergente dentro das escolas, para que o diagnóstico
não seja utilizado contra o aluno ( CIASCA, 2003).
“O cérebro humano é um sistema complexo que estabelece
relações com o mundo que o rodeia por meio de fatores
significativos como: a especificidade das vias neuronais, que
da periferia levam ao córtex informações provenientes do
mundo exterior, e a especificidade dos neurônios que permitem
determinar áreas motoras, sensoriais, auditivas, ópticas,
ofaltivas, etc.,estabelecendo inter-relações funcionais exatas e
ricas que são de extrema importância para o aprendizado”
( CIASCA, 2003 pag. 21 ).
O autor continua suas reflexões sobre a aprendizagem como
processo de informações, revelando as interações culturais e sociais, onde
todo o conhecimento deverá ser adquirido, fragmento por fragmento,
envolvendo suas relações com o mundo, sendo a escola o espaço onde ocorre
esse vínculo interativo da sociedade.
Quando a escola tem o discurso do respeito às diferenças
individuais levando em consideração os aspectos sociais e histórico-culturais,
ignora a genética dos gêneros em sua estrutura diferenciada, formatando os
saberes.
42
Percebe-se assim que não apenas teorias orientam, mas também
uma prática consciente. Assim, uma aprendizagem que se preocupe com a
formação do indivíduo como um todo é aquela que leva em consideração os
diversos aspectos que o envolve. É imprescindível que os professores tenham
uma prática baseada em conhecimentos sobre o que envolve a formação de
seu aluno, tanto em aspectos culturais ou biológicos, pois é comum observar
uma prática ainda intuitiva, sendo necessário revisitar esta cultura na sala de
aula.
43
CAPÍTULO 4
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O INSUCESSO
ESCOLAR
“A reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da relação
Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática,
ativismo” ( FREIRE, 2000 ) .
Paulo Freire traz reflexões a respeito da formação docente,
abordando questões sobre a ética pedagógica, em que trata do valor do
professor crítico, pesquisador, generoso e disponível para o outro. Em suas
obras sobre o assunto identifica saberes imprescindíveis à prática educativa
onde o sujeito que ensina se mistura ao aprendente, dizendo que quem ensina
aprende e o que aprende acaba ensinando. O professor assim assume-se
também como produção do saber e convence-se de que ensinar não é
meramente “transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua
produção ou a sua construção”. Envolver-se com a prática pedagógica é
participar de uma experiência social, biológica, psicológica, histórica, cultural e
política, entendendo que somos “seres programados para aprender” (JACOB,
1991, apud FREIRE, 2000 pag. 27).
Quando se pensa sobre aprendizagem de forma generalizada e
especialmente aquela que ocorre dentro das escolas, tem-se em mãos
estatísticas assustadoras do insucesso escolar, tal fato, identificado com maior
rigor dentro de espaços públicos, mesmo que se entenda que o insucesso
escolar esteja relacionado a diversos fatores, e que estes se espalham
independente de classes econômicas, sociais e culturais.
44
As crianças ou os jovens privados ou muito desfavorecidos
socioculturalmente ( não esqueçamos o paradigma das
“crianças ou os jovens lobos”), por exemplo, apresentam
muitas DA por outras razões que não biológicas ou
neurológicas, mas essencialmente por razões do tipo
psicossocial que acabam por interferir, dialeticamente, com
aquelas ( FONSECA, 2007 pag. 160 )
Os discursos a respeito da relação espaço e aprendizagem, ou mais
objetivamente, saberes e poderes levam-nos a uma reflexão crítica, deixando
cair máscaras e revelando a necessidade de um diálogo consciente da prática
estabelecida dentro das escolas. Tal questão apontada obriga-nos a pensar
sobre o que chamamos de medicalização do insucesso escolar, cujo
pensamento pressupõe uma justificativa para o não aprender, excluindo as
responsabilidades do sistema educacional, da escola e de todos os envolvidos
diretamente na ensinagem. A reflexão sobre a prática educativa, assim como
revisitar o passado de formação docente, leva-nos a um mergulho numa
sociedade multifacetária e implica reconhecer uma história excludente, um
passado em que professor muitas vezes sofreu e ainda sofre as conseqüências
do “insucesso escolar”; implica sobretudo, reconhecer as dificuldades de
“ensinagem”
que
se
cruzam
com
as
dificuldades
de
aprendizagem
apresentadas pelos próprios alunos, evidenciando também alguns equívocos
que envolve supostos “erros” na avaliação sobre o que sejam dificuldades ou
distúrbios da aprendizagem, além de apontar a desestrutura das escolas para
atender à demanda.
Analisando a tarefa de ser professor como uma profissão tão
complexa como o próprio ser humano, pois lida com todas as suas
engrenagens de emoção, razão, cultura, processo histórico, questões
emocionais e psicológicas, além de sua genética e meio ambiente, todos
fatores diferenciais e determinantes na aprendizagem. Esta percepção é
assustadora, trazendo dimensões grandiosas e de grandes responsabilidades.
Cada conhecimento revela faces de um ser tão único e indivisível, e ao mesmo
tempo em que conforta, traz imenso conflito diante de enorme desafio.
Atravessando os tempos, os professores diante de profusas
mudanças de ideias pedagógicas e metodologias salvadoras, transformações
45
sociais, tecnológicas e relacionais, “assistem a derrocada de tudo ou quase
tudo que aprenderam em curso de formação”. Os novos pressupostos falam de
avaliação autoritária, da reprovação que destrói o aluno, e de algumas
generalizações sobre afetividade, motivação e participação da família como
garantias do sucesso na aprendizagem. É necessário construir posturas
científicas esclarecedoras sobre as medidas necessárias para sua efetivação
na prática. Faz-se necessário apoiar as respostas que se busca em estudos de
campo, pesquisas amplas e tecnicamente bem feitas, o suficiente ao menos
para permitir, com segurança mínima, a tomada de decisões (ZAGURY, 2009.
pag. 38).
4.1 Pesquisas de campo sobre as dificuldades encontradas
pelos professores
Buscando uma visão mais abrangente sobre as dificuldades
escolares, torna-se relevante uma abordagem sob o ponto de vista dos
professores sobre suas próprias dificuldades, pois estas refletem nas
dificuldades escolares dos alunos ou estão de algum modo, atreladas a elas.
Assim ZAGURY, 2009, realizou uma pesquisa de campo que teve início em
2002, com o objetivo de colher dados sobre o pensamento do professor
brasileiro. O estudo aborda aspectos polêmicos da prática docente e foi
construído tendo como base, dados estatísticos da Sinopse Estatística da
Educação Básica, Censo Escolar, publicada em 2001. A pesquisa envolveu
docentes do Ensino 787 docentes do Ensino Fundamental e 213 do Ensino
Médio. A construção do questionário seguiu critérios da pesquisa científica para
a área das Ciências Humanas.
Em suas pesquisas, ZAGURY, 2009, indica que as três maiores
dificuldades encontradas pelos professores são: a indisciplina, seguida
imediatamente da falta de motivação e a avaliação dos alunos. Tais problemas
correspondem a 43% dos entrevistados ( anexo 1).
As causas apontadas pelos profissionais pela indisciplina são:
alunos sem limite, rebeldia, agressividade e falta de respeito; falta de educação
46
e excesso de liberdade da família, e falta de compromisso, interesse e apoio
desta. Estas causas correspondem a 74% dos profissionais( anexo 2 );
segundo a autora, “tamanha consistência não pode ser colocada em dúvida”. A
autora segue afirmando que é quase impossível dissociar a falta de disciplina
com a questão da motivação, e saber o que é causa e o que é conseqüência.
Esta é uma questão recorrente e nos remete a conceitos sobre
motivação, que implicam além de práticas interessantes aos alunos, aspectos
intrínsecos ao sócio-histórico-cultural. O aluno motivado terá maiores
possibilidades em aprender, porém apenas isso não garante a aprendizagem,
já que “a aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo
aspectos
cognitivos,
emocionais,
orgânicos,
psicossociais
e
culturais”
(http://www.artigonal.com/educacao-artigos/a-importancia-da-motivacao-noprocesso-de-aprendizagem-341600.html ).
O quarto problema sinalizado pelos professores está relacionado à
sua atualização, pois entendem a importância de uma formação continuada e
escolha de metodologias adequadas que faça frente aos seus maiores
problemas. É indiscutível que a aprendizagem será afetada qualitativamente
frente aos problemas encontrados pelos professores ( ZAGURY, 2009 ).
Nossa reflexão objetiva um entendimento maior sobre as questões
da aprendizagem, pois ela envolve diversas variáveis que não podem ser
ignoradas. Pensar e discutir aprendizagem inclui um olhar dinâmico dos vários
aspectos, tendo sempre o foco no aluno, este sempre a maior vítima do
processo.
47
CONCLUSÃO
Pensar em aprendizagem é pensar grande, é conseguir enxergar o
todo e entender as partes constituintes ao mesmo tempo, e por isso mesmo
não seja tarefa fácil. Estar envolvido com a aprendizagem pode intimidar aos
mais desavisados, aos que não se perguntam e aos que pensam que tudo
sabem. Pois pensar e aventurar-se nas searas desse processo do saber, que
pode agigantar a humanidade ou destruí-la pela imprudência, é estar a todo o
instante em busca, como um viajante disposto a se desarmar, jogar fora
bagagens pesadas e antigas e a reformular seu trajeto em favor de seu
destino. É preciso ter coragem e comprometimento para ser professor nos dias
atuais, principalmente.
Apesar de tantas tecnologias e conhecimentos a serviço dos
saberes, é assustador o número ainda elevado de analfabetos no Brasil, de
alunos que apesar de submetidos a numerosos projetos dentro das escolas,
ainda assim, permanecem durante anos, desassistidos, ou estagnados numa
mesma série ou no seu potencial. Vários são os aspectos que podemos
delinear, desde a falta de uma formação adequada, políticas públicas
insatisfatórias ou desmotivação profissional, mas a questão maior é: quem
paga por tudo isso a não ser o aluno?
Um dos temas relevantes é a formação do professor e as suas
próprias dificuldades dentro do sistema educacional, pois é notória a grande
confusão que se dá dentro do âmbito escolar, especialmente em espaços
públicos, onde projetos chegam e vão constantemente, e o professor,
despreparado, de frente com o problema, não consegue dar conta ao menos
de questões como a indisciplina, fator apontado como o seu grande nó. Tais
questões jamais deveriam ficar de fora das discussões, pois parece que falta
dizer ao professor como fazer e não apenas o que fazer. Falta dizer
principalmente como aplicar projetos e metodologias que surgem como
medidas salvadoras e que na maioria das vezes não atendem à realidade dos
48
alunos, aqueles menos favorecidos. Mudar concepções nem sempre é fácil,
mas necessária, pois o nosso único compromisso deve ser com o aluno.
Apesar de todos os confrontos e argumentos contrários, há de se priorizar o
comprometimento com a aprendizagem e lembrar que a indisciplina, o
desinteresse e falta da participação da família não constituem a razão para o
problema das dificuldades escolares, e como diz a professora Carol Kee “estes
são apenas sintomas do problema. Devemos atuar no processo da
aprendizagem”.
Um dos grandes equívocos diante do aluno que não aprende, é
esquecer-se de sua individualidade, é formatar metodologias e estratégias, é
criar o mesmo trajeto, com os mesmos meios, dentro de um mesmo tempo
para todos os aprendentes, aos que aprendem e aos que não aprendem, e
ainda submetê-los a avaliações inadequadas, na busca por justificativas do
insucesso escolar. São comuns diagnoses precipitadas, transformando-se em
discursos reveladores sobre alunos com este ou aquele distúrbio.
Dentro desse quadro podemos apontar uma grande lacuna na
formação do professor, a necessidade de sua atualização, além de um
currículo que acompanhe as mudanças da sociedade e dos sujeitos que a
constitui, inserindo-se conhecimentos relacionados ao aspecto biológico do
indivíduo, mais precisamente, disciplinas como a Neurociência, que vem
revelar suas descobertas sobre as estruturas mentais, a plasticidade cerebral e
conceitos sobre “anatomia da aprendizagem”. Tais conhecimentos poderão ser
uma ferramenta a mais para que professores construam um planejamento mais
adequado a sua turma, e atividades que possam realmente desenvolver as
potencialidades dentro da sala de aula. Percebe-se que ainda existem ações
meramente intuitivas, baseadas em diagnoses equivocadas. Um fazer
pedagógico baseado nas intuições não garante o sucesso, além de não prever
problemas que nem sempre estão relacionados com o psico-histórico-social do
indivíduo e provoca inadequações nas diagnoses e nas devidas intervenções.
Ao longo da trajetória da formação do professor, a psicologia foi uma
das grandes disciplinas contribuidoras à aprendizagem, abordando conceitos
49
do indivíduo cultural e psicossocial; contudo é importante analisar a forma
como tais conhecimentos entram nas escolas e como são articuladas com
outros saberes. Conceitos como as múltiplas inteligências, apesar de
amplamente discutidos no espaço escolar, costumam ficar apenas no âmbito
das discussões, pois o modelo de avaliação conteudista, prioriza apenas
alguns saberes e traduzem os desencontros entre a teoria e a prática.
Aspectos relacionados à cultura, ao social e ao emocional do aluno,
são abordagens comuns dentro das escolas, porém falar sobre o ser biológico,
falar sobre as estruturas mentais e plasticidade cerebral, e conhecimentos
sobre a importância de estímulos significativos para maiores eventos neuronais
e a relação que têm com a aprendizagem, são assuntos ainda carentes entre
os professores.
A Neurociência assim como a psicopedagogia podem contribuir
como suportes à aprendizagem trazendo descobertas ainda recentes sobre
como o indivíduo aprende e em como se dá esse processo, porém sozinhas
não garantem que a aprendizagem aconteça, pois entende-se que são
múltiplas as faces do processo que desenha a aprendizagem.
Este trabalho assim, contribui através de pesquisas e reflexões
sobre a aprendizagem e alguns pressupostos que a norteiam, trazendo
algumas informações sobre as recentes descobertas que a Neurociência nos
revela sobre o ainda tão desconhecido cérebro, órgão da aprendizagem, suas
estruturas e capacidades e a relação com o processo da aprendizagem,
discorrendo ainda, sobre assuntos pertinentes à sala de aula, as práticas dos
professores e suas dificuldades.
Devemos estar conscientes de que o não saber deve nos conduzir à
pesquisa e ao desejo de buscar novos caminhos que nos levem ao sucesso,
tendo como foco a intervenção escolar e o processo de aprendizagem dos
alunos, para que a inclusão seja realmente uma realidade dentro das escolas.
50
BIBLIOGRAFIA
AZENHA, Maria da Graça Construtivismo De Piaget a Emília Ferreiro. São
Paulo – Editora Ática. 1998.
CIASCA, Sylvia Maria Distúrbios de Aprendizagem: Proposta de Avaliação
Interdisciplinar. São Paulo – Editora Casa do Psicólogo. 2003.
FONSECA, Vitor da Cognição Neuropsicologia e Aprendizagem –
Abordagem neuropsicológica e psicopedagógica. Rio de janeiro – Editora
Vozes. 2007.
FERREIRO, Emília Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo -
Editora
Cortez. 2001.
FREIRE, Paulo Pedagogia da Autonomia. São Paulo – Editora Paz e Terra
SA. 1996.
GARCIA, Regina Leite A Formação da Professora Alfabetizadora:
Reflexões sobre a prática. São Paulo. Editora Cortez. 2001.
LENT, Roberto Cem Bilhões de Neurônios Conceitos Fundamentais de
Neurociência. São Paulo – Editora Atheneus. 2005.
51
LIMA, Elvira Souza Desenvolvimento e Aprendizagem na Escola. São Paulo
– Editora Sobradinho. 2002.
LIMA, Elvira Souza Neurociência e Aprendizagem. São Paulo – Editora Inter
Alia. 2007.
LIMA, Elvira Souza Memória e Imaginação. São Paulo – Editora Inter Alia.
2007.
RELVAS, Marta Pires Neurociência e Educação potencialidades dos
gêneros na sala de aula. Rio de janeiro – Editora Wak. 2010.
RELVAS, Marta Pires Neurociência e Transtornos de Aprendizagem. Rio de
Janeiro – Editora Wak. 2010.
ZAGURY, Tania O Professor Refém. Rio de Janeiro – Editora Record. 2009.
52
WEBGRAFIA
HERBOZO, Hegel Salazar Aprendizagem Cerebral. 2006. P. 473-482
Disponível em: http://hegelperuportugues.blogspot.com/2009/03/as-emocoes-eo-aprendizado.html Acesso em: 10/01/2011
Hora: 19:00
JUNIOR, Jair Lopes Concepções de desenvolvimento e de Aprendizagem no
Trabalho
do
Professor.
p.
123.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/v11n3a02.pdf
Acesso
em:
05/02/2011
Hora: 15:30
LIMA, Sandra Vaz de A importância da motivação no processo de
aprendizagem. 2008. Disponível em:http://www.artigonal.com/educacaoartigos/a-importancia-da-motivacao-no-processo-de-aprendizagem341600.html Acesso em: 14/03/2011
Hora: 18:00
VENTURA, Dora Fix Um Retrato da Área de Neurociência e
Comportamento
no
Brasil.
2010.
p.123-129.
Disponível
em:
www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a11v26ns.pdf Acesso em:
10/01/2011
Hora: 18:00
53
ANEXO 1
Pesquisa de campo sobre as maiores dificuldades do professor
Maior dificuldade do professor
Dados %
Manter a disciplina em sala de aula
22
Motivar os alunos
21
Fazer a avaliação dos alunos
19
Manter-se constantemente atualizado
16
A escolha da metodologia adequada a cada unidade ou
aula
10
Usar recursos audiovisuais
3
Falta de participação e interesse dos pais
1
Trabalhar com classes cheias
1
Desrespeito e falta de limites dos alunos
1
Dominar o conteúdo de sua disciplina
1
Outras
4
Não respondeu
2
Base 1.172
ZAGURY, Tania Professor Refém. Quadro 2.p. 83.
54
ANEXO 2
Pesquisa sobre os motivos da indisciplina em sala de aula
Manter a disciplina em sala
Dados %
Os alunos não têm limite/são rebeldes/agressivos/
44
Faltam com respeito
Falta de educação familiar/liberdade familiar/
19
Falta de educação
Falta de compromisso/interesse/apoio/da família
11
Excesso de alunos em salas de aula/salas superlotadas
9
Falta de interesse/motivação/dos alunos/alunos
dispersos
6
Os alunos fazem o que querem em casa
4
O papel da família foi totalmente substituído pela escola
4
Desestruturação familiar
4
A motivação fora de sala de aula é
( comunicação, jogos, internet, esportes, mídia)
maior
3
Turmas heterogêneas diferenciadas
3
A educação mudou/hoje em dia o professor não pode
nada/falta de autoridade do professor/”traumatiza” o
aluno
3
Falta a presença da família na escola
3
Hoje em dia há uma inversão de valores
3
Falta de atitudes mais energéticas por parte da
escola/escola muito aberta
2
Insegurança do professor
2
A desvalorização do professor/da figura do professor
2
55
Imaturidade dos alunos
2
Outros
16
Não respondeu
15
Base 257
ZAGURY, Tania Professor Refém. Quadro 3 p. 87
56
ÍNDICE
AGRADECIMENTOS
3
DEDICATÓRIA
4
RESUMO
5
METODOLOGIA
6
SUMÁRIO
7
INTRODUÇÃO
9
CAPÍTULO I
NEUROCIÊNCIA
11
1.1 O que é Neurociência
1.1.1 Por que e Para quê
11
11
1.2 O cérebro humano e sua genialidade
1.2.1 Anatomia do cérebro
13
13
1.2.2. Funções cerebrais
16
1.2.3 Plasticidade cerebral
20
CAPÍTULO II
COGNIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
25
2.1 Pressupostos filogenéticos da cognição
25
2.1.1 Cognição x inteligência
2.2 Relações de aprendizagem e desenvolvimento humano
27
28
2.2.1 Desenvolvimento cognitivo e afetividade
28
2.2.2 Desenvolvimento e processos
29
2.2.3 Critérios da mediatização na aprendizagem
29
CAPÍTULO III
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
34
3.1 Anatomia da aprendizagem humana
34
3.2 Gêneros, cérebro e aprendizagem
36
3.3 Educação emocional
39
57
3.4 Avaliação e intervenção
40
CAPÍTULO IV
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O INSUCESSO ESCOLAR
43
4.1 Pesquisa de campo sobre as dificuldades encontradas
pelos professores
45
CONCLUSÃO
47
BIBLIOGRAFIA
50
WEBGRAFIA
52
ANEXO 1
53
ANEXO 2
54
ÍNDICE
56