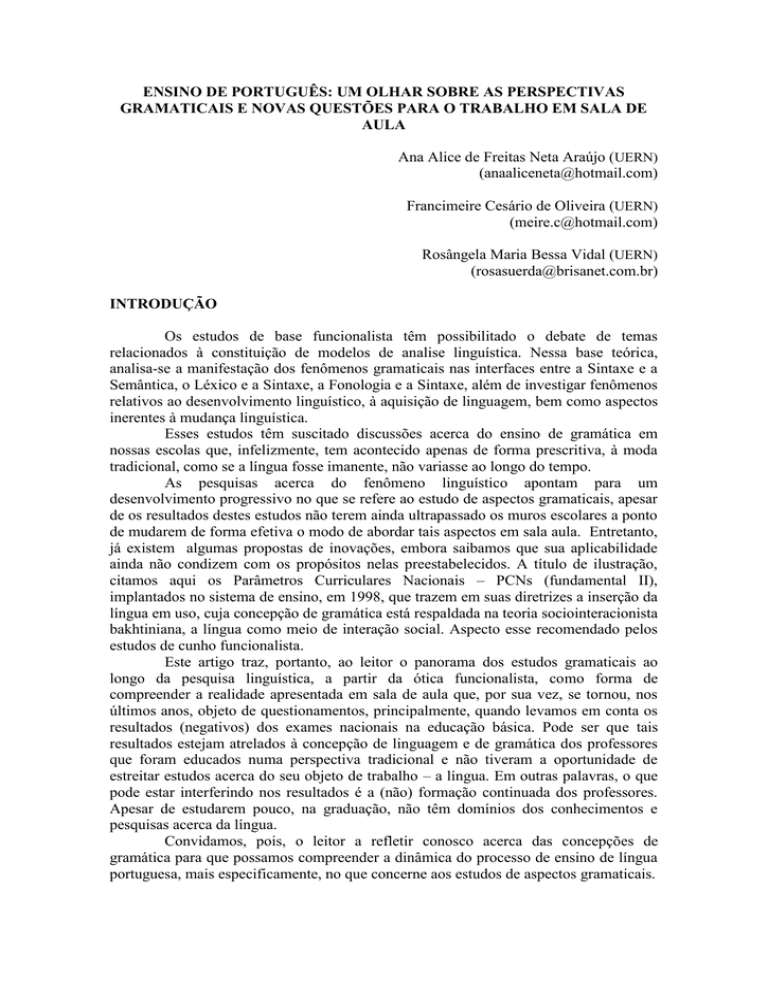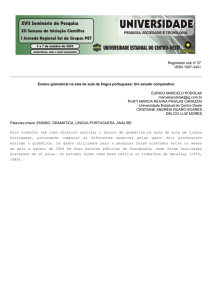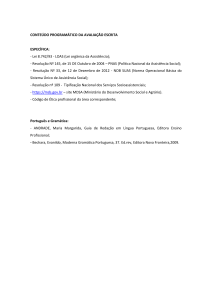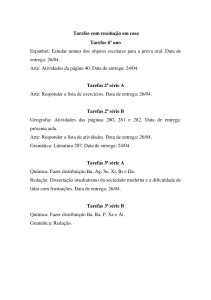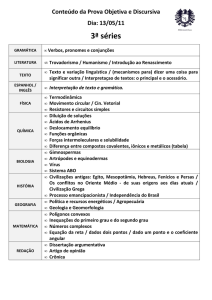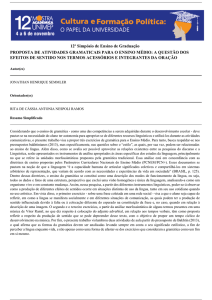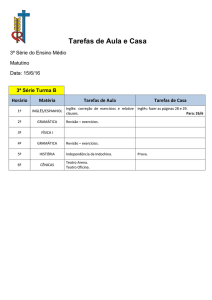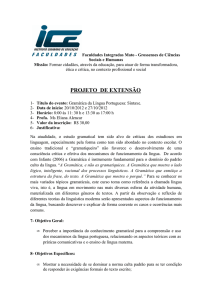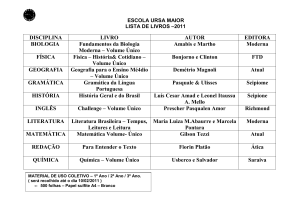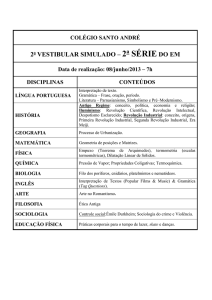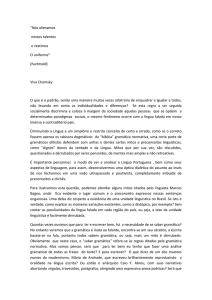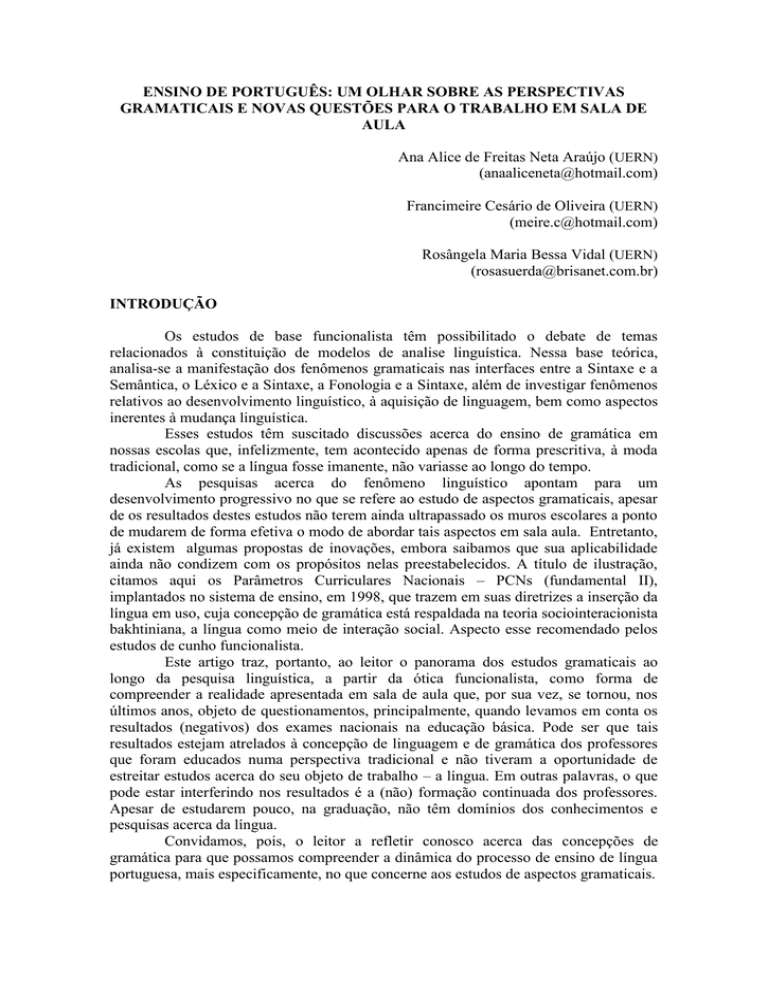
ENSINO DE PORTUGUÊS: UM OLHAR SOBRE AS PERSPECTIVAS
GRAMATICAIS E NOVAS QUESTÕES PARA O TRABALHO EM SALA DE
AULA
Ana Alice de Freitas Neta Araújo (UERN)
([email protected])
Francimeire Cesário de Oliveira (UERN)
([email protected])
Rosângela Maria Bessa Vidal (UERN)
([email protected])
INTRODUÇÃO
Os estudos de base funcionalista têm possibilitado o debate de temas
relacionados à constituição de modelos de analise linguística. Nessa base teórica,
analisa-se a manifestação dos fenômenos gramaticais nas interfaces entre a Sintaxe e a
Semântica, o Léxico e a Sintaxe, a Fonologia e a Sintaxe, além de investigar fenômenos
relativos ao desenvolvimento linguístico, à aquisição de linguagem, bem como aspectos
inerentes à mudança linguística.
Esses estudos têm suscitado discussões acerca do ensino de gramática em
nossas escolas que, infelizmente, tem acontecido apenas de forma prescritiva, à moda
tradicional, como se a língua fosse imanente, não variasse ao longo do tempo.
As pesquisas acerca do fenômeno linguístico apontam para um
desenvolvimento progressivo no que se refere ao estudo de aspectos gramaticais, apesar
de os resultados destes estudos não terem ainda ultrapassado os muros escolares a ponto
de mudarem de forma efetiva o modo de abordar tais aspectos em sala aula. Entretanto,
já existem algumas propostas de inovações, embora saibamos que sua aplicabilidade
ainda não condizem com os propósitos nelas preestabelecidos. A título de ilustração,
citamos aqui os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (fundamental II),
implantados no sistema de ensino, em 1998, que trazem em suas diretrizes a inserção da
língua em uso, cuja concepção de gramática está respaldada na teoria sociointeracionista
bakhtiniana, a língua como meio de interação social. Aspecto esse recomendado pelos
estudos de cunho funcionalista.
Este artigo traz, portanto, ao leitor o panorama dos estudos gramaticais ao
longo da pesquisa linguística, a partir da ótica funcionalista, como forma de
compreender a realidade apresentada em sala de aula que, por sua vez, se tornou, nos
últimos anos, objeto de questionamentos, principalmente, quando levamos em conta os
resultados (negativos) dos exames nacionais na educação básica. Pode ser que tais
resultados estejam atrelados à concepção de linguagem e de gramática dos professores
que foram educados numa perspectiva tradicional e não tiveram a oportunidade de
estreitar estudos acerca do seu objeto de trabalho – a língua. Em outras palavras, o que
pode estar interferindo nos resultados é a (não) formação continuada dos professores.
Apesar de estudarem pouco, na graduação, não têm domínios dos conhecimentos e
pesquisas acerca da língua.
Convidamos, pois, o leitor a refletir conosco acerca das concepções de
gramática para que possamos compreender a dinâmica do processo de ensino de língua
portuguesa, mais especificamente, no que concerne aos estudos de aspectos gramaticais.
Concepções de gramática ao longo dos estudos linguísticos
Quando falamos em gramática, automaticamente, surgem em nossa mente
alguns conceitos, entre eles o de Gramática Normativa – a gramática utilizada nas
escolas para o ensino da Norma Padrão do Português. No entanto, não existe apenas
essa gramática. Temos outras, menos conhecidas e, certamente, pouco comentadas. Na
verdade, esse conceito ganhou um status ímpar desde a Grécia Antiga e convive com os
demais até os dias atuais (há até quem o defenda fervorosamente). De acordo com
Martelotta (2008), em se tratando da evolução dos estudos linguísticos, para cada
modelo teórico existe um conceito de gramática correspondente.
O primeiro modelo é o de Gramática Tradicional, que possui origem em uma
tradição de estudos, cuja base filosófica é a Grécia Antiga. Dele manteve-se, entre
outras coisas, a herança normativa de ditar “padrões” de uso da língua. É essa gramática
que estudamos, em nossas escolas anos a fio, cujos professores nos fazem com que
reconheçamos elementos fonológicos, morfológicos e sintáticos, obedecendo à norma
culta. No entanto deixam de lado, o que significa tal estudo, como se originou e se
desenvolveu, seus propósitos. Constatamos, assim, a existência de lacunas, omissão de
informações importantes, cujo estudo não proporciona meios de descrever a língua em
seu funcionamento, em situações reais de uso. Uso este que não é regido pelos padrões
de correção estabelecidos pela gramática tradicional, cujas restrições de combinações
não devem ser rigorosamente repassadas em sala de aula como habitualmente vem
acontecendo.
Observando as situações de uso, o que encontramos é um processo natural de
mudança da língua, cujo responsável mais expressivo parece ser o tempo. Daí dizer que
existem arcaísmos (termos em desuso) na língua hoje e formas emergentes (termos
novos) que vão surgindo simultaneamente às situações de uso. Assim, a tradição
gramatical não adota uma visão de totalidade da língua, fica restrita a uma explicação
parcial. Ela atendeu, portanto, as necessidades da época – Grécia Antiga – momento em
que os filósofos tinham interesse em compreender a relação entre a linguagem, o
pensamento e a realidade; a relação entre as palavras e as coisas.
O segundo modelo é denominado como Gramática Histórico-Comparativa. Sua
proposta de análise era (é) comparar elementos gramaticais de línguas de origem
comum a fim de detectar a estrutura da língua original. O surgimento dessa visão de
língua se deu quando os estudiosos constaram que existiam semelhanças do sânscrito –
língua da Índia – com o latim, com o grego e com outras línguas de origem europeias.
Chamamos a atenção para os termos correspondente ao sentido da palavra
portuguesa “mãe” (mulher que gera filhos): maatar, em sânscrito; mâter, em latim;
mçtçr, em grego; mother, em inglês; mutter, em alemão. Foi a partir dos estudos de
Gottfried Wihelm Von Leibniz, filósofo e matemático alemão que surgiu o interesse em
analisar a estrutura das diferentes línguas. Com esses estudos comparativos abandonarse-iam as ideias preconcebidas sobre a essência da linguagem, o que daria um caráter
empírico, marco das pesquisas linguística do século XIX. (cf. MARTELOTTA, 2008).
O terceiro, tratado como Gramática Estrutural, é um modelo teórico que tende
a descrever a estrutura gramatical das línguas, vendo-as como uma rede de relações de
acordo com leis internas, ou seja, inerentes ao próprio sistema. Modelo esse que se
associa ao “Estruturalismo” saussuriano. O mestre genebrino Ferdinand de Saussure,
com suas ideias, deu um novo direcionamento aos estudos linguísticos, revolucionando
as pesquisas da época. Seu método divergia do histórico-comparatista. Enquanto este
analisava língua em elementos isolados, não observando o funcionamento desses
elementos dentro do sistema linguístico, aquele, por sua vez, propunha que os elementos
de uma língua não estão isolados, mas formam um conjunto solidário. Dessa forma,
Saussure acreditava ser impossível analisar os elementos da língua isolados de sistema
composto por eles, lembrado a prioridade do todo sobre as partes. “Essa proposta
constitui a base de toda a linguística estrutural: aceitando a ideia de que a língua é um
sistema, cumpre analisar sua estrutura, ou seja, o modo como esse sistema se organiza”
(MARTELOTTA, 2008, p.54). Surgiram, pois, a partir dos estudos de Saussure, os
termos “gramática estrutural” e “estruturalismo”.
O quarto modelo, descrito como a Gramática Gerativa, assegura que a natureza
da linguagem está relacionada à estrutura biológica humana. Dessa forma, estuda a
estrutura gramatical das línguas enquanto reflexo de um modelo formal de linguagem
preexistente às línguas naturais. Associa-se, pois ao “Gerativismo” chomskyano. Nesse
modelo, a linguagem “[...] passa a ser vista como reflexo de um conjunto de princípios
inatos – e, portanto, universais – referentes à estrutura gramatical das línguas”.
(MARTELOTTA, 2008, p.58).
Assim sendo, as línguas naturais – o português, o japonês, o swahili e o carajá
–, mesmo sendo aparentemente diferentes, apresentam, em sua essência, inúmeras
semelhanças, refletindo, pois, os mesmos princípios inatos, pelos quais o funcionamento
gramatical das línguas é regido. Nesse sentido, mantém-se a ideia de que a linguagem é
um sistema autônomo, cujos interesses do sujeito que o utiliza, assim com as
características do ambiente social em que atua são indiferentes a esse sistema.
Associada à lógica universal, essa noção de linguagem confirma nossa capacidade de
criar um número infinito de frases, sem levar em consideração o ponto de vista do
produtor do discurso, bem como sua criatividade quando adéqua sua fala a contextos
comunicativos distintos. A variação e a mudança linguística aqui são descartadas.
Segundo Martelotta (2008), a concepção gerativa de gramática é caracterizada
por dois princípios básicos: o princípio do inatismo e o princípio da modularidade da
mente. O princípio do inatismo sugere a ideia de existência de uma estrutura gramatical
inata, que se constitui a partir de um conjunto de princípios gerais impondo limites na
variação entre as línguas, manifestando-se como dados universais. O princípio da
modularidade da mente, por sua vez, pressupõe a ideia de que a mente é modular, isto é,
se constitui de módulos ou pares, que se caracterizam sob a forma de sistemas
cognitivos diferentes entre si, os quais trabalham de forma separada.
A inovação dos estudos de Chomsky está no fato de ele ter introduzido a noção
de cognição nos estudos linguísticos. O autor assegura que a compreensão da linguagem
está atrelada à natureza da mente humana e aos princípios inatos que a caracterizam. A
noção de cognição, na proposta de gerativa, pressupõe a ideia de que fatores associados
ao desenvolvimento de uma capacidade inerente à estrutura genética é que regulam a
linguagem. Capacidade essa dissociada de outras capacidades mentais que se referem ao
processamento de informações, bem como à inteligência de forma geral.
Além da noção de cognição, Chomsky propôs outro aspecto importante que
caracteriza a gramática gerativa, a saber: a distinção entre competência e desempenho.
À primeira, está associada à ideia de capacidade, tanto inata quanto adquirida, de que o
falante dispõe para formulação e compreensão de frases em determinada língua. À
segunda, entretanto, associa-se à ideia de utilizar de forma concreta essa capacidade.
O que notamos, a partir do conceito de gramática gerativa, é que Chomsky,
assim como Saussure, não inseriu o sujeito como usuário real da língua em seus
estudos, já que sustenta a hipótese de estudar a competência em detrimento do
desempenho. Há, no pensamento chomskyano, uma noção de competência ideal, cujos
falantes/ouvintes são também ideais, os quais utilizam conhecimentos linguísticos de
forma regular, sem levar em conta os contextos reais de comunicação.
Por último, Martelotta descreve um modelo teórico, cujo propósito é analisar
não somente a estrutura gramatical, mas também a situação de comunicação inteira: a
Gramática Cognitivo-funcional. Este modelo de gramática associa-se às bases teóricas
como o Funcionalismo linguístico, mais precisamente, o de origem norte-americana,
cuja concepção, defendida por Givón e seus seguidores, é a de língua enquanto
atividade social, não-autônoma, sujeita às pressões de uso.
É válido ressaltar que o próprio Martelotta (2008) justifica a escolha do termo
“cognitivo funcional” retirado de Tomasello (1998, 2003), que tem como propósito
nomear um conjunto de sugestões de ordem teórico-metodológicas que caracterizam
determinadas escolas de caráter relativamente distinto, os quais, ao adotar princípios
diferentes dos que caracterizam o formalismo gerativista, apresentam pontos comuns, a
saber:
Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a
compreensão da natureza da linguagem;
Observam não apenas o nível da frase, analisando, sobretudo, o
texto e o diálogo;
Têm uma visão da dinâmica das línguas, ou seja, focalizam a
criatividade do falante para adaptar as estruturas linguísticas aos
diferentes contextos de comunicação;
Consideram que a linguagem reflete um conjunto completo de
atividades comunicativas, sociais e cognitivas, integradas com o resto
da psicologia humana, isto é, sua estrutura é conseqüente de
processos gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao
criarem significados em situações de interação com outros indivíduos
(MARTELOTTA, 2008, p.62).
Essas características são adaptadas a escolas como o Funcionalismo – norte
americano e europeu –, a Linguística Sociocognitiva, a Linguística Textual, a
Sociolinguística, a Linguística Sociointerativa, etc. Cada uma delas analisa o fenômeno
linguístico a sua maneira, com peculiaridades próprias, seja adotando alguma dessas
características, seja adotando todas elas.
Segundo essa concepção, portanto, a situação comunicativa motiva a estrutura
gramatical, o que pressupõe pensar que uma abordagem estrutural ou formal não é
apenas limitada a dados artificiais, mas inadequada como análise estrutural. “[...] nos
termos funcionalistas, a gramática não pode ser vista como independente do uso
concreto da língua, ou seja, do discurso [...]” (Op. cit. p.63). Em outras palavras, ao
falarmos, produzimos frases, que, ao se juntarem, compõem um texto coeso e coerente
com a situação na qual esse discurso é empregado. O discurso é, pois o processamento
desse texto.
Dois tipos de habilidades, essencialmente, humanas regulam a atividade verbal,
os quais estão relacionados à gramática das línguas. “O primeiro deles tem natureza
sociointerativa e se relaciona com a nossa habilidade de compartilhar informações com
nossos semelhantes e de nos engajarmos em atividades compartilhadas, cuja
compreensão é fundamental para o processo comunicativo” (MARTELOTTA, 2008,
p.63-64)
Pensemos a seguinte situação: um cliente retorna a uma loja de
eletrodomésticos, onde comprara uma televisão e dialoga com o vendedor:
Cliente: – Esta televisão não está funcionando.
Vendedor: – Não há problema, senhor. Vamos providenciar a troca do
aparelho.
Analisando a situação comunicativa por inteiro, pressupomos que o vendedor
não irá compreender a frase proferida pelo cliente como uma simples informação, mas
como um pedido de troca do aparelho por outro, já que se trata de um contexto
específico de interação, não podendo, pois ser entendida de outra forma. Isso nos
autoriza atestar que a estrutura gramatical deve ser estudada atrelada à semântica e à
pragmática, uma vez que o “conhecimento do sistema da língua é insuficiente para
entender certos fatos linguísticos utilizados numa situação concreta de fala [...]”
(FIORIN, 2002, p. 166).
O segundo tipo de habilidade a que o autor se refere está relacionado a aspectos
do funcionamento mental, os quais “[...] interferem no modo como processamos as
informações – e, consequentemente, o discurso. Nossa capacidade de ver e interpretar o
mundo [...]” (MARTELOTTA, 2008, p. 64).
Ex. O tempo fechou. Isso vai me fazer usar o guarda-chuva
A utilização do pronome isso, que, em sua forma original, funciona como um
dêitico, que localiza os objetos no espaço físico, cuja referência é a localização dos
participantes da situação comunicativa, passar a fazer referência, no excerto
mencionado, a uma informação citada no interior do texto: “o tempo fechou”. O que
ocorre aqui, portanto, é uma expansão da dêixis “espacial” para a dêixis “textual”,
processo extremamente produtivo nas línguas naturais, ou seja, a organização de
espaço/tempo do mundo físico é empregada de forma análoga, caracterizando, assim, o
universo mais abstrato do texto (cf. MARTELOTTA, 2008).
Partindo desse valor anafórico, a expressão pode desenvolver papel de
conjunção. Fato que pode ocorrer quando o isso se associa à preposição por, para
funcionar como conjunção conclusiva, como no excerto a seguir:
Ex.:O tempo fechou, por isso usei o guarda-chuva.
Procedimentos como esses são bastante produtivos nas línguas, e os linguistas,
cuja perspectiva de trabalho é a linguística cognitivo-funcional “[...] associam-no a um
fenômeno mais geral segundo o qual a experiência humana mais básica, que estabelece
a partir do corpo, fornece as bases de nossos sistemas conceptuais” (MARTELOTTA,
2008, p.64). Isso nos mostra que não nos expressamos numa língua apenas
denominando o modo de estruturar suas frases, mas sabendo combinar essas unidades
sintáticas em situações comunicativas eficientes. Para tanto, necessitamos conhecer, não
somente, as regras semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas, mas também as
pragmáticas. Regras essas, certificadas por Neves (2006), as quais estão integradas aos
pontos considerados centrais numa teoria funcionalista, a saber: o uso da língua em
relação a todo o sistema, o significado em relação às formas linguísticas e o social em
relação às escolhas individuais do falante.
Assim sendo, a maneira de produzir o discurso do falante se constitui como
uma intrincada interação linguística, na qual se envolvem diferentes fatores como: o
contexto, as informações pragmáticas – tanto do falante, como as que ele julga que o
ouvinte possui –, o planejamento, entre outros, sendo, portanto, as variações e desvios
da gramática normativa imprescindíveis no ato comunicativo.
Neves (2006) ver, portanto, a gramática da língua como funcional, ou seja,
uma gramática do uso que busca, essencialmente, verificar como a comunicação é
processada em uma determinada língua, e, para isso, não elege como tarefa descrever a
língua enquanto sistema autônomo. Não desvincula, portanto, as peças desse sistema
das funções que elas preenchem. Furtado da cunha (2007), por sua vez, seguindo o
pensamento de Hopper (1987) considera a gramática como emergente. Segundo a
autora:
A gramática na ótica emergente não abriga apenas as palavras ou
construções tradicionalmente consideradas como pertinentes ao
âmbito gramatical, mas também quaisquer porções linguísticas
recorrentes, como expressões idiomáticas, provérbios, clichês,
fórmulas,
sintagmas
especializados,
transições,
aberturas,
fechamentos. Tais elementos tendem rotinização e à fixação, e são
sujeitas às pressões contextuais, como todas as formas gramaticais [...]
(FURTADO DA CUNHA, 2007, p.18).
Ora, se consideramos que a língua se constitui muito mais do que de uma
gramática e que esta não é a chave (ou a fonte) da intercompreensão, certamente,
podemos considerar essa a gramática como um produto da atividade verbal. Em outras
palavras, uma gramática constituída nos usos discursivos, correspondendo, assim, a uma
organização cognitiva aperfeiçoada a partir de experiências passadas de ativação
discursiva individuais de cada sujeito falante.
Nesse sentido, aquilo que os participantes do ato comunicativo acionam
cognitivamente quando falam é fruto de experiências passadas, de uso de certas
construções, a que acrescenta a avaliação do contexto interativo, cujo enfoque está na
imagem do interlocutor, não num conjunto fixo de postulados. Sua capacidade
cognitiva, enquanto falantes, permite-lhes, portanto, a partir dos eventos discursivos,
categorizar e classificar semelhanças e diferenças. Isso pressupõe a ideia de acreditar
que a gramática, tal como o discurso, é vista como um fenômeno social e se partirmos
da ideia que a “[...] gramática é constituída nos contextos específicos de uso da língua,
para compreendê-la é preciso levar em conta a perspectiva discursivo-textual.
Buscamos, portanto, explicar a forma da língua a partir das funções que ela desempenha
na comunicação” (FURTADO DA CUNHA, 2007, p. 19).
O que podemos depreender, a partir da visão (ou visões) apresentada(s) de
gramática a partir da ótica funcionalista, é que a língua/gramática não é vista como um
sistema estático e imutável, com regras a serem seguidas, e os desvios considerados
como “erros”. O que deve ser enfatizado, portanto, é uma língua/gramática dinâmica,
maleável, que depende do uso que se faz dela passando a ser determinada pelas
situações comunicativas, motivadas pelas circunstâncias e pelos contextos específicos
de uso. Isso nos autoriza a atestar que a corrente funcionalista pode ser uma perspectiva
para reflexões acerca do ensino de língua, representando, assim, uma tentativa de mudar
velhos paradigmas seguidos há séculos (cf. OLIVEIRA e COELHO, 2003).
No entanto, isso, de fato, só poderá acontecer, quando os resultados das
pesquisas ultrapassarem os muros escolares, fazendo com que adotemos uma nova
concepção de língua(gem), de gramática e de ensino.
Mediante os pressupostos aqui discutidos, podemos postular que, com os
avanços teóricos nos estudos linguísticos, a forma de conceber os fenômenos associados
à gramática das línguas mudou significativamente. As concepções aperfeiçoaram-se,
algumas abandonadas ou mesmo retomadas devido às descobertas das ciências.
Martelotta (2008) admite, pois, a existência de duas grandes tendências linguísticas
atualmente: a gerativista e a cognitivo-funcional. A primeira concebe a linguagem como
função biológica, cujos aspectos formais da língua são objetos privilegiados de
abordagem. A segunda, por sua vez, procura compreender a estrutura das línguas
partindo do uso, estabelecendo, portanto, uma relação entre biologia e cultura. Que
concepção teremos, no futuro, somente os estudos e pesquisas (que não poucos) acerca
do fenômeno linguístico poderão dizer.
Ensino de português vs. análise linguística: a teoria que ainda não virou prática
Acreditamos que o ensino de português, mais precisamente o trabalho de análise
linguística, em nossas escolas esteja passando por um momento de transição (pelo
menos acreditamos que esteja), pois já notamos, apesar de forma embrionária, uma
proposta de ensino associada a atividades de interpretação de textos ou de reflexão
acerca do funcionamento da linguagem. Um ensino diferente daquele que, geralmente,
trata das questões gramaticais de modo artificial, distanciando-as das situações de uso;
deixando de considerar aspectos fundamentais, como as relações entre formas e
funções, que dependem de uma gama de fatores que interferem a cada interação
comunicativa.
Segundo Furtado da Cunha (2007), infelizmente, a forma tradicional de abordar
a gramática ainda se constitui uma realidade em nossas escolas. Itens gramaticais:
verbos, nomes, pronomes, conjunções; orações coordenadas e subordinadas são
apresentadas apenas para classificação e identificação, desvinculados do uso.
Trabalhado dessa maneira, o ensino tem se tornado enfadonho, destituído de sentido e
sujeito a críticas por parte dos estudantes os quais convivem com uma língua dinâmica,
maleável que atende perfeitamente aos seus propósitos comunicativos e sobre a qual não
é instigado a refletir na escola.
Apesar de muitas propostas de mudanças educacionais, o ensino de gramática
tende a continuar igual: prescritivo, cujo objetivo é privilegiar as realizações escritas,
literárias e formais. A língua, por sua vez, é tratada como um bloco uniforme. As
questões decorrentes da situação de interação são desconsideradas das condições cuja
interlocução acontece.
Trabalhada dessa forma (prescritiva) a gramática não passa de um manual de
boas maneiras, colocadas à disposição dos usuários, de modo especial os alunos. A
noção de erro é notória, quando abordada nessa maneira de ensinar, uma vez que a
norma culta parece ser a “língua ideal”, “correta”. Se existisse língua ideal, a teoria de
Chomsky ainda daria conta dos estudos acerca do fenômeno linguístico.
Nessa perspectiva, constatamos que a função da escola ainda é ensinar a
modalidade padrão, especialmente a escrita. No entanto, quando privilegiamos a norma
culta, falta-nos tempo para ensinar coisas de maior importância, como: ler, escrever,
discutir sobre o que escreveu, uma vez que a reflexão sobre a produção proporciona
mais aprendizagem que exercícios mecânicos dos aspectos gramaticais desarticulados
das situações comunicativas reais.
Na verdade, muitos professores ainda não sabem como trabalhar os textos dos
alunos; preferem o caminho mais cômodo: seguir o livro didático, tal qual se apresenta,
pois não precisa dispor de muito tempo para planejamento. Muitas vezes, não se
dispõem nem a conhecer o livro (selecionado às pressas) para questioná-lo, caso haja
divergências entre a realidade apresentada e o contexto de sua sala de aula.
A realidade, felizmente, tende a mudar. Já presenciamos atividades, mesmo que
isoladas, que utilizam o texto como objeto de ensino. Está na hora de ver que trabalhar a
língua viva não se reduz à formação de frases; a um falar correto, vai muito além. É um
trabalho árduo, complicado que exige cerca de 10% de inspiração e 90% de dedicação
por parte dos professores de Língua Materna. Este artigo já é prova disso, pois sua
escrita perpassa por estudos, pesquisas e, certamente, após terminarmos a leitura do
mesmo, teremos uma nova concepção sobre o ensino de língua portuguesa e,
consequentemente, sobre a gramática.
Acreditamos que a concepção defendida pela corrente funcionalista, cuja língua
é vista enquanto “[...] atividade social enraizada no uso comunicativo diário e por ele
configurada” Furtado da Cunha, (2007, p.14) é a que melhor se identifica com uma
proposta de ensino produtivo.
Trabalhar, portanto, a gramática de forma produtiva pressupõe abordar a língua
em sua dinamicidade, uma vez que aquela está nesta através do texto oral ou escrito de
todos os usuários; a língua só se realiza com o uso desse conjunto de regras que
organiza as palavras. Por outro lado, a gramática da língua vai sendo ampliada à medida
que o falante vai introduzindo novas situações de comunicação, vivenciando diferentes
contextos de usos.
Conforme ressalta a autora, nos exercícios metalingüísticos, costumamos dá
ênfase às formas de prestígio, trabalhando-as de maneira exaustiva, apesar de tais
formas não fazerem parte das regularidades de uso pelos falantes em suas interações
sociais diárias. Dessa forma, há discrepâncias entre o que é transmitido nas aulas de
português e a língua usada pelos mesmos falantes (alunos) fora da escola (a língua em
uso). Tratada dessa maneira, a língua perde o caráter de dinamicidade, de fluidez,
excluindo, assim, a noção da diversidade linguística. Ideia defendida pelos estudos
linguísticos de caráter funcionalista, mais especificamente, o funcionalismo norteamericano sobre o qual discorremos no capítulo 1.
Essa visão dicotômica de língua: uma língua apresentada nos compêndios
gramaticais vs. outra usada em nossas interações cotidianas causa grande insatisfação
acerca a qualidade do ensino de língua portuguesa, fundamentado num ensino apenas
prescritivo, o que justifica a existência de pesquisas linguísticas envolvendo o uso da
língua.
Pesquisas de cunho funcionalistas propõem novas maneiras de abordar a
linguagem, fornecendo alternativas de reflexão sobre a complexidade revelada pela
língua. A concepção defendida pelos estudiosos de corrente é a de língua enquanto
atividade social enraizada no uso comunicativo diário, cuja configuração se dá no
próprio uso.
Considerações Finais
Com este trabalho, procuramos refletir um pouco acerca das concepções de
gramática ao longo dos estudos linguísticos. Através dessa reflexão, constatamos como
professores de Língua Materna, que ainda há disparidade entre a realidade apresentada
nas escolas e a concepção de gramática de cunho funcionalista, que compreende a
gramática como componente mutável em conseqüência das vicissitudes do discurso, a
que se adapta. Daí a necessidade de se trabalhar, no dia-a-dia da sala de aula, com a
materialização da linguagem; uma língua como atividade interativa e não como sistema
autônomo, imanente; como costumamos repassar aos nossos alunos. Em outras
palavras, o que queremos dizer é que apesar de os estudos e pesquisas terem trazido
inovações, a escola não tem acompanhado o ritmo das pesquisas. As causas para o
resultado dessas pesquisas não chegarem às escolas estão atreladas a fatores de ordem
não somente educacionais, mas também sociais, políticos, cujos interesses envolvidos
são, muitas vezes, mascarados, já que as mudanças podem trazer frutos não tão
saborosos para os ideais dominantes.
O ponto de vista apresentado pressupõe a ideia de uma abordagem de ensino
pautada em atividades que formam não detentores de regras gramaticais, mas sujeitos
capacitados para usar a língua, percebendo a forma adequada de determinados
empregos, em situações específicas de comunicação, isto é, a língua em uso.
De posse dos conhecimentos acerca das concepções de gramática ao longo dos
estudos linguísticos, passamos a ver a gramática como sistema das estratégias
consagradas no e pelo uso social, ou seja, um conjunto dos procedimentos parcialmente
maleável/motivada e parcialmente arbitrária / convencional, cuja natureza das estruturas
linguísticas deve ser vista sempre estando, nunca sendo. Em outras palavras, esse
trabalho contribui para que a gramática seja vista numa perspectiva funcionalista, cuja
proposta de análise se constitui de maneira vasta, já que abrange o uso linguístico que
contempla múltiplas possibilidades de investigação. Na verdade, um estudo,
sucessivamente, leva a outro(s). É o que esperamos que aconteça com este trabalho
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTUNES, I. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial,
2003.
FIORIN, J. L. A linguagem em uso. In: Introdução à linguística: Objetos teóricos. São
Paulo: Contexto, 2002.
FURTADO DA CUNHA M. A.; TAVAERS, M.A. Funcionalismo e ensino de
Gramática. Natal. Editora da UFRN, 2007.
______. Funcionalismo. In: MARTELLOTA, M. E. (org.). Manual de Linguistica. São
Paulo: Contexto, 2008.
MARTELLOTA, M. E Funcionalismo. In: WILSON, V; MARTELOTTA, M.E e
CEZARIO M.M. Linguistica: fundamentos. Rio de Janeiro: CCAA Editora, 2006.
MARTELLOTA, M. E; AREAS. E. K. A visão funcionalista da linguagem no século
XX. In: CUNHA, M. A F.da.; OLIVEIRA, M.R.; MARTELLOTA, M. E (Orgs.)
Linguistica Funcional: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: DP & A, 2003.
NEVES, M. H. M. Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
_______ . Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006.
VIDAL, R.M.B. As construções com Adverbiais em-mente: análise funcionalista e
implicações para o ensino de língua materna. In: ARANHA, S.D. de G.; PEREIRA, T.
M. A; ALMEIDA, M. de L. L. (Org.). Gêneros e Linguagens: diálogos abertos. João
Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009.