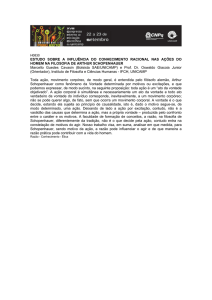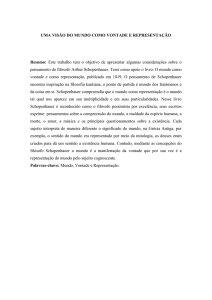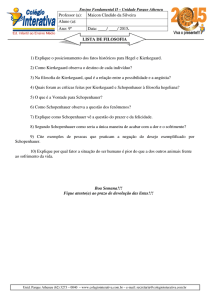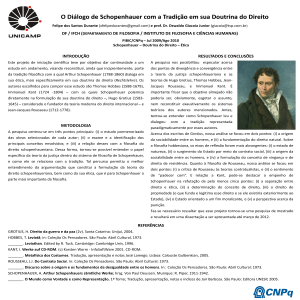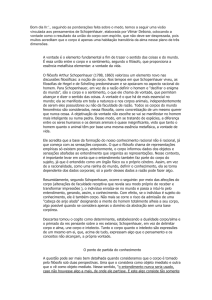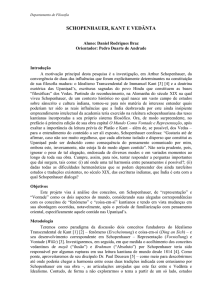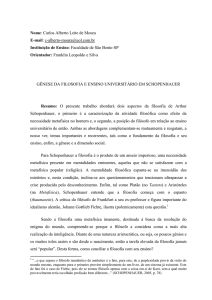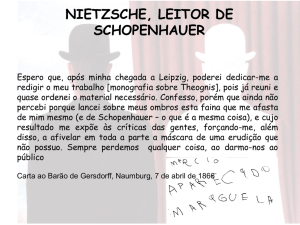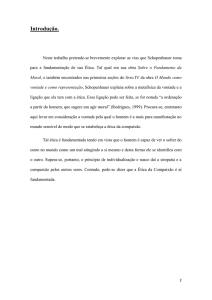Departamento de Filosofia
SCHOPENHAUER, KANT E VEDĀNTA
Aluno: Daniel Rodrigues Braz
Orientador: Pedro Duarte de Andrade
Introdução
A motivação principal desta pesquisa é a investigação, em Arthur Schopenhauer, da
convergência de duas das influências que foram explicitamente determinantes na constituição de
sua filosofia madura: o idealismo transcendental de Immanuel Kant e a doutrina esotérica das
Upanishads, escrituras sagradas do povo hindu que constituem as bases “filosóficas” dos Vedas.
Partindo do reconhecimento, na Alemanha do século XIX na qual viveu Schopenhauer, de um
contexto histórico no qual nasce um vasto campo de estudos sobre sânscrito e as religiões da
Índia, tornou-se para nós matéria de interesse entender quais poderiam ter sido as reais
influências que a Índia desbravada por este ainda insipiente empreendimento intelectual da
academia teria exercido na releitura schopenhaueriana das teses kantianas incorporadas ao seu
próprio sistema filosófico. Ora, de modo surpreendente, no prefácio à primeira edição de sua obra
capital O Mundo Como Vontade e Como Representação, após exaltar a importância da leitura
prévia de Platão e Kant – além de, se possível, dos Vedas – para o entendimento do conteúdo a
ser ali exposto, Schopenhauer ousa: “Gostaria até de afirmar, caso não soe muito orgulhoso, que
cada aforismo isolado e disperso que constitui as Upanishads pode ser deduzido como
consequência do pensamento comunicado por mim, embora este, inversamente, não esteja de
modo algum lá contido”. Não seria prudente, pois, ignorar o peso de tal alegação, endossada de
diversos modos e em variados momentos ao longo de toda sua obra. Cumpre, assim, para nós,
tentar responder a perguntas importantes que daí surgem, tais como: (i) até onde uma tal
harmonia entre pensamentos é possível?; (ii) dadas todas as dificuldades hermenêuticas que se
podem depreender dos ainda rarefeitos estudos e traduções existentes, no século XIX, das
escrituras indianas, que Índia é esta com a qual Schopenhauer dialoga?
Kant, Schopenhauer e estudos védicos
A obra de Kant foi um divisor de águas na filosofia devido à natureza crítica de seu projeto,
cujo objetivo básico era demarcar os limites dentro dos quais a razão humana poderia operar.
Para fundamentar a metafísica erguendo-a ao estatuto de ciência, seu sistema fundou o chamado
idealismo transcendental inaugurando aí uma nova etapa da filosofia moderna. Seu argumento
“transcendental” tem o mérito de ter feito a distinção entre fenômeno e coisa em si, e de ter
afirmado a impossibilidade do conhecimento de nada que não seja regido pelas leis que
constituem a priori nossa experiência. Porém, ao despontar da era filosófica pós-kantiana, os
alemães se depararam com intrigantes problemas epistemológicos extraídos da absoluta
separação estabelecida por Kant entre fenômeno e coisa em si. Ocorreu, então, uma reação na
filosofia pendendo para uma nova união destes opostos tidos então como excludentes.
Acreditamos que, dentre outros importantes pensadores e scholars, Schopenhauer
representou, no início do século XIX, um momento crucial nesta direção. Extremamente
influenciado por Kant, Schopenhauer afirmava que podemos sim conhecer a coisa em si, mas de
um modo especial, e isto se daria através da percepção interna de algo que não é regido pelas leis
do mundo fenomênico (as quatro raízes do “princípio de razão suficiente”) – ou seja, algo que
não está condicionado por espaço, tempo e causalidade –, que é a vontade. Assim, com a
publicação de sua obra magna O Mundo como Vontade e Como Representação (1818), o filósofo
defende, em um novo desdobramento da herança kantiana, que o mundo existe simultaneamente
em dois aspectos: um que é Vontade (coisa em si), e outro que é representação (fenômeno).
Ao investigarmos, porém, o desenvolvimento da filosofia madura de Schopenhauer, chama
a nossa atenção o fato de que, durante o período entre a publicação de sua tese de doutorado
Sobre a Quádrupla Raiz do Princípio de Razão Suficiente (1813) e a d’O Mundo Como Vontade
e Como Representação, o filósofo passou por uma fase de assimilação a sua visão de mundo de
leituras de estudos contemporâneos sobre o pensamento hindu, o que continuou a ocorrer até o
fim de sua vida [11]. O principal desta inspiração, como transparece os seus escritos, veio do que
leu a respeito das Upaniṣad’s, também chamadas de Vedānta (literalmente “o final dos Vedas”,
que são as escrituras sagradas mais antigas da civilização indiana arcaica). E, de fato, não seria
equivocado afirmar, ainda, que esta foi a principal influência dos estudos orientais na constituição
de sua filosofia, já que o curso de produção de suas obras revela que a sabedoria budista, também
muito importante, passou a ser mais bem assimilada em seu sistema somente após muitos anos da
publicação do primeiro volume de O Mundo – como já podemos notar mais claramente, apenas
26 anos depois, no segundo volume de O Mundo como Vontade e Representação (1844). Ainda
mais, no prefácio à segunda edição desta mesma obra, Schopenhauer alega que o fundamental de
seu pensamento já se encontrava completo quando da primeira publicação, o que apenas confirma
o que acabamos de dizer. [4].
Para situar o interesse pelo hinduísmo em um cenário maior, adiantamos que esta
curiosidade pelos indianos não era excepcional de Schopenhauer, mas contextualizada em meio a
um “boom” de pesquisas sobre a civilização indiana que se desenvolviam na Alemanha no século
XIX, bem como na França e na Inglaterra, indo na esteira da colonização inglesa na Índia [18].
Impulsionados pelo furor de teorias como, por exemplo, a do pioneiro Friedrich Schlegel, de que
a Índia foi mãe de todas as línguas ocidentais e berço primordial de todas as religiões,
inumeráveis “scholars” alemães passaram a se dedicar ao estudo da literatura védica e da língua
sânscrita naquela época. Pouco a pouco, de um cenário cujos recursos eram bastante precários,
passou-se a haver na academia trabalhos de grande magnitude. Para citar marcos na área durante
o séc. XIX, por exemplo, consideremos a notória tradução da Bhagavadgītā (do épico
Mahābhārata) por August Schlegel (1823) e a primeira tradução completa do Ṛgveda (o primeiro
e mais antigo livro dos quatro Vedas) por Max Müller (1869). Com isso, não é nada arbitrário
assumir que Schopenhauer tenha acompanhado de perto ao longo de sua vida o florescer de um
vasto campo de estudos, tendo de fato acumulado até sua morte, em 1860, cerca de 130 livros
sobre o Oriente em sua biblioteca pessoal [12]. Há se ponderar, todavia, – como já era de se
esperar, dado o ainda insipiente campo de pesquisa –, segundo evidências dos registros de
biblioteca [11], que inicialmente suas fontes sobre o assunto eram rarefeitas, sendo que os
principais textos com os quais ele a princípio teve contato vieram de revistas acadêmicas, como a
Asiatisches Magazin (1802, dois volumes) e a Asiatic Researches (1801), da obra Mythologie des
Hindous (1809) de Madame Poulier, além das Oupnek’hat (1796), de Anquetil-Duperron, uma
tradução latina da tradução persa das 108 Upaniṣads existentes. Estes textos foram também as
únicas referências bibliográficas sobre a Índia encontradas na primeira edição de O Mundo [11].
A continuidade do projeto schopenhaueriano em Paul Deussen
Em contrapartida ao estágio ainda pouco avançado das pesquisas sobre o Oriente na
primeira metade do século, mais a frente no século XIX, dentre os alemães que colaboraram
amplamente para um maior avanço dos estudos sobre os Vedas esteve um homem chamado Paul
Deussen (1845-1919), que será extremamente oportuno para esta pesquisa. Professor de Filosofia
na Universidade de Kiel, na Alemanha, este filósofo, indólogo e sanscritista alemão foi
explicitamente contaminado pelo pensamento de Schopenhauer e pelo idealismo transcendental
fundado por Kant. Deussen acreditava que a filosofia idealista era capaz de pôr em harmonia a
sabedoria de civilizações e tradições de diferentes eras, como ele mesmo diz audaciosamente no
prefácio do seu livro Os Elementos da Metafísica (1877) [9]:
“Este ponto de vista de reconciliação de todas as contradições tem sido alcançado
pela humanidade principalmente, nós acreditamos, no Idealismo fundado por Kant e
lapidado à perfeição por seu discípulo Schopenhauer. Pois a verdade deste Idealismo é
tanto mais indubitavelmente confirmada, quanto mais fundo nós penetramos dentro dela,
por meio da tripla harmonia que nós aí encontramos - harmonia com si mesma, harmonia
com a natureza, e harmonia com os pensamentos dos mais sábios de todos os tempos.”
(Nossa tradução)
Em relação a seu mestre, no que diz respeito ao acesso a fontes sobre o Oriente, podemos
dizer que Deussen tinha uma grande vantagem: construiu sua carreira em um momento em que a
pesquisa sobre a Índia em seu país já estava em um estágio mais avançado, tendo, assim, ao seu
alcance, recursos para continuar um trabalho de aproximação com esse pensamento que
Schopenhauer não poderia ter concluído. É fator de particular curiosidade, também, o fato de que
ele era amigo íntimo de Friedrich Nietzsche, quem acompanhou desde a escola até depois de sua
doença [10] [12], período em que compartilharam um com o outro seus trabalhos e suas opostas
direções a partir de uma influência filosófica comum: Schopenhauer. Também o monge Swami
Vivekānanda, ilustre difusor da “filosofia” hindu no Ocidente e um dos principais discípulos de
Śri Ramakrishna, era seu bom amigo, e exaltou muito sua importância para os estudos das
Upaniṣad’s ao longo de sua vida [13]. Ao mesmo tempo em que a extensão de sua obra sobre da
Índia é muito impressionante, tendo ele, por exemplo, traduzido do sânscrito 60 Upaniṣad’s e os
clássicos Vedânta Sutras, de Bādarāyaņa, além de ter composto obras clássicas na área como O
Sistema do Vedânta [11], Deussen foi fundador da Schopenhauer-Gesellschaft (Sociedade
Schopenhauer) na Europa, e editor dos Sämtliche Werke, a coletânea das obras completas de
Schopenhauer. Sendo assim, através de sua obra, temos melhores condições de, partindo de um
contexto bem próximo ao que Schopenhauer viveu, especular de maneira mais concreta sobre as
possibilidades de aproximação estabelecidas entre idealismo e hinduísmo legadas pela filosofia
schopenhaueriana.
A chave para o “enigma do mundo”: um pequeno ensaio
Fechamos, então, uma tríade que constitui a bibliografia principal deste projeto. De um lado
o idealismo de Kant, do outro o pensamento hindu (Vedānta), e entre ambos Schopenhauer
enquanto aquele que relaciona as duas tradições. E, enfim, aliado ao seu mestre, Paul Deussen
aparece para levar tal projeto conciliador até as últimas consequências. É de grande interesse para
nós saber qual teria sido exatamente, desde a publicação de sua tese de doutorado até a de sua
obra magna, o papel dos estudos do Oriente no processo de ressignificação, por Schopenhauer, de
conceitos importantes extraídos da obra de seu mestre Kant, principalmente os dois grandes que
formam o título de seu principal trabalho, i.e., “vontade” e “representação”. Finalmente, para
muito além do escopo deste projeto, mas sem deixar de constituir nossa motivação última, paira
uma questão de grande importância que merece ser examinada com muito mais cuidado do que
de fato ainda o é hoje, a saber, que tipo de influência o expressivo desenvolvimento dos estudos
orientais no século XIX poderia ter exercido na virada para a chamada filosofia contemporânea
que logo se seguiu.
A seguir, desenvolveremos um pouco mais nosso tema, demonstrando ocorrências
particulares de entrelaçamento entre filosofia idealista e Upanishads presentes no centro da
metafísica de Schopenhauer.
1) A aprioridade da metafísica em Kant
“O MAIOR MÉRITO DE KANT É A DISTINÇÃO ENTRE APARÊNCIA E COISA
EM SI – com base na demonstração de que entre as coisas e nós sempre ainda está o
INTELECTO, pelo que elas não podem ser conhecidas conforme seriam em si mesmas”.
(O Mundo Como Vontade e Como Representação, 494) [4]
Nesta passagem, retirada do apêndice ao primeiro tomo de sua obra principal, no qual é
feita uma crítica à filosofia kantiana, Schopenhauer assume de maneira cristalina a tese
fundamental do idealismo transcendental, fato que é reafirmado em outras inumeráveis passagens
ao longo de todas as suas obras. Hoje, diga-se de passagem, há ainda muitos filósofos na
academia que seguem concordando que esta tese de Kant marca uma irreversível divisão entre
duas eras na filosofia. Até a filosofia crítica de Kant, eram os chamados filósofos dogmáticos
quem imperavam na tradição, cuja diafonia acabou por transformar o debate da metafísica em,
segundo ele mesmo, um “teatro de infindáveis disputas” (Crítica da razão pura, A VIII) [1]. Na
verdade, certa confusão inviabilizava toda a investigação dos dogmáticos, que teria sua origem na
má compreensão da natureza dos objetos da cognição, que não podem nunca ser pensados em si
mesmos, mas somente enquanto percebidos por um sujeito, cujas faculdades do intelecto impõem
certas formas à experiência antes mesmo da possibilidade de sua ocorrência. Já percebendo que
os fundamentos da apreensão sensível de qualquer objeto, a saber, o tempo e o espaço, são na
verdade meras formas – puras – da própria intuição, originadas, respectivamente nos sentidos
interno e externo, Kant categoricamente divide a realidade em dois lados: de um, aquilo que
aparece para nós segundo leis a priori do intelecto, e, do outro, a coisa em si mesma, que, por não
estar submetida às formas do tempo e do espaço, não pode ser de modo algum conhecida.
Desse modo, todo caminho para qualquer investigação metafísica das coisas transcendentes
à experiência recebe um limite rígido. Se a metafísica, pois, pretende investigar a realidade além
daquilo que conhecemos através da sensibilidade e do entendimento ela deve de agora em diante
restringir-se ao que, anteriormente à cognição de objetos quaisquer da experiência possível, lhe
dá a priori sua forma, e que é, por isso, sua condição de possibilidade. Porém, uma coisa
essencial para fundamentar a metafísica kantiana é determinar que tipo de aprioridade do
conhecimento está em jogo na metafísica. Pois, abstraindo-se esse vocabulário que é tipicamente
kantiano, já se sabia que nossos juízos só podem ter duas origens:
“Ora, por mais variadas que possam ser as origens dos juízos ou as maneiras pelas quais se
articulam segundo sua forma lógica, existe ainda entre eles uma diferença quanto ao
conteúdo, em virtude da qual eles são, ou simplesmente explicativos e nada acrescentam ao
conteúdo da cognição, ou ampliativos e aumentam a cognição dada; os primeiros podem ser
chamados analíticos, os segundos, sintéticos.” (Prolegômenos, § 2, IV:266) [2]
Anteriormente a Kant, os objetos da cognição a priori eram todos considerados proposições
analíticas, isto é, cujo valor de verdade é imediatamente reconhecido a partir do próprio
significado dos conceitos envolvidos, por exemplo, a proposição “todo corpo é extenso”. O
princípio comum de todos os juízos analíticos é, assim, simplesmente o princípio de contradição.
Entretanto, este tipo de apoditicidade não é capaz de fundar qualquer ciência, pois, como seus
predicados não informam absolutamente nada que já não esteja contido conceitualmente no
sujeito, estes juízos são meramente tautológicos, não tendo capacidade de ampliar o
conhecimento, mas apenas de clarificar seus conceitos. Por outro lado, em Kant esta distinção
básica entre juízos analíticos e sintéticos torna-se problemática quando submetida à sua
concepção transcendental de metafísica e de ciência de modo geral, pois, como ele diz:
“Em primeiro lugar, no que se refere às fontes de uma cognição metafísica, seu
conceito já determina que elas não podem ser empíricas. Seus princípios (aos quais
pertencem não apenas suas máximas, mas também seus conceitos básicos) não podem,
portanto, ser tirados da experiência, pois é preciso que ela não seja uma cognição física,
mas metafísica, isto é, situada além da experiência. Assim, nem a experiência exterior, que
é a fonte da própria física, nem a interior, que constitui o fundamento da psicologia
empírica, formam sua base. Ela é, portanto, cognição a priori, ou cognição que provêm do
puro entendimento e da pura razão.” (Prolegômenos, § 1, IV:265-266)
Ora, se a metafísica é cognição a priori, porém, não pode ser analítica, pois deve poder
ampliar o conhecimento, a sustentação desse argumento faz necessária uma distinção até então
não considerada entre juízos sintéticos, a saber, entre sintéticos a posteriori e sintéticos a priori.
Os primeiros dizem respeito ao que antes se entendia tradicionalmente por sintéticos apenas, mas
os últimos formam uma classe de juízos cujos predicados trazem consigo a necessidade, mas não
são imediatamente identificáveis na análise do significado próprio dos sujeitos, como seria no
caso de “todo solteiro é não casado”, ou “todo homem é animal”, proposições que tem por si
autoridade, não precisando do aval da experiência para que sejam entendidas como verdadeiras.
Os juízos sintéticos a priori surpreendentemente são atribuídos por Kant até mesmo aos juízos
matemáticos, que sempre foram tidos como derivados apenas do princípio de contradição, e este
é um fato importantíssimo para a compreensão posterior de como a metafísica pode ter valor
científico.
“Poder-se ia pensar que a proposição 7 + 5 = 12 seria uma simples proposição
analítica, que se seguiria do conceito de uma soma de sete e cinco pelo princípio de
contradição. Mas, observando-a de maneira mais detida, descobre-se que o conceito da
soma de 7 e 5 não contém nada além da união dos dois números em um único, e com isso
não se pensa minimamente qual seria o número único que os reúne. [...] Desse modo
ampliamos efetivamente nosso conceito por meio da proposição 7 + 5 = 12 e acrescentamos
ao primeiro conceito um novo que não estava absolutamente pensado nele, ou seja, a
proposição aritmética é sempre sintética, o que se percebe mais nitidamente quando se
tomam números maiores, pois então fica claro que, por mais que viremos e reviremos nosso
conceito, sem o auxílio da intuição e apenas pela análise de nosso conceitos jamais
poderíamos encontrar a soma.” (Prolegômenos, § 2, IV:269)
Juízos sintéticos a priori são, portanto, (i) a priori pelo seu caráter apodítico, logo,
independente da experiência; porém, (ii) são sintéticos, pois sua cognição não é imediata, mas
mediada pela intuição. Assim, como a matemática, a natureza de todo conhecimento científico e
metafísico é sintética a priori, e, ainda que dentro deste corpo de conhecimento façam parte uma
série de juízos analíticos, não são eles que detêm o papel de construir conceitos, mas apenas o da
clarificação conceitos. Enfim, segundo este método o papel que cabe a metafísica é o de
investigar sinteticamente a pura forma da razão, discriminando nela suas leis e seus princípios,
ampliando assim nosso conhecimento de seus limites, e nunca do que está além destes.
Schopenhauer, contudo, – veremos o porquê adiante – fará duras críticas a aprioridade kantiana
da metafísica, ressaltando o valor do a posteriori para a decifração do grande enigma do mundo.
2) O problema da liberdade em Kant e a “saída” pela coisa em si
“Se, no entanto, se admitisse uma faculdade transcendental da liberdade para iniciar as
mudanças no mundo, essa faculdade deveria, pelo menos, encontrar-se fora do mundo,
(embora seja sempre uma pretensão temerária admitir ainda, para além do conjunto de
todas as intuições possíveis, um objeto que não pode ser dado em nenhuma percepção
possível). Porém, nunca é lícito no mundo atribuir tal faculdade às substâncias, porque se
assim fosse, desapareceria em grande parte o encadeamento de fenômenos que se
determinam necessariamente uns aos outros por leis universais, encadeamento a que se dá
o nome de natureza, e, com ele, o carácter de verdade empírica, que distingue a
experiência do sonho. Com efeito, a par dessa faculdade da liberdade, independente de
leis, mal se pode pensar a natureza, porque as leis desta última seriam incessantemente
alteradas pelas influências da primeira e o jogo dos fenômenos, que, pela simples natureza
devia ser regular e uniforme, ficaria desse modo perturbado e desconexo.” (Crítica da
razão pura, A 451/B 479) [1]
No interior do sistema idealista transcendental kantiano, a solução para o problema da
contradição da liberdade com as leis deterministas da natureza toma uma direção interessante que
é apontada primeiramente em forma de antinomia (a terceira, do qual o trecho acima foi retirado)
ainda na Crítica da Razão Pura, na divisão da Dialética Transcendental. Mais tarde, Kant
desenvolverá a noção de liberdade em sua filosofia prática. Neste trecho extraído da observação à
antítese da terceira antinomia, ele admite que uma liberdade transcendental, para existir,
precisaria vir de fora do mundo; trocando em miúdos, da coisa em si.
Kant identifica já na tese que “[...] Há ainda uma causalidade pela liberdade que é
necessário admitir para explicá-los [os fenômenos do mundo].” (A 444/B 472). Bom, qualquer
um que se detenha por um momento sobre essa questão, há de admitir que, embora, baseado no
nosso conhecimento das leis da natureza – segundo o qual todo efeito tem uma causa, que por sua
vez também é efeito de uma causa anterior, e assim sucessivamente –, seja impossível conceber
uma causa não causada, ao mesmo tempo, é igualmente impossível negar que experimentamos
em nossas ações a liberdade, fato que nesse sentido parece contradizer totalmente a natureza.
Uma breve consideração a respeito das leis a priori que governam nossas ações é o suficiente
para nos darmos conta de que a liberdade é o fundamento necessário de qualquer uma delas,
constatação esta que é baseada em nossa experiência. Se as leis da liberdade, pois, constituem
uma causalidade própria que, no entanto, ainda que tenhamos que reconhecê-las, somos
incapazes de concebê-la como objeto da razão pura teórica, a única explicação para sua
possibilidade seria, para Kant, apelar para uma origem que não é apreendida pelas formas puras
da sensibilidade e do entendimento. Ademais, a validade desse apelo viria do fato de que o
homem não poderia ser considerado apenas como objeto, como fenômeno do mundo, mas
também como sujeito que conhece este mundo. Como diz Kant, na sua Fundamentação à
Metafísica dos Costumes (4:459) [3], em ataque aos que negam a liberdade baseados em sua
contradição às leis da natureza, “esta contradição desaparece se eles quiserem refletir e confessar
como é justo, que por trás dos fenômenos têm de estar, como fundamento deles, as coisas em si
mesmas (ainda que ocultas), a cujas leis eficientes não se pode exigir que sejam idênticas àquelas
a que estão submetidas as suas manifestações fenomenais.”
É realmente curioso, levando em consideração aquilo que vimos na secção anterior, que os
detalhes dessa solução para a possibilidade da liberdade sejam de certa forma minimizados por
Kant, que se aproveita da brecha pela coisa em si encontrada por ele, não para fazer metafísica,
mas apenas para garantir as condições necessárias para as investigações de sua filosofia pura
prática, baseada na análise – de novo – meramente formal da vontade pura. Talvez – poderíamos
dizer – o valor que ele dera para seu princípio de que toda metafisica é a priori tenha sido
demasiado invariável a ponto de tê-lo impedido de enxergar aí um detalhe que posteriormente,
em Schopenhauer, será a pedra angular de seu sistema. Em sua tese de doutorado Sobre a
quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, publicada em 1813 e editada e ampliada em
1847, por exemplo, este identifica na liberdade a quarta raiz da representação de objetos,
conhecidos pelo sentido interno. O objeto desta cognição é o sujeito volitivo, que, unido pelo
pronome “eu” com o sujeito do conhecimento da primeira raiz, cujos objetos são as
representações das intuições empíricas, regidas e determinadas pela lei da causalidade1, – e dentre
as quais o próprio corpo se inclui –, faz o “nó do mundo” (Weltnoten). Este “nó”, contudo, só
pode ser visto a posteriori, isto é, não pode ser derivado de inferências a partir de proposições
que independem da experiência, mas, no caso, é percebido imediatamente nos sentidos interno e
externo. Deste modo, apesar de sua grande admiração pelo idealismo transcendental,
Schopenhauer atacará duramente a necessária aprioridade sentenciada à metafísica por Kant.
“[...] Ora, depois que se excluiu dessa maneira a principal fonte de todo
conhecimento e se obstruiu o reto caminho para a verdade não é surpreendente que os
ensaios dogmáticos tenham fracassado e Kant pudesse demonstrar a necessidade desse
fracasso, pois se tinha admitido previamente metafísica e conhecimento a priori como
idênticos. No entanto, em vista disso, teria sido preciso primeiro demonstrar que o estofo
para a solução do enigma do mundo não pode absolutamente estar contido nele mesmo,
mas tem de ser procurado só exteriormente ao mundo, em algo que podemos atingir
somente pelo fio condutor daquelas formas de que somos a priori conscientes. Porém,
enquanto isto não é provado, não temos razão alguma para estancar a nós mesmos a mais
rica de todas as fontes de conhecimento, a experiência interna e externa, e operar
unicamente com formas vazias de conteúdo. Digo, por isso, que a solução do enigma do
mundo tem de provir da compreensão do mundo mesmo; que, portanto, a tarefa da
1
Os objetos correspondentes à segunda e à terceira raiz são, respectivamente, intuições empíricas, conceitos,
intuições a priori das formas interior e exterior da sensibilidade (tempo e espaço).
metafísica não é sobrevoar a experiência na qual o mundo existe, mas compreendê-la a
partir de seu fundamento, na medida em que a experiência, externa e interna, é certamente
a fonte principal de todo o conhecimento; [...] em consequência, a solução do enigma do
mundo só é possível através da conexão adequada, e executada no ponto certo, entre
experiência externa e interna [...].” (O Mundo Como Vontade e Como Representação,
507)
Desse modo, Schopenhauer acusa o principal argumento de seu mestre sobre a metafísica
de constituir na verdade uma falácia, uma petição de princípio. Livre destas amarras, a partir das
descobertas que surgem dessa conexão entre sentido interno e sentido externo, Schopenhauer,
então, identificará no mundo como representação a fonte da ilusão de todos os seres a respeito do
que são em si mesmos, e na vontade – o outro aspecto desse mundo, o que ele é em si mesmo – o
princípio que, inconscientemente em todos os seres, todos eles governa. É essa vontade – ele
conclui –, em sua objetidade no mundo, a causa de todo o sofrimento, sendo todas as coisas, no
fim das contas, meras forças naturais manifestas em diversos graus de complexidade, que lutam
cegamente umas contra as outras tendo como fim a autoperpetuação da vontade, em si mesma
incondicionada. Este caminho tomado por Schopenhauer, por sua vez, se revela, em inúmeros
momentos de sua obra, contaminado por suas leituras dos estudos sobre a literatura védica.
Inclusive, a virada não tão óbvia da abordagem do fenômeno como “aparência” (Erscheinung)
para sua leitura mais forte como “ilusão” (Schein) é recorrentemente justificada através de
citações sobre o pensamento da Índia. Um exemplo marcante está nas primeiras páginas de sua
obra magna:
“Kant contrapôs o assim conhecido, como mera aparência, à coisa-em-si; por fim a
sabedoria milenar dos indianos diz: ‘Trata-se de māyā, o véu da ilusão que envolve os
olhos dos mortais, deixando-lhes ver um mundo do qual não se pode falar que é nem que
não é, pois assemelha-se ao sonho, ou ao reflexo do Sol sobre a areia tomado à distância
pelo andarilho como água, ou ao pedaço de corda no chão que ele toma como uma
serpente’. (Tais comparações são encontradas repetidas vezes em inumeráveis passagens
dos Vedas e dos Purānas.)” (O Mundo Como Vontade e Como Representação, 9)
E, ainda, a relação de identidade estabelecida por Schopenhauer de todos os indivíduos com
a vontade, ganha especial inspiração da doutrina esotérica das Upaniṣad’s, dos Vedas:
“A exposição direta [dessa identidade] a encontramos nos Vedas, fruto do mais
elevado conhecimento e sabedoria humanos, cujo núcleo finalmente nos chegou via
Upanishads como o mais valioso presente deste século XIX, e que é realizada de diversas
formas, mas em especial fazendo desfilar em sucessão diante do noviço todos os seres do
mundo, vivos ou não vivos, e sobre cada um deles sendo pronunciada a palavra tornada
fórmula e, como tal, chamada mahāvākya: tatoumes, ou, mais corretamente, tat tvam asi,
‘isso és tu’ [Upanishads, I, ss.].” (O Mundo Como Vontade e Como Representação, 419420)
Mas, contudo, há de se perguntar de que maneira foi possível a Schopenhauer adquirir tanto
apreço pelo pensamento indiano a ponto de exaltá-lo em argumentos centrais de sua obra. Este
contexto, veremos brevemente na próxima secção.
3) Uma breve contextualização dos estudos védicos na era pós-kantiana do século XIX
Baseando-se em evidências, tanto ao longo de toda a sua obra quanto em registros
históricos sobre sua familiaridade com a doutrina das Upanishads [11], certamente, por mais
minimizado que esse fato seja por alguns comentadores, seria em nossa opinião tolice crer que as
peculiares novidades trazidas pelo sistema schopenhaueriano para a tradição filosófica tenham se
originado puramente dentro desta mesma tradição, sem influência oriental alguma. Estas
evidências se ampliam significativamente quando vislumbramos que a curiosidade pela Índia não
era excepcional de Schopenhauer, mas contextualmente derivada de um ambiente de amplo
estudo sobre os Vedas e a língua sânscrita que se iniciou na Alemanha ainda no fim do século
XVIII. Este furor, que começou com a descoberta no campo da linguística da raiz comum indoeuropeia que o sânscrito tem com todas as línguas ocidentais – sendo anterior até mesmo ao persa
–, afetou rapidamente filósofos e poetas do período romântico, como os irmãos Schlegel, os
grandes pioneiros neste novo campo de estudo na Alemanha, e, todos sabem, líderes principais no
movimento filosófico-cultural chamado “romantismo alemão”.
A título de explicação, os Vedas são escrituras sagradas datadas entre as mais antigas do
mundo e são constituídos de quatro livros: Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda, Atharvaveda, sendo
aquele o mais antigo, composto entre 1500 a.C. e 1200 a.C.. No final de cada livro estão
localizadas as Upanishads, chamadas também de Vedānta – palavra que significa, literalmente,
“o final dos Vedas” –, cujo objetivo é servir de meio para o conhecimento da identidade do “eu”
(ātman) com Brahman, o princípio livre de limitação que é testemunha de todo o universo,
tornando o indivíduo, assim, livre do sofrimento. De modo geral, os quatro Vedas não são nada
mais que manuais feitos para os sacerdotes (brāhmanes), constituídos por hinos e fórmulas
(mantra) direcionados aos rituais de sacrifício (yājña), bem como por instruções para o uso
correto desse material. Mas as Upanishads, cujo início de sua composição se deu séculos depois
do estabelecimento dos Vedas, são assim mesmo consideradas pelos hindus como suas partes
constituintes. Acredita-se que o estudo desses textos ilumina o objetivo final de todo o Veda, que
repousa no adequado conhecimento da natureza do indivíduo. A “descoberta”, então, no fim do
século XVIII, da literatura sânscrita e, nela, uma base altamente metafísica, passou a nutrir
crenças extremamente grandiosas sobre a “pureza” da civilização hindu e seu suposto status de
berço de toda a cultura ocidental, crenças que estimularam a pulverização dos estudos nessa área.
Friedrich Schlegel (1772-1829), por exemplo, em carta, do ano de 1803, a Ludwig Tieck, ilustra
esse espírito, quando diz: “Aqui está a fonte de toda língua, todo pensamento, e toda poesia, tudo,
tudo, se originou na Índia, sem exceção” [14].
São notáveis outros fatos sobre este cenário, diretamente relacionados à filosofia, por
exemplo, que August Schlegel (1767-1845), foi o primeiro professor de sânscrito da Europa, na
Universidade de Bonn, na Alemanha, tendo inclusive escrito uma famosa tradução – a propósito,
lida por Schopenhauer [12] –, em 1823, do diálogo entre o avatar do deus Vishnu, Krishna, e
Arjuna, Bhagavadgītā, considerado pela tradição védica como equivalente em conteúdo às
Upanishads. Também, o grande expoente do idealismo, Friedrich Schelling (1775-1854), foi
professor em Berlim daquele considerado por muitos o maior orientalista de todos os tempos,
Max Müller (1823 - 1900), e acompanhou dele os primeiros passos nos estudos do sânscrito, o
incentivou e usufruiu de suas primeiras traduções das Upanishads [15]. E mesmo Hegel, que
excluía categoricamente todo o pensamento oriental da história da filosofia, era bem informado a
respeito, tanto sobre as fontes mais antigas que se tinham sobre o assunto, quanto sobre o que
acontecia contemporaneamente na Europa em termos de estudos asiáticos, estando familiarizado
com diversos autores ingleses, franceses e, claro, alemães, como Wilhelm von Humboldt,
Friedrich Rosen, além dos Schlegel [16]. Dentro deste amplo cenário compreendemos, pois, que
seria plenamente justificável em sua época o que o próprio Schopenhauer diz no prefácio à
primeira edição d’ O Mundo Como Vontade e Como Representação, em 1818, isto é, que “[...] a
influência da literatura sânscrita não será menos impactante que o renascimento da literatura
grega no século XV”. Não é de se espantar, também, que, posteriormente, em nota de rodapé
(459) inserida na terceira edição desta obra (1859), o que lemos já é um impressionante
testemunho desta intensa proliferação de trabalhos a que estamos aqui nos referindo, em que o
autor diz: “Nos últimos quarenta anos a literatura indiana cresceu tanto na Europa que, se eu
agora quisesse completar esta nota à primeira edição, isto preencheria várias páginas”.
Aliás, havemos de reconhecer também que não só os estudos da literatura sânscrita
exerceram notável influência nos filósofos da época, mas também, em via de mão dupla, a
filosofia mostrou-se paralelamente muito presente na história dos estudos da Índia na Alemanha.
Destacamos novamente a figura de Max Müller, que consolidou na verdade sua carreira
acadêmica na filosofia, tendo completado o doutorado com uma tese sobre Spinoza, e tendo além
de tudo sempre reconhecido o idealismo transcendental como grande influência. O indólogo, a
propósito, em 1881, publicou uma importante tradução da primeira edição da Crítica da razão
pura, reeditada em 1896, em cujo primeiro prefácio do tradutor ele alega, por exemplo, que “a
ponte de pensamentos e suspiros que percorre toda a história do mundo ariano tem seu primeiro
arco no Veda, seu último na Crítica de Kant” [17]. E, claro, apontamos especialmente em nosso
estudo para o alemão Paul Deussen, importantíssimo indólogo que em sua obra divulgou o
pensamento do Vedānta traduzidos em linguagem que, dando ao mesmo tempo a garantia de
máxima fidelidade aos originais por sua reconhecida autoridade como sanscritista, assume um
tom explicitamente schopenhaueriano, facilmente constatado em suas obras filosóficas, como a
primeira, Os Elementos da Metafísica (1877).
Em relação a Schopenhauer, os principais textos com os quais ele teve contato até a
publicação de “O Mundo”, em 1818, vieram, como já foi fito, das revistas acadêmicas Asiatisches
Magazin e Asiatic Researches, da obra Mythologie des Hindous de Madame Poulier, além das
Oupnek’hat, de Anquetil-Duperron. Em princípio, como primeiro registro de seu interesse pelo
povo hindu, temos em seu caderno de anotações durante um curso de Psicologia ministrado por
seu professor de filosofia, Gottlob Ernst Schultze, no inverno de 1810-1811, a pergunta: “Mas os
hindus?” [6]. Em seguida, sabe-se de sua frequência em um curso de verão sobre a Índia, em
1811, ministrado pelo orientalista, Prof. Arnold Heeren. Mas o começo de sua dedicação ao
assunto só foi de fato se evidenciar em 1813, ano da publicação de sua tese de doutorado (“Sobre
a quádrupla raiz”), quando foi apresentado ao orientalista Friedrich Majer, um dos editores da
Asiatisches Magazin, que, segundo Schopenhauer, em carta (1851), o “introduziu, sem
solicitação, à antiguidade indiana” [7]. Os dois exemplares desta revista foram os primeiros livros
sobre o Oriente conhecidos por Schopenhauer, segundo registros de seus empréstimos na
Biblioteca de Weimar. Após 1818 sua familiaridade com a literatura indiana só aumentou, e,
além da tradição védica, a aproximação com a tradição budista também passou a ser muito
destacada na exposição de sua filosofia.
4) Schopenhauer e os Vedas: o exemplo da Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad
“[...] o sujeito conhece a si mesmo apenas como volitivo, não como conhecedor.
Pois o “eu” que representa, isto é, o sujeito do conhecimento, não pode ele mesmo nunca
se tornar representação ou objeto, desde que, como correlativo necessário de toda
representação, ele é sua condição. Do contrário, uma bela passagem da sagrada Upaniṣad
se aplica: Id videndum non est: omnia videt; et id audiendum non est: omnia audit;
sciendum non est: omnia scit, et intelligendum non est: omnia intelligit. Proeter id,
videns, et sciens, et intelligens ens aliud non est (Oupnek’hat. vol. I, p. 202. Cf.
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, III, 7, 23. Trad.: “Ele não é visto: tudo vê; ele não é ouvido:
tudo ouve; ele não é conhecido: tudo conhece, e não é percebido: tudo percebe. Acima
deste que vê, compreende e entende não há outro”)
Disto se segue que não há conhecimento do conhecer, desde que isso requereria que
o sujeito se separasse do conhecer e ainda conhecesse esse conhecer; e isto é impossível.
(Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, § 41, p. 208, nossa tradução) [5]
O pensamento das Upaniṣad’s, como acabamos de demonstrar, foi uma importante
referência para a filosofia de Schopenhauer. Trago, então, do capítulo VII da segunda edição de
sua tese Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, este trecho que exemplifica de
que modo a Índia é remontada por Schopenhauer em total convergência com seu próprio sistema
filosófico. Partindo deste verso da Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, e com auxílio da lógica, o
argumento se segue: a proposição “eu conheço” não é informativa, pois o predicado “conheço” já
está pressuposto no significado de “eu”, pois podemos tomar esta mesma proposição como
idêntica à preposição “objetos existem para mim”, que por sua vez é idêntica a “eu sou sujeito”,
que no fim das contas não diz nada mais do que “eu”. ”Eu conheço”, pois, é uma proposição
analítica, e a partir dela mesma não se pode fundar nenhuma metafísica, como já aprovaria Kant
se exposto a este raciocínio. Mas Schopenhauer aproveita a deixa para defender porque a
metafísica não pode se limitar à reflexão a priori sobre o conhecedor, mas deve observar a
experiência, portanto, ter bases sintéticas a posteriori, e não somente a priori. Pois é na
experiência imediata que o indivíduo tem acesso à única maneira de tornar objeto o sujeito, que é
reconhecendo ambos como idênticos, enquanto vontade:
“Assim, dentro de nós o conhecido enquanto tal não é o conhecedor, mas o volitivo,
o sujeito da volição, a vontade. Começando pelo conhecimento poderíamos dizer que ‘eu
conheço’ é uma proposição analítica, enquanto ‘eu quero’ é uma proposição sintética, e,
além do mais, a posteriori, isto é, dada pela experiência (neste caso a experiência interna;
ou seja, no tempo apenas). Neste sentido, o sujeito da volição seria, logo, para nós um
objeto.” (§ 42, p. 211)
Desse modo, Schopenhauer propõe uma solução definitiva para a antinomia kantiana, e que
não apenas se alavanca a partir da possibilidade de a liberdade ter origem no sujeito enquanto
coisa em si, mas torna a possibilidade uma realidade inegável. A liberdade, então, é admitida,
segundo a tese da terceira antinomia, como constituída por leis próprias de causalidade, e
incluídas na quarta raiz do princípio de razão. Esta é chamada de lei da motivação, e é destoante
das regras da causalidade natural porque não é vista como objeto, determinado a priori pelas
formas temporais, espaciais e causais, mas como o próprio sujeito volitivo. É no corpo, por sua
vez, que a ligação entre os dois aspectos do “eu” – como mais um objeto causado, dentre todos os
outros que conhecemos pelo sentido externo, e como sujeito que quer e age segundo motivações
– é percebida.
“Motivação é causalidade vista de dentro” (§ 42, p. 214), diz Schopenhauer, e o vislumbre
desta mesma causalidade transposta aos outros animais nos levaria a concluir que nossas
semelhanças e diferenças não podem ser procuradas meramente na anatomia ou na constituição
química, mas nas causas internas que nos movem, idênticas à vontade2. Vejamos então como o
schopenhaueriano Paul Deussen prossegue no argumento, em sua obra Os Elementos da
Metafísica, fazendo uso de um trecho do mesmo capítulo desta Upanishad de maneira bastante
semelhante ao seu mestre:
“Deveríamos nos acostumar a ver em todo processo na natureza uma
interpenetração mútua de forças, e a considerar aquela que sozinha é operativa nestas
forças como idêntica ao que trabalha e luta em nós enquanto Vontade. Porque, como uma
passagem muito antiga do Veda (Bṛihad-âraṇyaka-upanishad) 3, 7, 15) diz: ‘Yaḥ
sarveshu bhûteshu tishṭhan sarvebhyo bhûtebhyo ‘ntaro, yaṃ sarvâṇi bhûtâni na vidur,
yasya sarvâṇi bhûtani çarîraṃ, yaḥ sarvâṇ bhûtâni antaro yamayati, - esha te âtmâ,
antaryâmi, amṛitaḥ’ – ‘ele que permanecendo em todos os seres difere de todos os seres,
que não é conhecido por nenhum ser, do qual todos os seres são a corporificação, que de
dentro governa todos os seres, ele é tua alma, teu governante interno, tua parte imortal.’
(p. 146, nossa tradução) [8]
E, em observação, ainda completa:
“Passagens tais como esta acima mostram claramente que o Brahman dos indianos,
que, como vimos, repousa fora de espaço, tempo, e causalidade (47), que ‘naquele que
dorme permanece acordado, criando e trabalhando à vontade’ (comp. § 163), no qual, de
acordo com outros textos do Veda, ‘o sol nasce e se põe’, ‘do qual todos os deuses
dependem’ (§ 176), ‘todos os mundos estão estabelecidos,’ que, ainda, novamente, ‘no
tamanho de uma polegada, habita a cavidade do coração,’- que esse Brahman, cuja
unidade com a alma (brahma-âtma-aikya) é o dogma fundamental do Vedânta, apesar da
inteligência a ele atribuída (§ 154), é no fim das contas nada mais que o que nós
chamados de Vontade.” (p. 147)
É realmente curioso como, nos trechos que selecionamos para este ensaio, os versos das
Upanishads são apropriados, por Schopenhauer ou Deussen, de modo a estarem em relação de
identidade com as proposições que fundamentam a teoria do mundo como vontade e como
representação. Ora, sobre essas bases é erguida toda a metafísica schopenhaueriana. Não
podemos, portanto, ignorar estas fontes usadas em seu estabelecimento por Schopenhauer,
descartando-as filosoficamente por motivos quaisquer. Com o auxílio de Deussen, por sua vez, –
enquanto grande orientalista que foi –, temos uma demonstração de que essa relação poderia sim
ser levada muito mais a sério, embora, é claro, nunca estando isenta de críticas, como qualquer
sistema filosófico. Em relação a Sobre a quadrupla raiz, infelizmente não tivemos acesso a
materiais que nos mostrassem quais dessas ideias já estavam presentes na primeira edição de sua
tese de doutorado, em 1813, quando o conhecimento de Schopenhauer sobre os estudos do
Oriente ainda era um tanto irrelevante. Sabemos apenas que essas citações de Upanishads com
toda certeza não ocorreram naquele momento, mas foram acrescentadas em sua segunda edição,
já em 1847. De qualquer modo, como já vimos, seu pensamento maduro só é considerado
enquanto tal após a publicação de sua obra magna. As citações de materiais orientais desde lá só
se multiplicaram, se revelando assim determinantes para a solidificação de sua maturidade.
2
A vontade também toma outras formas na natureza correspondentes aos seus diferentes graus de objetidade, a
saber, estímulo, para o reino vegetal, e causa propriamente dita para o reino mineral (§ 20, p. 69-70).
Devemos ser, porém, sensatos e nunca esquecermos que o contato com o pensamento oriental por
Schopenhauer nunca foi direto, mas sempre através dos estudos europeus (o que, porém, não foi
o caso de Paul Deussen3). Fica no ar ainda, pois, que Índia é essa afinal, e em que medida as
leituras de suas escrituras pelos europeus em geral são fieis à realidade dessa tradição. De
qualquer modo, sendo retratado de forma fiel ou não, o pensamento traduzido por esta onda de
pesquisas que contaminou a Europa foi uma grande novidade, e, ainda, apesar das críticas, os
orientalistas de então foram os grandes pioneiros na divulgação da Índia ao Ocidente. De certa
maneira, por fim, no fim das contas a questão sobre a não fidelidade ao seu pensamento acaba
indo para segundo plano, pois, real ou fantasiosa, a Índia teve influência no pensamento europeu.
Resta-nos entender suas consequências na tradição filosófica.
Conclusão
Ao longo deste pequeno ensaio, quisemos fazer uma demonstração da maneira como o
pensamento Vedānta se incorporou aos argumentos centrais da obra de Schopenhauer. Também,
nosso propósito foi situar este tipo de prática dentre em um contexto muito mais amplo em que o
pensamento ocidental e o pensamento oriental interpretado pelos estudos da época eram postos
em convergência. A confiança dos ocidentais orientalistas de sua posição privilegiada para extrair
o que havia de mais essencial das escrituras védicas era bastante generalizada e, se por um lado
isto provocou uma série de distorções muito criticadas nos dias de hoje, por outro representou
uma inédita abertura para a absorção dessas fontes, que não eram encaradas mais como
expressões de um pensamento bárbaro, mas como legítimas joias da humanidade.
Passada a ingenuidade dos românticos em relação ao assunto, Schopenhauer mostrou-se
talvez o primeiro pensador a ter uma apropriação mais madura da tradição védica na história da
filosofia. Sendo este filósofo considerado por muitos como a última expressão do pensamento
moderno, reafirmamos a necessidade de explorar suas influências, além do pensamento daqueles
por ele influenciados. Tratando-se destes últimos, a amizade de Paul Deussen com Nietzsche
parece nos apontar bons caminhos nesta direção, e futuramente aproveitaremos essa deixa para
dar novos rumos à nossa pesquisa, a saber, no exame das influências que deram suporte ao
pensamento do autor de Assim Falou Zaratustra.
Por enquanto, porém, o que queremos é examinar a convergência entre Vedānta e
idealismo, o motivo de ela ter sido tão exaltada, e a hipótese de que a aquisição desses novos
conhecimentos tenha contribuído para o rompimento com a tradição da filosofia moderna e a
inauguração da filosofia contemporânea. Tendo isso em vista, Schopenhauer, enquanto expoente
dessa convergência, parece ser mesmo o melhor candidato para iluminar nossos caminhos. Por
isso, acima, reconstruímos em linhas gerais sua refutação da metafísica como conhecimento
apenas a priori, e vimos como, para reforçar seu argumento, buscou-se o diálogo com um
pensamento que normalmente não teria voz nesse debate. Este tipo de recurso, olhado até hoje
por muitos na academia com desdém, é justamente o que nos interessa. Por fim, cabe a nós em
nossos próximos passos, uma imersão mais cuidadosa em sua obra, principalmente em O Mundo
Como Vontade e Como Representação, de modo a prosseguir no exame das correntes de
3
Pode-se argumentar, contudo, que sua prévia influência schopenhaueriana poderia ter contaminado demais sua
visão sobre os hindus, o afastando da realidade de algum modo. De qualquer modo, certamente a sua primeira obra
Os Elementos da Metafísica (que é sobre metafísica ocidental, e não sobre a Índia, apesar das referências
onipresentes) é a mais vulnerável a esse tipo de critica.
pensamento com as quais Schopenhauer dialoga, e a identificar o local ocupado pela sabedoria
oriental dentre essas vozes.
Referências
1 - KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre
Fradique Morujão. 7 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 692 p.
2 - KANT, Immanuel. Prolegômenos a Qualquer Metafísica Futura que Possa Apresentar-se
Como Ciência. Trad. José Oscar de Almeida Marques. 1 ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2014.
171 p.
3 - KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. 1 ed.
São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 195-225 (Coleção Os Pensadores)
4 - SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Como Representação. Trad. Jair
Barboza. 1 ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. 690 p.
5 - SCHOPENHAUER, Arthur. On The Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason.
Trad. E. F. J. Payne. La Salle: Open Court Publishing Company, 1997. 260 p.
6 - SCHOPENHAUER, Arthur. Manuscript Remains, vol.2. 1 ed., Londres: Bloomsbury
Academic, 1988. p.15
7 - SCHOPENHAUER, Arthur, Gesammelte Briefe, carta 251. 1 ed., Bonn: Bouvier, 1987, p.
261
8 - SCHOPENHAUER, Arthur. Sämtliche Werke. 1 ed., Munique: R. Piper & Co., 1911.
9 - DEUSSEN, Paul. The Elements of Metaphysics. Trad. C. M. Duff. New York: MacMillan’s
Colonial Library, 1894. 337 p.
10 - DEUSSEN, Paul. Erinnerungen and Friedrich Nietzsche. 1 ed., Leipzig: F. A. Brockhaus,
1901, 140 p.
11- DEUSSEN, Paul. Das System des Vedânta: Nach den Brahma-Sûtra's des Bâdarâyaṇa und
dem Commentare des Çañkara über dieselben als ein Compendium der Dogmatik des
Brahmanismus vom Standpunkte des Çañkara aus. 1 ed., Leipzig: F. A. Brockhaus, 1883, 140 p.
12 - NICHOLLS, Moira. The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer’s Doctrine of the
Thing-in-Itself. The Cambridge Companion to Schopenhauer. 1 ed. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999. 494p. (Cambridge Companions to Philosophy)
11 - MESQUITA, Fábio L. A.. Schopenhauer e o Oriente. São Paulo, 2007. 169 p. Dissertação
de Mestrado - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo
12 - ROLLMANN, Hans. Deussen, Nietzsche, and Vedānta. Journal of the History of Ideas,
Pensilvânia: Vol. 39, No. 1, pp. 125-132, 1978. Disponível em: <
http://www.jstor.org/stable/2709076?seq=1#page_scan_tab_contents>, acesso em 17/07/2015
13 - VIVEKĀNANDA, Swami. On Dr. Paul Deussen. The Complete Works of Swami
Vivekananda: Volumes 1-9. Kolkata: Advaita Ashrama, 1989/1999. 3956p. Disponível em:
<http://www.ramakrishnavivekananda.info/vivekananda/volume_4/writings_prose/on_dr_paul_d
eussen.htm>, acesso em 17/07/2015
14 - JANKOWSKY, Kurt R. Comparative, Historical, and Typological Linguitics. The Oxford
Handbook of the History of Linguistics. 1 ed., Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 642-643
15 - ABRAHAM, Sarah; HANCOCK, Brannon. Friedrich Max Müller. The Gifford Lectures:
over 100 years of natural theology. Disponível em:
<http://www.giffordlectures.org/lecturers/friedrich-max-m%C3%BCller>, acesso em 16/07/2015
16 - VIYAGAPPA, Ignatius. G.W.F. Chapter One: Hegel’s Sources of Information on India.
Hegel's Concept of Indian Philosophy. Roma: Gregorian University Press, 1980, p. 11-59
17 - MÜLLER, Max. Translator’s Preface. Critique of pure reason. 1 ed., Oxford: Oxford
University Press, 1881, p. lxxvii
18 - SHASHIPRABHA, Kumar. Vedic Studies in Germany. Annals of the Bhandarkar Oriental
Research Institute, Shivajinagar: Vol. 88, pp. 129-139, 2007. Disponível em: <
http://www.jstor.org/stable/41692089?saveCitation=true&confirm=add&seq=5#page_scan_tab_c
ontents>, acesso em 17/07/2015