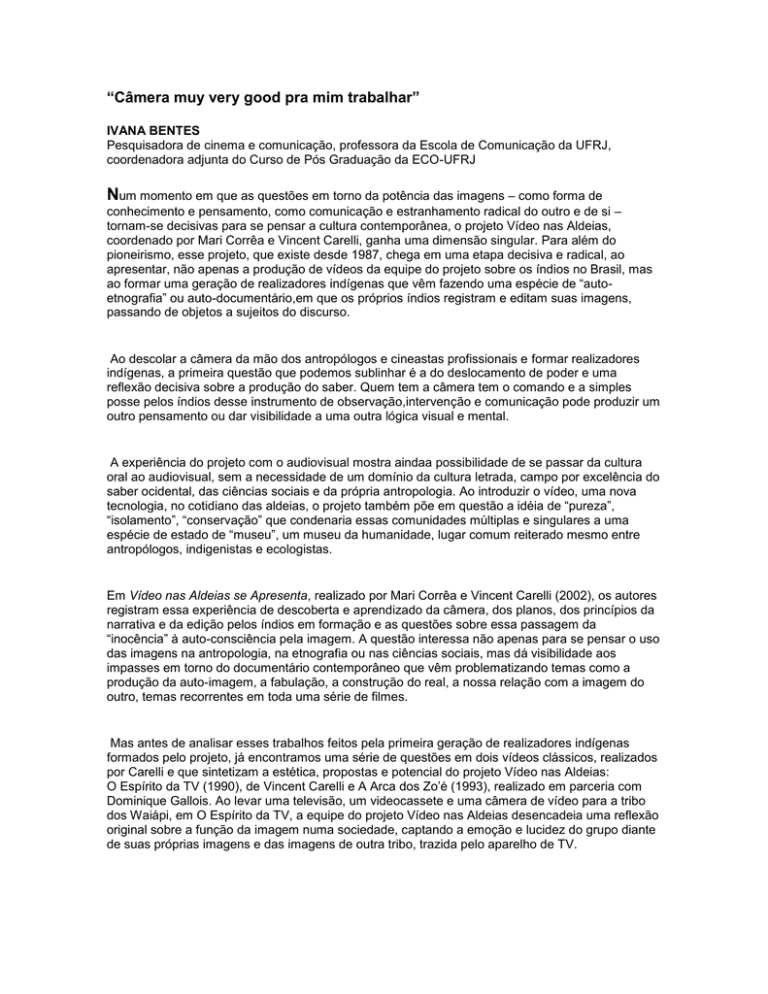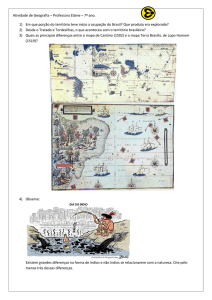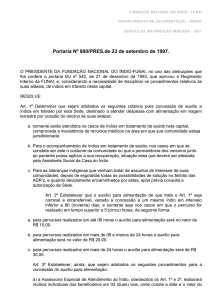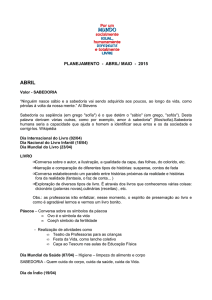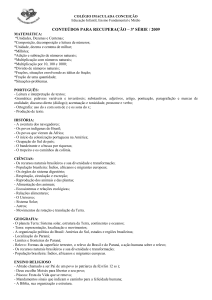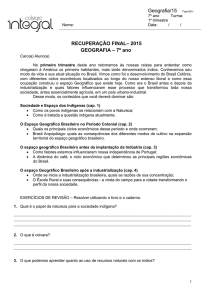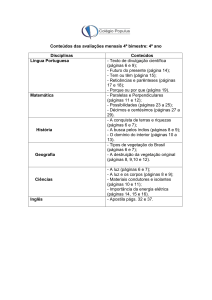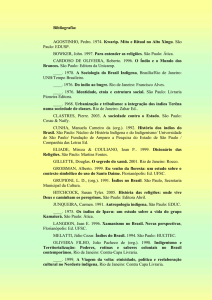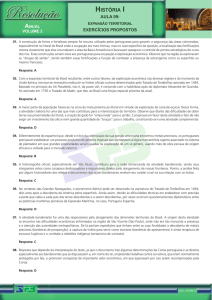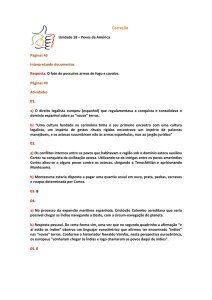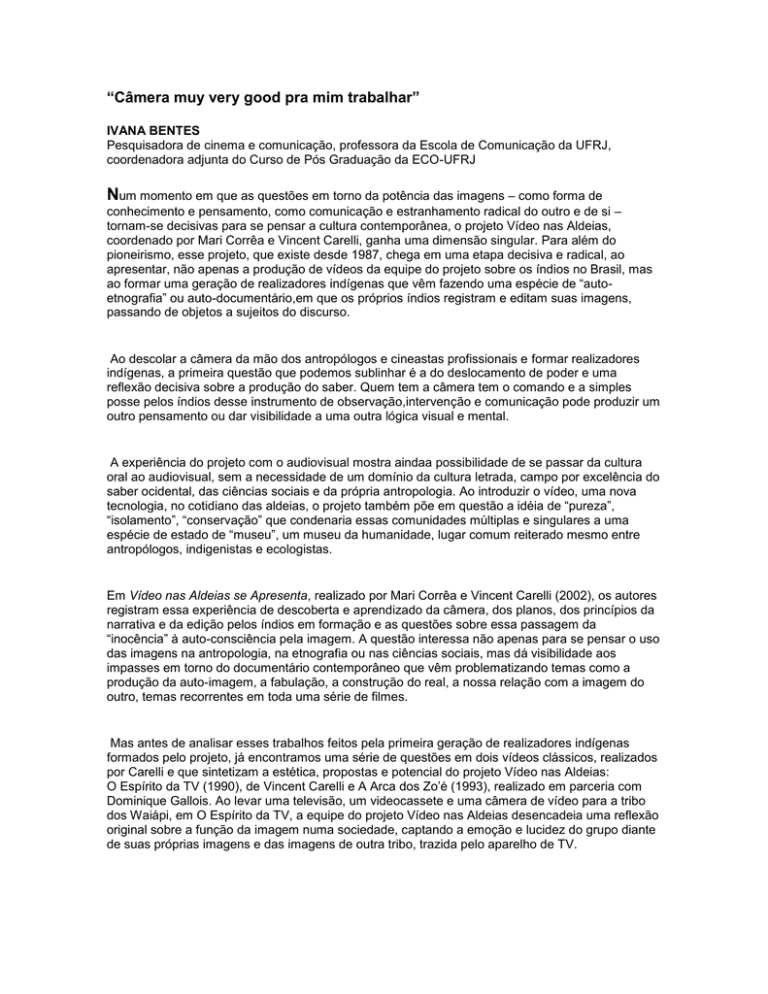
“Câmera muy very good pra mim trabalhar”
IVANA BENTES
Pesquisadora de cinema e comunicação, professora da Escola de Comunicação da UFRJ,
coordenadora adjunta do Curso de Pós Graduação da ECO-UFRJ
Num momento em que as questões em torno da potência das imagens – como forma de
conhecimento e pensamento, como comunicação e estranhamento radical do outro e de si –
tornam-se decisivas para se pensar a cultura contemporânea, o projeto Vídeo nas Aldeias,
coordenado por Mari Corrêa e Vincent Carelli, ganha uma dimensão singular. Para além do
pioneirismo, esse projeto, que existe desde 1987, chega em uma etapa decisiva e radical, ao
apresentar, não apenas a produção de vídeos da equipe do projeto sobre os índios no Brasil, mas
ao formar uma geração de realizadores indígenas que vêm fazendo uma espécie de “autoetnografia” ou auto-documentário,em que os próprios índios registram e editam suas imagens,
passando de objetos a sujeitos do discurso.
Ao descolar a câmera da mão dos antropólogos e cineastas profissionais e formar realizadores
indígenas, a primeira questão que podemos sublinhar é a do deslocamento de poder e uma
reflexão decisiva sobre a produção do saber. Quem tem a câmera tem o comando e a simples
posse pelos índios desse instrumento de observação,intervenção e comunicação pode produzir um
outro pensamento ou dar visibilidade a uma outra lógica visual e mental.
A experiência do projeto com o audiovisual mostra aindaa possibilidade de se passar da cultura
oral ao audiovisual, sem a necessidade de um domínio da cultura letrada, campo por excelência do
saber ocidental, das ciências sociais e da própria antropologia. Ao introduzir o vídeo, uma nova
tecnologia, no cotidiano das aldeias, o projeto também põe em questão a idéia de “pureza”,
“isolamento”, “conservação” que condenaria essas comunidades múltiplas e singulares a uma
espécie de estado de “museu”, um museu da humanidade, lugar comum reiterado mesmo entre
antropólogos, indigenistas e ecologistas.
Em Vídeo nas Aldeias se Apresenta, realizado por Mari Corrêa e Vincent Carelli (2002), os autores
registram essa experiência de descoberta e aprendizado da câmera, dos planos, dos princípios da
narrativa e da edição pelos índios em formação e as questões sobre essa passagem da
“inocência” à auto-consciência pela imagem. A questão interessa não apenas para se pensar o uso
das imagens na antropologia, na etnografia ou nas ciências sociais, mas dá visibilidade aos
impasses em torno do documentário contemporâneo que vêm problematizando temas como a
produção da auto-imagem, a fabulação, a construção do real, a nossa relação com a imagem do
outro, temas recorrentes em toda uma série de filmes.
Mas antes de analisar esses trabalhos feitos pela primeira geração de realizadores indígenas
formados pelo projeto, já encontramos uma série de questões em dois vídeos clássicos, realizados
por Carelli e que sintetizam a estética, propostas e potencial do projeto Vídeo nas Aldeias:
O Espírito da TV (1990), de Vincent Carelli e A Arca dos Zo’é (1993), realizado em parceria com
Dominique Gallois. Ao levar uma televisão, um videocassete e uma câmera de vídeo para a tribo
dos Waiápi, em O Espírito da TV, a equipe do projeto Vídeo nas Aldeias desencadeia uma reflexão
original sobre a função da imagem numa sociedade, captando a emoção e lucidez do grupo diante
de suas próprias imagens e das imagens de outra tribo, trazida pelo aparelho de TV.
“É bom conhecer os outros pela TV”, diz um índio Waiápi diante das primeiras imagens que lhes
chegam da tribo dos Zo’é (norte do Pará), revelando numa frase, a ética da TV e da janela
eletrônica em que o mundo vem ao nosso encontro antes mesmo que o desejemos e com toda a
segurança da mediação.
É desse confronto tecno-antropológico que, em O Espírito da TV, as mais diferentes funções da
imagem e do registro eletrônico vão surgindo com sua lógica própria. “Não tive imagens dos meus
parentes; agora, com a TV, os jovens verão os velhos”. O registro do vídeo é um suplemento de
memória, meio de transporte “que traz a pessoa e a sua fala”. A televisão, verdadeira terapia e
vício entre nós, também tem entre os Waiápi uma funçãomágica: poltergeister doméstico, canal
aberto que transporta o corpo e os espíritos da tela para a realidade e vice-versa. Assistindo a um
ritual mágico de outra tribo, o pajé Waiápi se apressa em montar guarda diante do aparelho de TV
dizendo: “Eles [os espíritos] não vão passardaqui, vieram pela TV, mas não vão passar”.
O zelo pela sua imagem, a intuição de sua importância, também se mostra crucial para o grupo
filmado. “Não queremos que vejam imagens dos índios bêbados”; “Não é bom mostrar que somos
poucos”; “É bom mostrar que ficamos perigosos quando bebemos, que arrancamos e comemos
cabeça de branco, bem gostoso”. A imagem é investida e vivida em todos os níveis, meio de
reconhecimento e estranhamento do outro. Diante das imagens dos Zo’é, os Waiápi forjam
parentescos e distâncias: “Têm a mesma fala, a mesma pele, mas os lábios são diferentes”.
A função pedagógica da imagem, de registro e transmissão de rituais, mitos e histórias, também
aparece. Em A Arca dos Zo’é, quinto documentário da série, o vídeo torna-se instrumento
antropológico e elo decisivo no processo de pensamento e conhecimento. Os Waiápi decidem
encontrar-se com a tribo que conheceram pela TV, os Zo’é e levam o vídeo para documentar e
confrontar ritos e mitos, numa meta-antropologia em que um grupo passa de objeto a sujeito de
conhecimento. Devir antropológico dos próprios índios, que colocados numa posição de comando,
de produtores das imagens de seus “parentes” tornam-se os observadores participantes, analistas,
“teóricos” dessa situação.
A Arca dos Zo’é é um dos mais intrigantes trabalhos sobre o encontro, comunicação e
estranhamento entre duas tribos indígenas (os Waiãpi e os Zo’é), mediados pela imagem que cria
nos Waiãpi o desejo de conhecimento do outro. Acompanhamos uma experiência original do ato
de olhar em que índios de duas tribos se reconhecem, se diferenciam, se comparam primeiro pelas
imagens, para depois trocarem impressões, palavras e finalmente objetos.
Na visita aos parentes, ao constatar que os Zo’é andam nus, as mulheres e os homens com os
órgãos sexuais à mostra, o narrador Waiãpi, cuja tribo usa tanga de pano, fica envergonhado, a
princípio, mas logo acostuma: “Fui dormir com vergonha e acordei sem vergonha”. As tantas
diferenças (língua, ornamentos, simpatias, medicina, artefatos) criam a necessidade do narrador
Waiãpi dizer: “Eu também sou índio” e alertar os “parentes” mais isolados sobre um futuro comum
a essa condição: a poluição dos rios pelos brancos, a exploração dos garimpeiros, as doenças,
epidemias e mortes que podem vir com o homem branco, que a tribo dos Zo’é ainda pouco
conhece.
As imagens da TV trazem para os Zo’é o conhecimento de perigos inimagináveis, como tratores do
garimpo escavando a terra e arrancando árvores, mas também as imagens que fazem rir dos
“parentes” dançando numa festa em que todos beberam muita caissuma, e modos de viver e de
fabular que disparam sua imaginação.
Grandes e pequenas descobertas, como o fascínio das índias pelo pano vermelho da tanga dos
Waiãpi, o material liso e metálico da fuselagem de um avião monomotor ou a idéia de troca entre
esses iguais-diferentes, como na partida final em que se encomendam pano, arco, um pé de
bananeira.
Quando o Waiãpi leva um Zo’é pela mão para ver suas imagens na TV e explicar o que vêem,
surge uma nova dificuldade: “Como é televisão na nossa língua? Não sei”. As diferenças de “grau”
entre uma tribo e outra (nus ou com tanga, formas diferentes de caçar, tecer, preparar a comida,
etc.) se tornam menores diante do grande outro, “o branco”, curiosamente o aparato tecnológico, o
equipamento que possibilita o contato e comunicação entre as tribos isoladas, passa rapidamente
de objeto de estranhamento a objeto de fascinação e uso cotidiano.
A televisão como rede de troca simbólica, a câmera como mediadora do encontro e descoberta do
outro ganha nesse filme um sentido que será desdobrado nos demais vídeos da série. Em
Antropofagia Visual (1995), Vincent Carelli mostra como os índios Enauênê Nauê, do norte Mato
Grosso, reagem com performances e encenações, humor e comicidade, à chegada dos cineastas
e da câmera. Mais do que isso, ver TV e ver ficção na TV cria um desejo de encenação e
performance.
A apropriação da câmera pelos índios é o novo diferencial desse projeto. Da observação à
participação e intervenção, esses novos sujeitos do discurso invertem os pontos de vista
tradicionais da antropologia, o que marca a nova fase do projeto que vem formando videastas
índios. Ao lado do tradicional discurso de denúncia, em que os próprios índios tratam dos seus
interesses, um uso “instrumental” do vídeo, vemos surgir um desejo de fabulação e ficção sobre o
cotidiano, um desejo de linguagem.
É claro que o processo de formação dos realizadores indígenas, a compreensão do poder das
imagens e o seu domínio passam pelo aprendizado dos códigos e formas de narrar e que não há
nada de “natural” ou neutro nessa alfabetização audiovisual, pois são passadas instruções
precisas sobre corte, planos, construção de um ponto de vista, construção de um “personagem”,
etc. Dois vídeos são importantes para se acompanhar essa formação e o que ela teria de indutora
da linguagem usada: Índio naTV (2000), de Vincent Carelli e Vídeo nas Aldeias se Apresenta, de
Mari Corrêa e Vincent Carelli (2002), sobre o próprio projeto.
Em Índio na TV, os índios são confrontados com as imagens da mídia e da população sobre o que
os brancos acham que eles são, e devolvem suas próprias imagens num interessante embate
performático de uma equipe derealizadores indígenas, com câmeras nos ombros e um
entrevistador (o índio Hiparendi) na estação de metrô da praça da Liberdade em São Paulo. Isso,
no dia 18 de setembro de 2000, aniversário de 50 anos da TV no Brasil. Nesse vídeo, as imagens
de aldeias e tribos de todo o Brasil são exibidas em telas simultâneas diante dos passageiros do
metrô, enquanto uma equipe entrevista os transeuntes sobre a imagem do índio na mídia.
As entrevistas são feitas sob o impacto de um cinegrafista e entrevistador índio no coração da
cidade e os passantes falam sobre o que a TV mostra sobre esses mesmos índios e o que poderia
se ver de novo na TV. As falas trazem à tona todos os clichês em torno do índio no imaginário
social brasileiro.
Dois tipos de programas parecem marcar esse imaginário,na época da filmagem, a novela das sete
Uga Uga, exibida na Globo, cujas imagens também passam no telão,em que um índio louro de
olhos azuis, branco e forte é apresentado como o bom selvagem a ser civilizado, e as narrativas de
programas como o Globo Repórter.
Diante dessas imagens e das imagens de tribos gravadas pelo projeto Vídeo nas Aldeias algumas
considerações: e se as tribos tivessem um canal de TV próprio?
Reconhecimento da alteridade (cultura, costumes), de lutas (pelas terras), mas também a
necessidade da ficçãocomo construção de subjetividade. Quem sabe uma novela só com índios?
São propostas que aparecem nos depoimentos.
Os clichês do que é “ser índio” no nosso imaginário social aparecem de forma bem mais
assustadora em certos depoimentos do Vídeo nas Aldeias se Apresenta. Preconceito social e
racial, os índios são considerados como preguiçosos, inadaptados ao trabalho, selvagens,
agressivos,infantis, necessitados de tutela e proteção, ou relacionados a tudo o que “não presta”,
uma sub-humanidade destituída de encanto ou encarnação do puro exotismo: nus ou de tanga,
falando uma língua incompreensível e fazendo com a boca uh! uh! uh!
Esse vídeo é importante como documento da metodologia de formação dos realizadores
indígenas, sua descoberta do que alguns brancos pensam sobre eles, a percepção da imagem e
da câmera como lugar de poder, de troca, de encontro, e até o desejo de imitar, fazer “o mesmo”
que os brancos, como o Programa de Índio, feito e exibido na TV de Cuiabá e outras emissoras
com índios de paletó, gravata e maquiagem, imitando os apresentadores de telejornais.
O mais interessante, entretanto, é acompanhar o aprendizado da imagem e da linguagem do
vídeo. A experiência de olhar pelo visor e descobrir a que distância do outro (de longe, de perto) se
pode chegar, a vergonha do contato visual com o outro e o momento que a câmera se torna
“invisível. Ou ainda, a troca das imagens entre as tribos como novo ritual de conhecimento. A
descoberta de como cada tribo ou índio reage diante das imagens de si mesmo, de outras tribos,
de ancestrais. O fascínio diante das imagens da Comissão Rondon, de 1917, e a descoberta da
eternidade e ressurreição pelas imagens. A imagem como lugar da memória e comunicação com o
passado e com o futuro.“Memória muito curta. Não vi meus ancestrais. Vou guardar imagem para
os meus netos”.
O desenvolvimento da formação, com a prática da edição (onde cortar, pergunta a professora para
um realizador indígena), a construção de narrativas e a possibilidade de fazer encenações e ficção,
traz as questões mais fascinantes.
O lugar do realizador é um lugar de poder. E isso fica claro na pergunta: Por que só homens
filmam? São poucas as realizadoras indígenas. Questões que vão chegar até o direito autoral e a
negociação das imagens, quando os índios são informados do “valor” real da sua imagem.
Consciência de um capital imaterial que durante décadas foi pilhado sem criar nenhum
constrangimento. As imagens de índios que circulam no mundo inteiro em jornais, revistas, cinema,
TV são parte desse espólio.
Nos diferentes trabalhos realizados pelo projeto Vídeo nas Aldeias, o tom didático, instrumental, se
impõem, mas o que seriam questões aparentemente simples ou óbvias, ganha estatuto
perturbador num segundo momento. Perguntas como: Por que os livros de história falam dos
índios com o verbo ser no passado?Como se já estivessem todos mortos e não tivessem futuro.
Como mudar isso?
Nesse contexto os vídeos dos realizadores indígenas ganham um outro estatuto, por tornar a
colocar essas culturas no eterno presente das imagens e da narrativa audiovisual, de forma muito
próxima da experiência de eterno presente dos ritos e mitos das narrativas orais e com um
diferencial: a possibilidade de criar redes, fazer mídia, trocar informações, imagens, valores, entre
eles, num tipo de miscigenação, multiculturalismo que mal tinha sido vislumbrado pela
antropologia. Através das imagens as tribos se vêm de fora (auto-imagem), conhecem outras
tribos, entram em contato com o mundo do branco, constroem suas próprias imagens e chegam ao
intercâmbio com tribos estrangeiras, fora do país. E o que pode acontecer quando os índios se
tornam mídia?
Essa é uma das mais intrigantes questões do audiovisual contemporâneo, a entrada no circuito da
informação de um contingente de subjetividades. Uma outra questão se impõe, qual o valor
estético desses vídeos? Que qualidades, que potencial expressivo trazem?
E aqui as questões de linguagem se avolumam, sobrepondo-se, do clássico Nanook, o esquimó,
passando pelo cinema de Jean Rouch, o realizador-antropólogo, e chegandoàs experimentações
do documentário contemporâneo, em que esses novos sujeitos do discurso recebem ou tomam as
câmeras e passam a produzir.
Trata-se de um processo histórico, para além do contexto indígena, sobre o qual não nos
deteremos aqui, destacando também que não há nada de “natural” nesse processo e sua
viabilização. Transformar os índios em cinegrafistas e realizadores, nos parece estratégico no
projeto Vídeo nas Aldeias, que já tem a participação de antropólogos, indigenistas e profissionais
da imagem, com seus interesses específicos, e vem criando um campo e mercado novos,
renovando as lutas políticas a partir da questão tecnológica e da qualificação dos índios para um
trabalho decisivo no capitalismo cognitivo: aprodução de imagens.
O desafio, nos parece, é fazer do vídeo um instrumento de reconfiguração de forças e de produção
de subjetividade,de compreensão, explicação, interpretação do mundo, onde para além da relação
entre os próprios índios, nós mesmos podemos nos ver como alteridade. “Quando os cineastas são
índios, índios somos nós”, como diz a antropóloga Sylvia Caiuby Novaes.
Em Wapté Mnhõnõ: Iniciação do Jovem Xavante, de 1999, são quatro videastas Xavante e um
Suyá do Mato Grosso que usam a câmera para registrar o ritual de furação das orelhas de jovens
Xavante. A primeira impressão é que já vimos essas imagens em inúmeros registros de festas
indígenas nas televisões culturais ou no Globo Repórter,mas o fato dos cinegrafistas serem índios,
Divino Tserewahu, Bartolomeu Patira, Caimi Waiassé, Jorge Protodi e Winti Suyá, vai criar
situações inusitadas e novas.
Esse vídeo tem um formato híbrido. É tradicional se pensarmos o uso dos letreiros informativos,
dos depoimentos para a câmera, falas em off com legendas. Ao mesmo tempo abre espaço para
que seus realizadores índios se apresentem, comentem as dificuldades de filmagem num trabalho
de longa duração, de 1996 a 1998 e realizado com intimidade, de “dentro”.
As falas dos participantes dos rituais se referem à presença bem-vinda da câmera. “Eu entendo a
importância da imagem”, diz um dos condutores do ritual. A fala dos índios mais velhos legitima a
presença da câmera e do vídeo como memória suplementar e testemunho. Numa das partes
do ritual de iniciação dos adolescentes à vida adulta, quando se deitam rapidamente com a futura
esposa, o ato simbólico tem toda a comunidade como testemunha do compromisso futuro e
também, sublinha o condutor, um olho testemunhal suplementar: a câmera e os visitantes.
Os cinegrafistas índios comentam opções e lamentam oportunidades perdidas: filmar os animais
vivos antes da caçada e não apenas mortos ou a necessidade de um dos cinegrafistas abandonar
as filmagens para ajudar o afilhado numa prova de corrida, etc. As imagens, nem muito rápidas,
nem lentas, tentam sintetizar um percurso no tempo, acompanhando dois anos de uma série de
acontecimentos rituais numa edição final de 75 minutos.
As imagens captam aspectos múltiplos dessa longa duração: toda a dureza das provações por que
passam os adolescentes, embates corporais, isolamento, frio, a dor da furação da orelha, vergonha
da nudez (mulheres que tem que tirar o sutiã), conformidade com a tradição, mas também o
humor, o lado lúdico e brincante dos jovens dentro do rio, no banho, nas corridas e o sentido crítico
de algumas falas: “Os velhos são ruins, vão matar a gente de frio”. Os valores em jogo são a
construção do adulto Xavante e o ideal de virilidade, coragem, fortaleza, ensinado com duras
provações corporais a cada menino. E ainda reprimendas e provações de limites, como nas belas
imagens de “bateção de água” em que os jovens produzem barulho e agitação nas águas do rio
por horas seguidas, num esforço exaustivo. Ao final desses dois anos de um mundo recriado pela
imagem, a mensagem sintética de um dos cinegrafistas, Caimi Waiassé: “Agora que vocês já
sabem tudo sobre a nossa vida, podem ir cuidar da de vocês”.
Entre os vídeos mais originais dos realizadores indígenas, podemos destacar os que tratam do
cotidiano das aldeias. Nem rituais, nem festejos, o dia a dia numa temporalidade outra, num mundo
outro, capaz de surpreender o espectador. Alguns desses vídeos fazem lembrar as propostas do
cinema contemporâneo iraniano, na sua sofisticada “simplicidade” e “transparência”.
O vídeo Shomõtsi, do realizador índio Valdete Pinhanta, é uma obra-prima na forma como capta o
tempo do cotidiano do seu tio Shomõtsi, que ele escolheu como “personagem” de uma crônica da
aldeia, na fronteira do Brasil com o Peru. Narrado pelo sobrinho cinegrafista, em voz off, o vídeo
alterna essa fala com som ambiente, música de flauta, sons da mata, da aldeia, do rio e as falas do
tio com outros índios ou com o próprio cinegrafista (“não filma meu saco”, “faz careta para a
câmera”, “sorria, o buraco da filmadora está te vendo”).
O que se registra é um cotidiano lento, de quase desacontecimentos, acordar, passar o urucum no
rosto, ir pra roça com os filhos, mascar coca e fumar tabaco, ir tomar banho no rio, beber
caissuma. Os finais de semana são mais enfeitados, com dança, caissuma, tocar flauta e flertar
com as mulheres. Uma parte do registro é a ida de Shomõtsi à cidade para receber sua
aposentadoria, de canoa, com a neta e outros índios. Como o dinheiro não chegou no posto
resolvem fazer um tapir na beira do rio e esperam três dias, fazendo fogo, comendo mandioca e no
final, sem alimentos, comendo graças ao cinegrafista que compra comida.
A conversa na beira do rio parece acompanhar o fluxo vagaroso das águas e gira em torno do
apego dos brancos e comerciantes ao dinheiro. “O papel do dinheiro é forte. Não desmancha como
o papel comum, que é feito bolacha, pode molhar, lavar, secar”. Falam da inutilidade do dinheiro
para os índios, algo que não se pode levar “para o céu” e que não precisam para viver. O dinheiro
recebido por Shomõtsi, R$ 302 reais, é quase todo gasto na hora, e a comitiva do tio do
cinegrafista volta para a aldeia, feliz de sair da cidade e do tempo de espera por um bem que não
valoriza. “Aqui termina meu filme, mas a vida continua”, diz o narrador. A edição de Mari Corrêa
deixa o tempo fluir, escorrer, colocando o espectador numa situação de imersão no mundo, talvez
insuportavelmente outro, de Shomõtsi.
Esse tempo ganha outras qualidades no vídeo Das Crianças Ikpeng para o Mundo (2002), filmado
por três jovens cinegrafistas: Natuyu Txicão, Karané Txicão e Kumaré Txicão. A idéia do encontro
pela imagem é realizado através de quatro crianças Ikpeng que mostram sua aldeia para a
câmera, tendo como interlocutores e respondendo a uma “video-carta” das crianças da Sierra
Maestra em Cuba.
O vídeo funciona como um dedo apontado para o real e um olhar direto que fala para o interlocutor
distante. “Meu nome é... Vamos mostrar nossa aldeia”. “Este é o nosso cacique”. “Esta é a mulher
do cacique”. “Essa é a minha casa”. Toda a fala das crianças se dirige aos interlocutores
virtuais,sempre mostrando o presente, a forma de fazer
e agir dos antepassados e perguntando “como vocês fazem aí?”. As falas recorrentes são: “era
assim que nossos avós dormiam, faziam redes, batiam o timbó”... etc. “É assim que as mulheres
fazem, cozinham enquanto os homens vão pescar, fazem mingau, é assim que usam as conchas
para raspar mandioca,” etc. E finalizam sempre: “e as mulheres aí?” Ou “Como vocês fazem os
seus brinquedos? Ensinem pra gente”...
etc.
Toda a curiosidade e frescor do grupo de meninas e meninos que apresentam a aldeia, os adultos
e outras crianças, é captado por uma câmera que acompanha, anda, observa, participa das
brincadeiras de muito perto, criando intimidade e confiança com os narradores. As cenas dos
banhos de rio, da pesca com timbó, das correrias com medo de onça, da brincadeira com
aviãozinho de madeira, os risinhos e fabulações típicas das crianças, dão ao vídeo um caráter
singular. O mundo dos adultos índios se torna distante e as crianças surgem como senhoras do
seu tempo e da sua fala na aldeia, o que pode ser apenas um efeito do vídeo, mas cria um fascínio
especial e uma intimidade difícil nos documentários tradicionais.
O tom de crônica também marca o vídeo Kinja Iakaha: um dia na aldeia (2003), direção coletiva de
Araduwá Waimiri, Iawusu Waimiri, Kabaha Waimiri, Sanapyty Atroari, Sawá Waimiri e Wamé
Atroari. Nesse vídeo, diferentes dos demais, o tempo da narração de vários acontecimentos
simultâneos na mesma aldeia cria uma sensação de atividade febril e incessante. Os meninos que
saem para pescar a pedido do pai, a mãe e filha que tecem esteiras, os homens que vão caçar, as
mulheres que preparam comida, o grupo que vai extrair fibras e casca de árvores para trançados ,
as meninas que sobem no pé de açaí, as crianças que brincam de arco e flecha e inventam
brincadeiras. São muitos grupos e personagens que agem ao mesmo tempo, mostrando o mundo
do trabalho de forma lúdica. No meio do vídeo uma chuva forte desacelera o tempo e pára uma
parte das ações e os homens se voltam para trabalhos dentro das casas, onde podem esperar
passar a chuva Os personagens sempre falam com os cinegrafistas e para a câmera explicando o
que estão fazendo e relacionando esse presente com a tradição.
Mais uma vez a intimidade e cumplicidade entre os personagens e os seis cinegrafistas também
índios criam um diferencial na captação. As câmeras entram em canoas, correm de vespas, estão
nos ombros de cinegrafistas que se deslocam com desenvoltura no meio de uma caçada e
conseguem criar um ambiente, uma aldeia quase arquetípica e simultaneamente singular.
O resultado sem dúvida não vem de nenhuma espontaneidade ou milagre. Pode-se vislumbrar a
dinâmica de oficinas repetidas, participação da comunidade na escolha de temas, a construção
dos personagens escolhidos e, em outros vídeos até a experimentação com encenações e
desenho animado. Nos parece decisivo ainda o trabalho de edição do material, nem sempre feito
pelos realizadores indígenas, mas pelos professores das oficinas, como Mari Corrêa.
Esse cinema e fabulação indígenas abre um campo de cruzamento entre cinema, etnografia e
antropologia que faz pensar. “Câmera muy very good pra mim trabalhar”, a afirmação do índio
Divino Tserewahú é uma aposta na imagem não apenas como representação de si para os outros,
mas radicalmente como a descoberta de uma forma de pensamento audiovisual, uma aldeia
audiovisual global,em que a singularidade dos índios brasileiros se encontra com a singularidade e
vigor do documentário e das questões do cinema contemporâneo.
Texto reproduzido com autorização do Vídeo nas Aldeias.