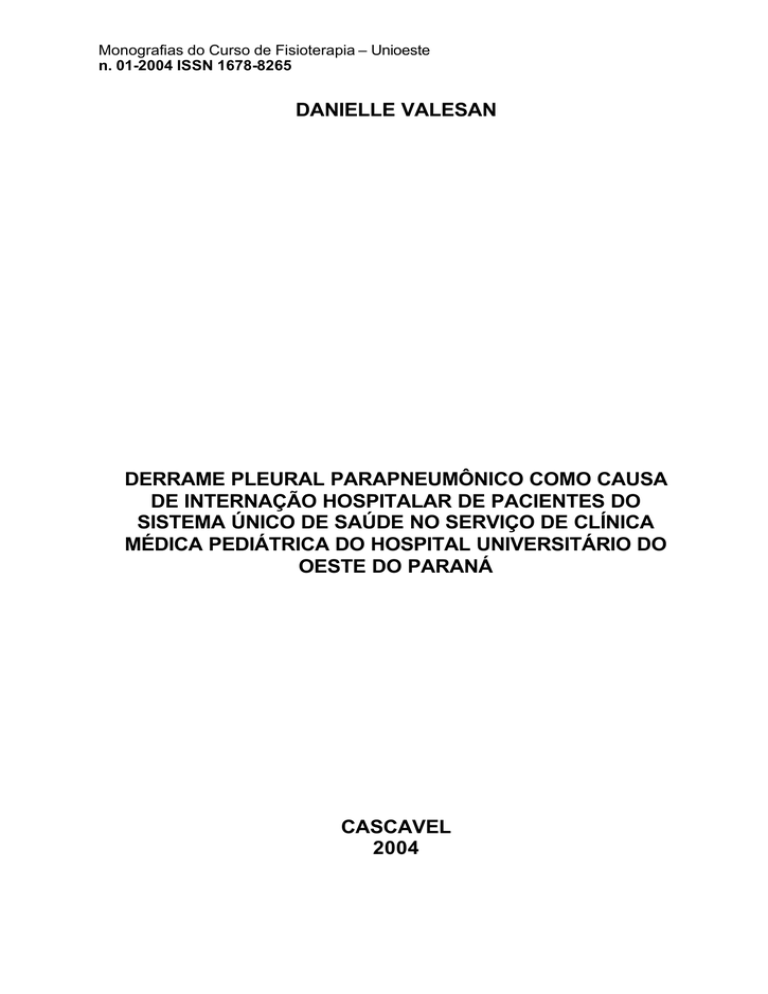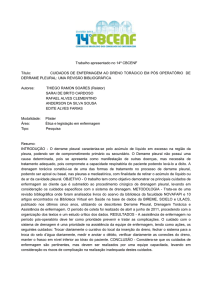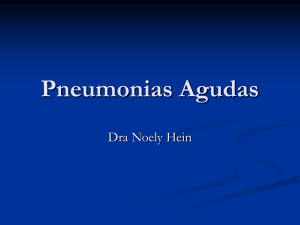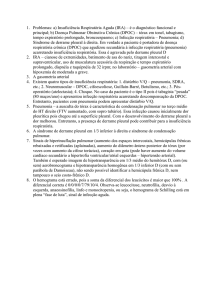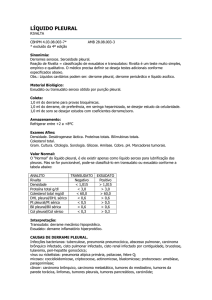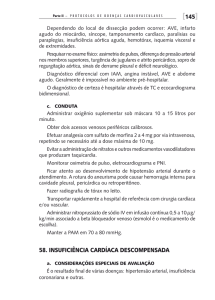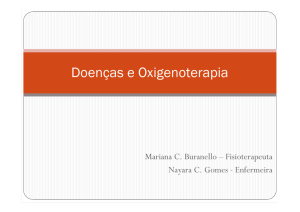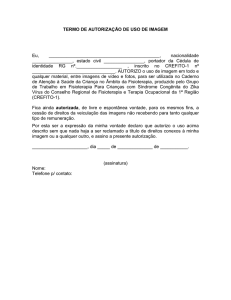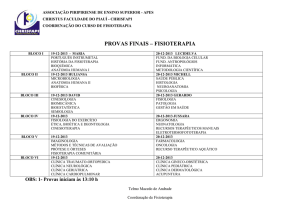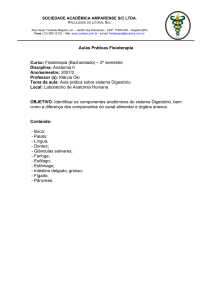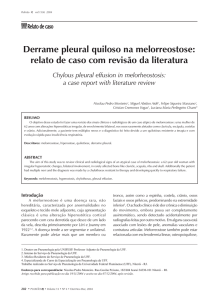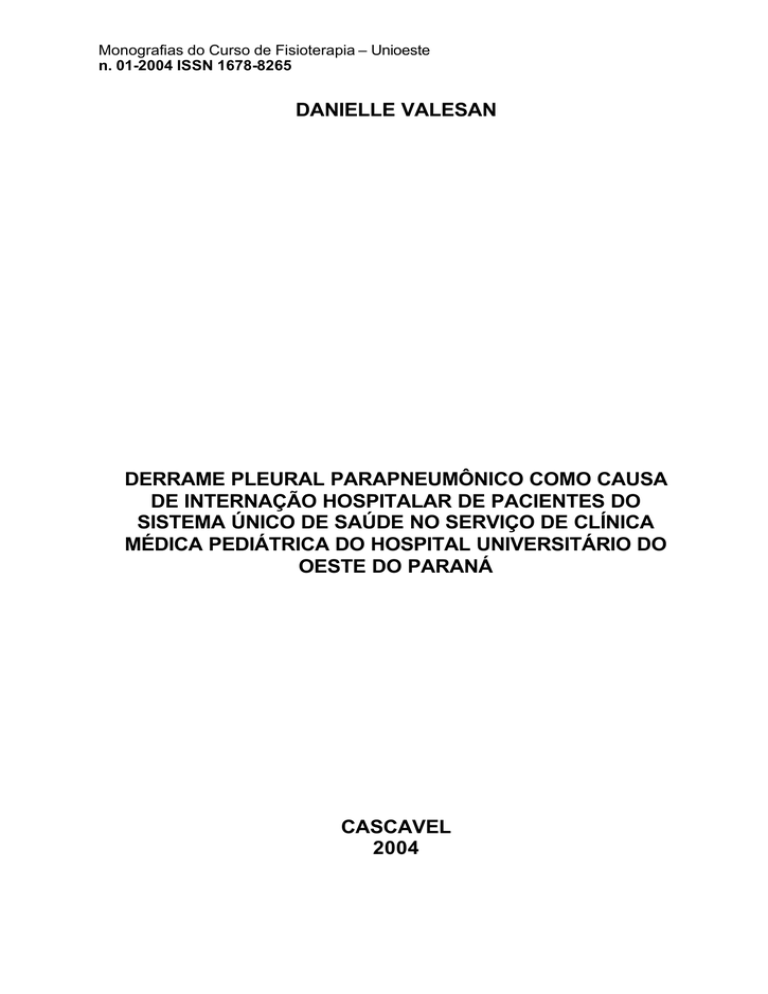
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
DANIELLE VALESAN
DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA
MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
OESTE DO PARANÁ
CASCAVEL
2004
1
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
2
DANIELLE VALESAN
DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA
MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
OESTE DO PARANÁ
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
Campus Cascavel, como pré-requisito para obtenção
do título de graduação em Fisioterapia.
Orientadora: Prof. Francyelle Pires dos Santos Suzin
CASCAVEL
2004
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
TERMO DE APROVAÇÃO
DANIELLE VALESAN
DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA
DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA
MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
OESTE DO PARANÁ
Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do
título de graduado em Fisioterapia, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
.........................................................................................................
Orientadora: Prof. Francyelle Pires do Santos Suzin
Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE
.........................................................................................................
Prof. Juliana Hering Gensk
Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE
.........................................................................................................
Prof. Keila Okuda Tavares
Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE
Cascavel, 13 de fevereiro de 2004.
3
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
4
DEDICATÓRIA
Dedico a todos aqueles, que de qualquer forma nos
deixaram como legado, o resultado de estudos e
esforços que ocuparam espaços em suas vidas, e
que hoje nos ajudam a entender um pouco mais
sobre essa maravilhosa criação que chamamos
corpo humano.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
5
AGRADECIMENTOS
Do fundo do meu coração, acredito que apenas dizer obrigado a todas as
pessoas que me ajudaram nesta batalha, é muito, mas muito pouco mesmo. Gostaria
de um dia retribuir todo esforço que elas desprenderam para me auxiliar até o termino
deste trabalho, são eles:
Ao pessoal do SAME, Leondas Lacerda, Edite Tramontini e Vilma Lucia Rosa,
minhas sinceras desculpas por tê-los deixados quase “loucos” com tantos prontuários
que tiveram que tirar e por no lugar para mim.
Ao meu querido professor Carlos Eduardo Albulquerque, o que seria de toda a
minha monografia sem seus horários de almoço, me auxiliando a unir todos os
resultados a fim de chegar a um dado estatístico significativo.
As professoras, Juliana Hering Genske e Ceres Giacometti, por terem força de
vontade e coragem, para ministrarem uma disciplina de reoferta.
A professora Celeide Pinto Aguiar Peres, que estava sempre pronta a resolver
os meus problemas de horários de sala e além disso foi a primeira que abriu os
braços para me receber de boa vontade nesta instituição.
Ao professor de estatística Wilson Oliveira, que deu a primeira “luz”, para que
eu pudesse reunir todos os dados que encontrei e chegar a uma conclusão.
As minhas amigas, que estavam sempre prontas a ouvir minhas reclamações,
emprestar seus ombros para que eu pudesse chorar e por fim sempre acabava
motivada por elas.
E é claro, não poderia esquecer do meu amado Marcos André, que teve a
paciência do “tamanho do mundo” comigo este ano.
A todos vocês desejo tudo o que a vida tem de melhor. Sejam Felizes.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
vi
RESUMO
OBJETIVO: Verificar a incidência das doenças respiratórias como causa de
internações hospitalares no Serviço de Clínica Médica Pediátrica do Hospital
Universitário de Cascavel no Estado do Paraná entre abril de 2003 a setembro 2003.
Os dados de: a) identificação: nome, idade, sexo, procedência; b) data da internação;
c) data da alta; d) resumo dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; e)
diagnósticos principal e secundários, foram obtidos a partir de arquivo médico
(prontuários), que eram solicitados no SAME (Serviço de Arquivo Médico e
Estatístico). RESULTADOS: De 883 internações hospitalares, na clínica médica
pediátrica do Hospital Universitário de Cascavel/Pr (HUOPr) 353 pacientes (40%)
apresentaram, como causa primária da internação enfermidade respiratória, e
compuseram a amostra analisada. A principal causa para a admissão hospitalar por
doença respiratória do HUOPr foi a pneumonia – 247pacientes (68,4%), seguida pela
associação de pneumonia e asma – 34 pacientes (9,4%), pneumonia em associação
com derrame pleural representou – 17 pacientes (5%). As freqüências das demais
causas de internação, representando 17,4% do total. O tempo médio de internação foi
de 7,7 dias e o tempo médio em que a fisioterapia foi atuante nos casos de
broncopneumonia em associação com derrame pleural foi 6 dias. CONCLUSÕES: 1)
Doenças respiratórias foram responsáveis por aproximadamente 40% das internações
pediátricas do HUOPr. 2) Pacientes com broncopneumonia representam a maior
parcela das internações da clínica pediátrica do HUOPr. 3) A duração média de
internação dos pacientes com broncopneumonia associada ao derrame pleural foi
maior do que o restante dos pacientes com outras patologias respiratórias (11,3 dias
versus 7,03, respectivamente)
Palavras Chaves: Dreno de Tórax, Derrame Pleural, Pneumonia, Infância,
Cinesioterapia Respiratória, Incidência.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
vii
ABSTRACT
FINALITY: Epidemilogic research of the hospital internations by respiratory illness at
th Pediatric Medical Clicnic of the Cascavel University Hospital between April and
September, 2003. The bases of the study: a) Identificacion: name, age, Sex, origin; b)
Internation day; c) Go out hospital after recovery day; d) conduct diagnostics and
therapeutics summary; e) principal and secondary diagnostics; it have been gotten
through card-files (promptuary) that these were solicited at the SAME (Statistic and
Card-file Medical Service). RESULTS: of the study with 883 hospital internations at the
Pediatric Medical Clinic of the Cascavel University hospital: 353 patients (40%)
demonstated, first reason of the internation, respiratory sick, and they have been the
sample studied. The fist reason for hospital internation by respiratory disease at the
University Hospital was the pneumonia – 247 oatients (68,4%); the second reason was
the pneumonia with asthma associated – 34 patients (9,4%); the third reason was
pneumonia with pleural spill associated – 17 patients (5%); others reasons – 17,4%.
The middle time it was 7,7 days and the middle time that the physiotherapy have been
acting in the bronchopneumonia with pleural spill cases was 6 days. CONCLUSION:
1) Respiratory diseases were chargeable by about 40% University Hospital internation;
2) Patients with broncopneumonia were the larger fragment; 3) The middle time of the
bronchopneumonia with pleural spill associated internations was bigger that other
patients with several repiratory diseases (11,3 days versus 7,03 respectively)
Keys-words: Chest drain pipe, pleural spill, pneumonia, infancy, respiratory
cinesiotherapy, incidence.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
viii
SUMÁRIO
RESUMO.....................................................................................................................................vi
ABSTRACT...............................................................................................................................vii
LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................xi
LISTA DE GRÁFICOS.............................................................................................................xii
LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................................................xiii
1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................................1
2 PNEUMONIAS NA INFÂNCIA..............................................................................................5
2.1 ETIOLOGIA ........................................................................................................................5
2.2 PATOGENIA ......................................................................................................................6
2.3 PATOLOGIA ......................................................................................................................7
2.4. TIPOS DE PNEUMONIA ................................................................................................8
2.4.1 PNEUMONIA BACTERIANA ...............................................................................8
2.4.1.1 PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA ..........................................................9
2.4.1.2 PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA ..................................................... 11
2.4.1.3 PNEUMONIA POR HAEMOPHILUS INFLUENZA .......................... 13
2.4.2 PNEUMONIA VIRAL .......................................................................................... 13
2.4.3 OUTROS .............................................................................................................. 14
2.4.3.1 PNEUMONIA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS ......................... 14
2.4.3.2 PNEUMONIA POR MICOPLASMA .................................................... 15
2.4.3.3 BRONCOPNEUMONIA ........................................................................ 16
2.5 TRATAMENTO CLÍNICO INICIAL .............................................................................. 17
3 DERRAME PLEURAL......................................................................................................... 18
3.1 FISIOLOGIA ................................................................................................................... 19
3.2 FISIOPATOLOGIA ......................................................................................................... 21
3.3 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 23
3.3.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO................................................................................... 23
3.3.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO....................................................................... 24
3.3.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL .................................................................... 25
3.3.3.1 PROTEÍNAS............................................................................................ 25
3.3.3.2 DESIDROGENASE LÁCTICA.............................................................. 26
3.3.3.3 GLICOSE ................................................................................................. 26
3.3.3.4 DENSIDADE ........................................................................................... 27
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
ix
3.3.3.5 pH.............................................................................................................. 27
3.3.3.6 EXAME BACTERIOLÓGICO – EXAME DIRETO (GRAM) E
CULTURA ................................................................................................................................. 28
3.3.3.7 EXAME CITOLÓGICO DIFERENCIAL ............................................... 28
3.3.3.8 OUTROS .................................................................................................. 29
3.4 INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL ............................................................... 29
3.5 CONTRA-INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL............................................. 30
3.6 DERRAME PLEURAL NA PNEUMONIA ................................................................... 31
3.7 TÉCNICA CIRÚRGICA DA DRENAGEM PLEURAL............................................... 33
3.8 SISTEMAS DE DRENAGEM PLEURAL.................................................................... 36
3.8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PASSIVA ............................................................. 36
3.8.2 DRENAGEM ATIVA OU SOB ASPIRAÇÃO CONTÍNUA ............................. 38
3.9 RETIRADA DOS DRENOS PLEURAIS .............................................................. 40
3.10 COMPLICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL............................................... 41
4.
TRATAMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
PARA
DERRAME
PLEURAL
PARAPNEUMÔNICO............................................................................................................. 44
4.1 TÉCNICA DE HIGIENE BRÔNQUICA ....................................................................... 46
4.1.1 TOSSE................................................................................................................... 46
4.2 TÉCNICAS DE EXPANSÃO PULMONAR ................................................................ 47
4.2.1 DESCOMPRESSÃO TORÁCICA............................................................... 47
4.2.2 PADRÕES VENTILATÓRIOS ..................................................................... 48
4.2.2.1. RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA............................................... 48
4.2.2.2 APNÉIA PÓS INSPIRATÓRIA ...................................................... 49
4.2.2.3 INSPIRAÇÃO EM TEMPOS .......................................................... 49
4.2.2.4 EXPIRAÇÃO ABREVIADA............................................................. 50
4.3 RECURSOS REEXPANSIVOS ................................................................................... 51
4.3.1 EPAP – PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA ............................................. 51
4.3.2 INCENTIVADORES RESPIRATÓRIOS ......................................................... 52
5 METODOLOGIA................................................................................................................... 54
5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA..................................................................................... 54
5.2 ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS ................................................................................... 54
6 RESULTADOS ..................................................................................................................... 56
6.1 RESULTADO MÊS DE ABRIL – 2003 ....................................................................... 56
6.2 RESULTADO MÊS DE MAIO – 2003......................................................................... 57
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
x
6.3 RESULTADO MÊS DE JUNHO – 2003 ..................................................................... 58
6.4 RESULTADO MÊS DE JULHO – 2003...................................................................... 60
6.5 RESULTADO MÊS DE AGOSTO – 2003.................................................................. 61
6.6 RESULTADO MÊS DE SETEMBRO – 2003 ............................................................ 62
6.7 RESULTADO SEMESTRAL ........................................................................................ 64
7. DISCUSSÃO........................................................................................................................ 68
8 CONCLUSÃO....................................................................................................................... 72
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 73
ANEXO 1................................................................................................................................... 75
ANEXO 2................................................................................................................................... 78
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
xi
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 -
Caso típico de pneumonia pneumocócica
10
Figura 2 -
Pneumonia Estafilocócica
12
Figura 3 -
Pneumonia por Micoplama
16
Figura 4 -
Locais de Drenagem
34
Figura 5 -
Drenagem Pleural
35
Figura 6 -
Drenagem Pleural
36
Figura 7 -
Drenagem Passiva
37
Figura 8 -
Drenagem Passiva
38
Figura 9 -
Drenagem Ativa
40
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
xii
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 -
Patologias Respiratórias e não Respiratórias
64
Gráfico 2 -
Patologias Respiratórias
65
Gráfico 3 -
Número de Admissões Mensais das Patologia
Respiratórias
66
Gráfico 4 -
Dias de Internação das Patologias Respiratórias
66
Gráfico 5 -
Tempo de Internação por Grupo
67
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
LISTA DE ABREVIATURAS
CV – Capacidade Vital
CPT – Capacidade Pulmonar Total
CRF – Capacidade Residual Funcional
DHL – Desidrogenase Lática
DPN – Derrame Pleural Neoplásico
DPP – Derrame Pleural Parapneumônico
DPT – Derrame Pleural Tuberculoso
EPAP – Pressão Positiva Expiratória
GECA – Gastro Enterocolite Aguda
HUOPr – Hospital Universitário do Oeste do Paraná
mg/dL – Miligramas por Decilitros
PAC – Posto de Atendimento Continuado
PEEP – Pressão Positiva Expiratória Final
PVC – Pressão Venosa Central
SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatístico
SUS – Sistema Único de Saúde
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
U/L – Unidades por Litro
VSR – Vírus Sincicial Respiratório
xiii
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
1
1 INTRODUÇÃO
A incidência das infecções respiratórias agudas é bastante elevada, sendo
responsável
por
grande
sofrimento
humano
e
por
consideráveis
prejuízos
econômicos. É o que afirma Luiz C. C. Silva1, em sua obra Compêndio de
Pneumologia.
As viroses são as mais freqüentes, geralmente autolimitadas e, portanto, de
bom prognóstico.
As infecções bacterianas são menos freqüentes, porém, são mais graves que
as infecções por vírus e estão presentes, na maioria dos casos em que é necessário
atendimento hospitalar.
As infecções respiratórias agudas estão entre as causas mais importantes de
morte, principalmente nos países em desenvolvimento. Chegam a superar a
tuberculose e outras doenças pulmonares crônicas, sendo responsáveis por cerca de
60% do total de falecimentos vinculados às doenças respiratórias, considerando-se
todas as faixas etárias.
A mortalidade chega a atingir valores superiores a 1.000/100.000, na faixa de 0
a 1 ano de idade, sendo aproximadamente 80% dessas mortes devidas a pneumonia
e 20% distribuídas entre gripe, infecções das vias aéreas superiores e suas
complicações.
De todas as pneumopatias classificadas, a broncopneumonia é, provavelmente,
a pneumopatia aguda mais freqüente diagnosticada pelo estudo radiológico do tórax.
Ela corresponde a uma complicação bacteriana de uma infecção viral ou de bronquite
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
2
crônica. O pneumococo é o agente mais comum. No segundo capitulo esta patologia
será descrita mais detalhadamente.
Uma das complicações da pneumonia é o derrame pleural. Segundo Arthur C.
Guyton2, o derrame pleural refere-se ao acúmulo excessivo de quantidade de líquido
livre no espaço pleural. O derrame é análogo ao líquido de edema nos tecidos, e pode
ser denominado edema da cavidade pleural.
Como cita Luiz F. Faria6, sempre que há um derrame, independentemente da
sua etiologia ou do seu conteúdo (líquido ou gás), vai haver uma diminuição da
superfície total disponível para a efetivação das trocas gasosas, isto é, vai ocorrer
uma diminuição da capacidade vital e da complacência pulmonar. Se essa coleção de
líquido ou de ar atinge proporções que coloquem em risco a vida do paciente deverse-á proceder à sua remoção através de drenagem torácica.
O líquido pleural, em condições fisiológicas, atua como lubrificante, facilitando o
deslizamento das pleuras durante os movimentos respiratórios. Todo o líquido
secretado no espaço pleural é reabsorvido. Há equilíbrio entre a produção e a
reabsorção deste.
O derrame pleural parapneumônico é um exsudato que se forma a partir do
extravasamento de proteínas para o espaço pleural, em conseqüência do aumento da
permeabilidade capilar dos vasos pulmonares por lesão endotelial secundária à ação
de substâncias produzidas pelo agente infeccioso ou pela interação deste com o
sistema imune do paciente. Há uma seqüência de eventos que se não interrompida
por um tratamento eficaz transforma o líquido que inicialmente era livre na cavidade
em tecido fibroso que pode levar ao encarceramento pulmonar.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
3
A pneumonia pneumocócica associa-se ao derrame pleural em até 60% dos
casos, mas geralmente não é necessária mudança na conduta terapêutica, pois o
derrame costuma ser asséptico, de pequeno volume e regride rapidamente.
O tratamento clínico do derrame pleural depende da natureza do processo
subjacente. O líquido pode ser reabsorvido naturalmente através de meios
farmacológicos ou removido por intervenção cirúrgica. O terceiro capítulo abordará
com maior profundidade este tema.
No quarto capítulo será discutida a atuação da fisioterapia nos casos de
derrame pleural parapneumônicos em crianças. A fisioterapia respiratória está
indicada na fase supurativa de processos pneumônicos com objetivo especial de
promover higiene brônquica, manter ou restaurar expansão pulmonar. Estas técnicas
devem ser aplicadas precocemente para evitar complicações e assim o tempo de
internação poderá ser menor.
Nos casos em que o quadro evolui para derrame pleural a fisioterapia tem
ainda mais importância já que se trata de uma complicação que implica em maiores
transtornos à mecânica respiratória. Em derrames pleurais já drenados, o objetivo
principal é a reexpansão. A fisioterapia deve atentar para a orientação sobre a
correção postural e estimular a deambulação precoce.
Para
a
realização
deste
trabalho
foram
utilizados
arquivos
médicos
(prontuários) obtidos no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) do HUOPr.
Estes arquivos foram avaliados um a um a fim de obter os seguintes dados: a) dados
de identificação: nome, idade, sexo, procedência; b) data da internação; c) data da
alta; d) resumo dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; e) diagnósticos
principal e secundários e os demais dados serão melhor descritos na metodologia.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
4
Foram aceitos os diagnósticos de doenças respiratórias atribuídos ao paciente
pelo médico responsável pela internação. Após a coleta e seleção dos dados citados
acima, um estudo estatístico foi realizado, para que fosse possível chegar as
conclusões deste trabalho (que serão descritas posteriormente) e validar o resultados
obtidos.
Tomando como base a importante incidência das doenças de infecções
respiratórias, este estudo tem como objetivo verificar a incidência das doenças
respiratórias como causa de internações hospitalares no Serviço de Clínica Médica
Pediátrica do Hospital Universitário de Cascavel no Estado do Paraná entre abril de
2003 a setembro 2003.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
5
2 PNEUMONIAS NA INFÂNCIA
Este tipo de infecção respiratória constitui um dos problemas de maior
ocorrência na infância. Podem ser de diversas etiologias, sendo as mais comuns as
formas bacterianas e virais. Na obra Fisioterapia Respiratória de Mercedes Carvalho4,
podemos encontrar descrito que a localização nas vias aéreas superiores e a etiologia
a vírus são mais observadas. Ocorrem em todas as idades, mas a prevalência é
acentuada nos dois primeiros anos de vida. E, quanto menor a idade, maior a
gravidade, uma vez que comprometem o estado geral.
Segundo Affonso B. Tarantino5, as pneumonias infantis são freqüentes na
prática pediátrica e muitas vezes graves. Porém, se diagnosticadas precocemente,
geralmente apresentam boa resposta ao tratamento.
2.1 ETIOLOGIA
Em países desenvolvidos os vírus são os maiores causadores de pneumonia
em crianças, já nos países em sub desenvolvimento é maior a freqüência de
pneumonias bacterianas.
As ocorrências de pneumonias por vírus são em geral por surtos epidêmicos
causados por vírus sincicial respiratório (VSR), parainfluenza e influenza. Também
existem o adenovírus e o picornavírus, porém, estes não são característicos de
epidemia.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
6
Quanto a ocorrência de pneumonia bacteriana, esta varia de acordo com a
localização geográfica, estação do ano, idade, estado imunitário da criança e sua
contaminação pode ocorrer dentro e fora do ambiente hospitalar.
Na obra Doenças Pulmonares de
Affonso B. Tarantino5, os agentes mais
comuns de pneumonias adquiridas na comunidade são o Streptococcus pneumoniae,
responsável pela maioria dos casos, e o Haemophilus influenzae.
Crianças com baixo peso ao nascimento, prematuridade, desnutrição, sarampo,
influenza, varicela e rinofaringites inespecíficas e certas infeções bacterianas, como
coqueluche, possuem maior chance de serem atingidas, pois possuem causas
predisponentes para a implantação da bactéria. A pneumonia recidivante é comum
quando
a
criança
apresenta:
desnutrição,
alergia
respiratória,
deficiências
imunológicas, cardiopatias congênitas, fibrose cística, corpo estranho aspirado,
anemia falciforme e refluxo gastroesofágico.
2.2 PATOGENIA
Sobre a patogenia Newton Bethlem 6 diz que os microorganismos atingem os
pulmões de várias maneiras:
− por inalação direta de partículas infectadas do ar ambiente ou por aspiração
de material infectado originário da boca ou da nasofaringe;
− por se depositarem na vasculatura pulmonar, seguindo-se a disseminação
hematogência, como acontece com os estafilococos e Gram-negativos;
− por penetração exógena no tecido pulmonar, como pode ocorrer após a
cirurgia pulmonar e broncoscopia;
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
7
− por contigüidade, mediante a passagem de microrganismo provenientes do
abdômen, através do diafragma, até chegarem à pleura e atingirem os
pulmões, como acontece nos casos de abscessos hepáticos ou subfrênicos.
As viroses respiratórias podem ser coadjuvantes e atuam por dois mecanismos:
− modificam as condições imunitárias locais, propiciando a invasão por
bactérias patogênicas;
− intensificam a produção de muco, dessa maneira facilitando sua aspiração.
2.3 PATOLOGIA
Segundo Affonso B. Tarantino5, a pneumonia viral inicia-se com lesão do
epitélio ciliado e infiltrado inflamatório mononuclear na submucosa e regiões
perivasculares vizinhas que se estendem aos alvéolos e espaço intersticial. A
progressão do processo leva à deposição de muco e células inflamatórias na luz das
pequenas vias aéreas, causando sua obstrução parcial ou total e acarretando
atelectasias ou áreas de aprisionamento aéreo. Nos quadros graves pode haver
necrose epitelial e exsudado hemorrágico. Raramente há fibrose.
Quanto a pneumonia bacteriana Newton Bethlem 6, afirma que, quando agentes
infecciosos, particularmente bactérias, superam os mecanismos físicos e mecanismos
de defesa, as partículas instalam-se nas vias inferiores e nos alvéolos. No trato
respiratório inferior, que abrange a região do bronquíolos até os alvéolos, o trabalho
de limpeza contra bactérias e outros materiais antigênicos é exercido por células e por
fatores humorais. Na ausência de líquido de edema de origem inflamatória ou
circulatória, bactérias de tamanho crítico depositadas nos alvéolos encontram, além
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
8
do processo de inativação eventual por fagocitose, pelo menos três substâncias
capazes de inativá-las. Em primeiro plano, o surfactante secretado pelos pneumócitos
tipo II, que pode ter atividade antibacteriana contra estafilococos e espécies de
colônias
rugosas,
de
alguns
Gram-negativos. Em segundo, imunoglobulinas,
principalmente da classe IgE e, em menor concentração, formas secretórias de IgA,
que têm anticorpos opsônicos com atividade específica contra bactérias Em terceiro
plano, encontram-se os componentes do complemento, especialmente a properdina,
fator B, que pode reagir às bactérias e ativar a via alterna do complemento. A ação de
uma destas ou de todas estas modalidades descritas pode preparar as bactérias para
serem ingeridas pelos macrófagos alveolares ou pela seqüência do complemento
ativado e lisá-las diretamente.
2.4. TIPOS DE PNEUMONIA
2.4.1 PNEUMONIA BACTERIANA
Segundo Luiz C.C. Silva7 a pneumonia bacteriana é a mais freqüente na
pediatria, principalmente em crianças do sexo masculino, menores de 5 anos. Em
países de terceiro mundo é importante causa de morbidade e mortalidade.
Ocorre principalmente no inverno e início da primavera, podendo ser
antecedida por infeção respiratória viral.
Os lactentes acometidos por pneumonia bacteriana podem apresentar febre,
tosse, taquipnéia, cianose, batimento das asas do nariz, retrações, inapetência,
vômitos, diarréia, prostração e toxemia. A criança pré escolar apresenta dispnéia,
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
9
tosse produtiva, febre, calafrios, cefaléia, náuseas, vômitos e dor torácica ou
abdominal. Ao exame físico será constatado a macicez à percussão, frêmito
toracovocal aumentado, crepitações, roncos e diminuição do murmúrio vesicular.
O diagnóstico geralmente é realizado através de aspiração traqueal, lavado
broncoalveolar, hemograma e detecção de antígenos (baixo índice de positividade). O
raio X revela consolidação lobar, segmentar ou focal, broncograma aéreo, derrame
pleural e pneumatocele. Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a
pneumonia viral, tuberculose pulmonar, penumonite química, micoplasma e neoplasia.
2.4.1.1 PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA
Segundo o mesmo autor, dentre as pneumonias bacterianas a Pneumonia
Pneumocócica é o agente mais comum das pneumonias adquiridas na comunidade
(50%), mas pode causar doença em indivíduos hospitalizados. É também, importante
causador de mortalidade e morbidade na clínica pediátrica.
Ocorre principalmente no inverno e início da primavera e em crianças menores
de 5 anos.
Estes agentes são comumente encontrados nas vias aéreas superiores de
pessoas assintomáticas. As crianças acometidas por esta patologia apresentam, febre
alta com calafrios intensos, dor torácica ventilatório-dependente, tosse e escarro
hemático. Ao exame físico pode ser observado macicez, sopro tubário, crepitações,
atrito pleural e a distensão abdominal é freqüente nos casos graves.
O diagnóstico é realizado com base nos achados clínicos, hemograma,
aspirado pulmonar, exame e cultura de escarro. O raio X permite a confirmação do
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
10
diagnóstico clínico, sendo característico a consolidação e o broncograma aéreo. Para
diagnóstico diferencial leva-se em consideração o micoplasma, klebsiella e
estafilococo.
O tratamento clínico para a pneumonia penumocócica compreende a
antibióticoterapia, tratamento da dor (usualmente é necessário aspirina), controle da
febre (com aspirina ou dipirona). Em crianças se faz necessário a análise da
gasometria para detectar hipoxemia.
A complicação mais freqüente é o derrame pleural, apresentando líquido
exsudado claro, com pH maior que 7 e predominância de polimorfonucleares. Se for
um derrame de grande proporção deverá ser drenado. A evolução para empiema não
é freqüente, porém quando ocorre o paciente será submetido a drenagem cirúrgica.
Figura 1: Caso típico de pneumonia pneumocócica: consolidação homogênea
comprometendo quase toda a pirâmide basal direita, com brocograma aéreo.
FONTE: SILVA, C. C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2. ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
11
2.4.1.2 PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA
Este tipo de pneumonia é de rápida evolução e extensão. Devido a gravidade
das lesões que o estafilocócos causa no pulmão, faz-se necessário rápido diagnóstico
e tratamento.
Os germes podem chegar ao pulmão pelas vias brônquica ou hemática, no
entanto, como descreve Luiz C. C. da Silva7, a ocorrência da doença é incomum na
ausência de fatores predisponentes que possibilitem a instalação do agente. São
exemplos: mãos contaminadas do pessoal que atua em enfermaria de recémnascidos, virose (especialmente influenza), fibrose cística, desnutrição, diabete mélito,
presença de corpo estranho (catéter endovenoso), lesão cutânea infectada, injeções
com material contaminado, infecções ginecológicas (principalmente abortamento
séptico), osteomielite, uso de corticóides, insuficiência renal e idade avançada.
O sintomas que o paciente poderá apresentar irá depender da idade, do órgão
que iniciou a infecção e do trajeto de sua evolução. São eles: febre, prostração, tosse,
expectoração purulenta ou pio-sanguinolenta, dor torácica e dispnéia. Ao exame físico
freqüentemente será observado, taquipnéia, taquicardia, presença de estertores
pulmonares, batimento de asas de nariz. Poderá ser encontrado também: endocardite,
sopro tricuspíde, lesões cutâneas, artrite, esplenomegalia e sinais de insuficiência
cardíaca. No decorrer de horas os achados físicos podem se alterar (por exemplo:
desaparecimento dos sons pulmonares em um hemitórax pelo fato de ali haver se
instalado complicação pleural).
Radiologicamente podem ser encontrados focos de consolidação, cavidades de
paredes espessas (abcessos) e cavidades de paredes delgadas (pneumatoceles),
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
12
lesões pulmonares (estas em geral bilaterais), são achados freqüentes. A presença de
hidropneumotórax ou de derrame pleural são mais comuns em crianças, é registrado
em menor número que os demais achados mencionados acima; e quando há
comprometimento do coração, as alterações mediastinais correspondentes costumam
ser evidentes.
O diagnóstico é fundamentado no quadro clínico-radiológico indicativo da
doença, identificação microbiológica do agente causal nas secreções e/ou no sangue
do paciente. Pode-se ainda tentar identificar a “porta de entrada” para o germe, o que
ajuda no entendimento do caso clínico.
O tratamento clínico da pneumonia estafilocócica, é realizado de forma
parenteral, em um esquema não inferior a quatro semanas. O fármaco de escolha
inicial é a penicilina beta-lactamase-resistente (oxacilina, meticilina ou nafcilina).
Figura 2: Pneumonia estafilocócica por disseminação hemática a partir de abscesso
em membro inferior. Focos de consolidação de várias dimensões, alguns confluentes;
derrame pleural bilateral. Surgimento de cavidades necróticas; progressão do derrame
pleural à esquerda.
FONTE: SILVA, C.C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2. ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
13
2.4.1.3 PNEUMONIA POR HAEMOPHILUS INFLUENZA
A pneumonia primária por Haemophilus influenzae é uma doença própria da
infância, que determina um quadro de broncopneumonia com bronquiolite severa. É o
que nos descreve Luiz C.C. Silva7 em sua obra, Condutas em Pneumologia.
Os sintomas apresentados são tosse persistente, dispnéia, expiração
prolongada, roncos, sibilos e estertores esparsos, podem ser observados ao exame
físico.
As complicações são: síndrome asmatiforme e insuficiência respiratória aguda,
se não tratadas devidamente podem levar o paciente à morte.
O tratamento clínico é realizado com antibióticoterapia. Os fármacos de escolha
são o clorafenicol, a ampicilina e amoxicilina, porém muitos pacientes tem-se
mostrado resistentes, sendo utilizado então as cefalosporinas de terceira geração.
2.4.2 PNEUMONIA VIRAL
Segundo o mesmos autor, os vírus são os principais causadores de pneumonia
após o período neonatal, sendo mais freqüentes no inverno. Uma infecção do trato
respiratório superior geralmente precede o início da doença respiratória inferior por
vírus. Após o contágio apresentam curto período de incubação. A idade predominante
é entre 1 mês e 3 anos, sendo o sexo masculino mais acometido.
Os sintomas apresentados são: tosse, coriza, obstrução nasal, sinais de
dificuldade respiratória (retrações e batimentos da asa do nariz), febre leve a
moderada, taquipnéia e taquicardia. Os recém nascidos podem apresentar somente
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
14
apnéia. Ao exame físico pode-se encontrar retrações intercostais, subcostais, e supra
esternal, batimentos da asa do nariz, ronco, sibilos, crepitações e diminuição do
murmúrio vesicular que podem ser indistinguíveis daqueles da pneumonia bacteriana.
O diagnóstico freqüentemente será realizado através do hemograma, teste de
imunoflurescência ou ELISA (confirma o diagnóstico). No raio X há infiltrados
intersticiais bilaterais, peribrônquicos, peri-hilares e múltiplas áreas de atelectasias
laminares. Nos lactentes há hiperinsuflação. Para diagnóstico diferencial leva-se em
consideração a pneumonia por clamídia, micoplasma, piogênica afebril e bronquiolite
2.4.3 OUTROS
2.4.3.1 PNEUMONIA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Esta patologia costuma evoluir gradualmente a medida que a infecção desce o
trato respiratório. Apesar da doença estar em curso, os lactentes podem apresentar
uma aparência sadia. É sugestivo de lactentes de 3 a 11 semanas, nascido de parto
vaginal com história de conjuntivite de inclusão, rinofaringite com coriza nasal ou otite
média presente ou passada. Ao exame físico apresenta tosse, taquipnéia, roncos
inspiratórios, estertores e sibilos. Caracteriza-se principalmente por não apresentar
febre.
O diagnóstico é realizado através do hemograma, que poderá apresentar
eosinofilia, IgM e IgG poderão estar elevados. O achado radiológico típico é um
infiltrado intersticial bilateral simétrico, hiperinsuflação, espaçamento peribrônquico ou
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
15
consolidação focal. É realizado também a pesquisa de corpos de inclusão na lágrima
e dosagem de anticorpos.
Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a pneumonia bacteriana,
viral e parasitárias.
2.4.3.2 PNEUMONIA POR MICOPLASMA
Pode apresentar-se de forma assintomática até uma pneumonia fatal. O
contágio é realizado pelo contato direto e o período de incubação é de 2 a 3 semanas.
Predomina na faixa dos 10 aos 30 anos.
O sintomas apresentados são: tosse que inicia 3 a 5 dias após a doença.
Inicialmente é do tipo não produtiva, evoluindo para produtiva com escarro branco ou
hemoptóico, podendo persistir por semanas. Dor de garganta, rouquidão, disfonia até
afonia, febre e cefaléia são freqüentes. Ao exame físico será constatado: roncos,
estertores, diminuição do murmúrio vesicular e macicez à percussão sobre a área
envolvida. Há relato freqüente de outro familiar com sintomas semelhantes.
O diagnóstico se dá através do raio X de tórax com espaçamento das paredes
brônquicas, infiltração e focos de broncopneumonia ao longo dos feixes bronco
alveolares, infiltração intersticial bilateral e áreas de consolidação em lobos inferiores.
O hemograma apresenta leucocitose e desvio para esquerda. É realizado também
anticorpos, crioglutininas e fixação de complemento sérico (padrão ouro).
Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a pneumonia viral por
legionella e histoplasmose.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
O
tratamento
clínico
da
pneumonia
16
por
micoplasma,
consiste
na
antibióticoterapia (penicilinas e cefalosporinas).
Figura 3: Pneumonia por micoplasma. Espessamento de paredes brônquicas,
consolidação do lobo inferior direito e infiltração intersticial bilateral.
FONTE: SILVA, C.C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2.ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.
2.4.3.3 BRONCOPNEUMONIA
Segundo Luiz C. C. da Silva7, a broncopneumonia é, provavelmente, a
pneumopatia aguda mais freqüente diagnosticada pelo estudo radiológico do tórax.
A infecção tem início nas vias aéreas condutivas e, através da parede lesada
de bronquíolos, há propagação aos alvéolos peribronquiolares e aos ácinos
adjacentes. A disseminação da infecção na broncopneumonia ocorre por via
canalicular e na pneumonia ocorre por via alveolar. Ao exame de raio X observa-se,
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
17
consolidação de extensão acinar (5 a 6 mm de diâmetro) ou lobular (10 mm), podendo
ocorrer consolidações maiores por confluência. A localização é preferencialmente nos
segmentos basais.
Ainda, Luiz C. C. da Silva1 em sua obra Compêndio de Pneumologia afirma
que, como regra, a broncopneumonia corresponde a uma complicação bacteriana de
uma infecção viral ou de bronquite crônica. O pneumococo é o agente mais freqüente,
enquanto que tanto o penumococo como o hemófilo podem ser responsáveis pela
complicação infecciosa da bronquite crônica.
2.5 TRATAMENTO CLÍNICO INICIAL
Pela dificuldade encontrada para identificar o agente etiológico causador da
pneumonia, opta-se por antibióticoterapia de amplo espectro.
O tratamento quando empírico, geralmente inicia-se com o uso da penicilina G,
amplicilina ou ainda, com a associação da penicilina G + eritromicina. No terceiro dia
de tratamento será avaliado se está ocorrendo ou não uma boa resposta. Em geral
sete dias de tratamento são suficientes.
Nos casos em que não se obtêm boa resposta ao tratamento empírico, está
indicada uma maior investigação sobre o agente causador da patologia.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
18
3 DERRAME PLEURAL
Segundo Ramzu S. Cotran, et al8, o derrame pleural constitui uma manifestação
comum de comprometimento pleural tanto primário quanto secundário. Em condições
normais, a superfície pleural é lubrificada por não mais de 15 ml de líquido pleural
claro e seroso, relativamente acelular.
Podemos dividir o derrame pleural em não inflamatórios ou transudatos
e,
inflamatório ou exsudatos. Quando o líquido do derrame pleural é definido como um
transudato, é conseqüência do distúrbio das pressões hidrostáticas ou oncóticas - a
membrana pleurocapilar está preservada. E, quando o líquido do derrame pleural é
definido como um exsudato, este possuí taxa elevada de proteínas, desidrogenase
láctica e maior quantidade de células. Diversas condições e doenças predispõem e
causam o derrame pleural transudativo. Além da insuficiência cardíaca, a insuficiência
renal e a cirrose do fígado são causas comuns de acúmulo de líquido transudativo no
espaço pleural. O líquido é claro e geralmente é reabsorvido com o tratamento do
distúrbio fisiológico primário. Derrames pleurais exsudativos, que incluem efusões
supurativas, classicamente são vistos em doenças infecciosas de diversos tipos, em
doença neoplásica, em pacientes com distúrbios vasculares colagenosos e
parapneumônicos. Os exsudatos tendem a ser levemente coloridos e embaçados
sendo resposta à inflamação ou neoplasma. Eles devem ser tratados clinicamente e
algumas vezes exigem toracocentese.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
19
3.1 FISIOLOGIA
Como coloca Affonso B. Tarantino5, a cavidade pleural, apesar de ser um
espaço virtual, apresenta uma pequena quantidade de líquido entre as camadas
visceral e parietal. O volume do líquido existente entre as pleuras pode variar de 1 a
20 mL e o espaço pleural pode receber aproximadamente 700 mL de líquido por dia,
que é absorvido no mesmo ritmo em que é produzido.
A presença de células e proteínas no líquido pleural, irá auxiliar a manutenção
da pressão oncótica na cavidade pleural, participando no equilíbrio do volume de
líquido desde sua produção até a absorção. As pressões entre a pleura visceral e
parietal é 0 mmHg, porque é um espaço virtual. Porém a pleura parietal apresenta a
pressão da circulação sistêmica (30 mmHg) e a pleura visceral apresenta a pressão
da circulação pulmonar (10 mmHg), portanto diz-se que o líquido pleural é formado
pela pleura parietal porque é a que apresenta maior pressão, mas o líquido também
poderá ser formado pela pleura visceral.
O líquido pleural é drenado por vasos linfáticos que encontram-se na bifurcação
dos brônquios, denominada de região peri-hilar. A expansão pulmonar irá auxiliar a
drenagem pelos vasos linfáticos.
Newton Bethlem6 estudou os capilares pleurais e os comparou aos capilares
endoteliais
pulmonares,
tanto
no
fluxo
como
permeabilidade pulmonar exagerada ocorre por:
− aumento da pressão hidrostática;
− traumatismos locais;
− processos inflamatórios.
nas junções intercelulares. A
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
20
Frente a um dos processos citados acima, os mediadores químicos aumentam
a permeabilidade dos capilares pleurais, que irão absorver todo o líquido restante que
os capilares linfáticos não absorverão (apenas 10%). Como existem pressões
hidrostáticas diferentes nos dois folhetos pleurais, ocorre o deslocamento de líquido
de uma serosa para a outra. A seletividade de filtração, os níveis tencionais no espaço
pleural e as pressões hidrostática e oncótica das proteínas, realizam o equilíbrio local,
assim qualquer disfunção entre elas, altera o mecanismo de reabsorção de líquido,
ocorrendo assim o seu acúmulo.
Quando ocorre o aumento da viscosidade do líquido pleural na cavidade, faz
com que aconteça o desvio de líquido intravascular que é submetido à diminuição da
pressão oncótica. Porém, nos processos inflamatórios existe a perda da seletividade
da barreira pleurocapilar, levando a uma deficiência do controle da quantidade do
líquido que vai para o espaço pleural, com isso aumenta o conteúdo de proteínas e
elementos figurados.
Fernando C. Paz9 coloca que o derrame pleural parapneumônico é um
exsudato que se forma a partir do extravasamento de proteínas para o espaço pleural,
em conseqüência do aumento da permeabilidade capilar dos vasos pulmonares por
lesão endotelial secundária à ação de substâncias produzidas pelo agente infeccioso
ou pela interação deste com o sistema imune do paciente.
Uma vez estabelecida a lesão endotelial, Luís M. I. Cirino10 descreve que
ocorre uma seqüência de eventos e transformações na composição e nas
características do espaço e do líquido pleural. Inicialmente, estabelecem-se
modificações bioquímicas do líquido extravasado. Há diminuição dos níveis de glicose
(secundária á diminuição da difusão da glicose do plasma para a cavidade pelo
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
21
espassamento pleural, além do consumo local de glicose) e queda do pH do líquido
por aumento da produção de ácido e aumento da concentração do CO2 (por aumento
de sua produção pleural, aumento da glicólise pelos neutrófilos pleurais e diminuição
do transporte do CO2 pela pleura). A seguir, começam a ocorrer alterações estruturais
progressivas do espaço pleural. Há acúmulo de polimorfonucleares e proliferações
bacteriana, ao mesmo tempo que se inicia deposição de fibrina na superfície das
pleuras, levando à formação de bridas pleurais, adesão e loculação do espaço pleural.
Com a atração de fibroblastos provenientes das pleuras visceral e parietal, há
formação de uma membrana inelástica que aprisiona o parênquima pulmonar.
Com base nessa seqüência de eventos, torna-se possível classificar a reação
pleural em um processo infeccioso de três fases anatomopatológicas consecutivas;
fase aguda ou exudativa, inicial, caracterizada pela presença de derrame seroso;
fase fibrinopurulenta, caracterizada pelo acúmulo de polimorfonucleares, fibrina e
pus, com tendência à formação de lojas, aderências e septações pleurais, e fase
crônica ou de organização, caracterizada pela proliferação de fibroblastos e
formação de membrana encarcerante do parênquima pulmonar.
3.2 FISIOPATOLOGIA
Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11, descrevem que o acúmulo de ar ou
líquido (sangue, pus) no espaço pleural estabelece a perda da negatividade pleural. A
seqüência de eventos, após a perda da negatividade, estará relacionada ao montante
de ar ou líquido acumulados na cavidade: quantidades mínimas podem se expressar
através de dor ou discreto desconforto torácico, quantidades moderadas podem
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
22
acarretar atelectasia pulmonar parcial ou total, causando hipoventilação e hipoxemia.
Na dependência da velocidade de acúmulo e do montante de ar ou líquido, poderá
ocorrer desvio do mediastino e dos vasos da base do coração, queda no retorno
venoso, colapso cardiocirculatório e a morte do paciente.
Exceção aos casos de hemotórax, o acúmulo de líquido costuma ser gradativo,
possibilitando adaptações das pressões intratorácicas e maior tolerância por parte do
paciente.
Considerando os fatores que alteram a reabsorção do líquido pleural, segundo
Luiz C.C. Silva1 os principais mecanismos são:
− aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar:
pode ocorrer na
insuficiência cardíaca e o acumulo de líquido deve-se a elevação da pressão
capilar pulmonar.
− diminuição da pressão oncótica na microcirculação: o que leva a este
derrame pleural que geralmente é de pequena extensão, é a hipoproteinemia.
Porém, se houver patologias associadas o derrame poderá ser em maior
quantidade.
− aumento da permeabilidade da microcirculação: é comum em processos
inflamatórios. Nas pneumonias a drenagem linfática poderá ser prejudicada
pelo acúmulo de fibrina, restos celulares e edema mesotelial.
− distúrbio
da
drenagem
linfática
do
espaço
pleural:
encontrados
freqüentemente em derrames neoplásicos. Pode ocorrer derrame pleural por
obstrução da corrente linfática, desde o estoma até os linfonodos mediastinais.
Grandes derrames só irão ocorrer quando houver grande envolvimento do
sistema linfático.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
23
− passagem transdiafragmática de líquido peritonial: neste tipo de derrame
pleural ocorre a passagem de líquido do espaço peritonial para o pleural devido
ao gradiente de pressão transdiafragmática. As patologias que dão origem a
esta modalidade de derrame são: a cirrose, pancreatite e Síndrome de Meigs.
− diminuição da pressão no espaço pleural: apesar de dificilmente causar
derrame pleural, pode ocorrer na atelectasia.
3.3 DIAGNÓSTICO
3.3.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Jennifer A. Pryor e Barbara A. Webber12, descrevem que, os sinais e sintomas
geralmente sugerem um rápido ou repentino surgimento da doença. A dor pode estar
associada primeiramente com respiração profunda e a tosse. E, por fim, pode estar
presente na respiração calma, durante a falta de ar, ou dispnéia. Se o paciente estiver
imóvel, pode-se desenvolver atelectasia no tecido pulmonar adjacente à efusão
pleural.
A ausculta muitas vezes mostra sons respiratórios reduzidos ou ausentes na
efusão e sons respiratórios tubulares ou brônquicos podem ser ouvidos a um ou dois
espaços intercostais acima do nível do líquido e uma fricção pleural característica
descrita como um som de rangido como se dois pedaços de couro áspero fossem
friccionados um no outro.
Luiz C. C. Silva1 coloca que, ao exame físico constatam-se anormalidades
proporcionais ao volume do derrame: macicez, diminuição do frêmito toracovocal e do
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
24
murmúrio vesicular. O atrito pleural pode ser audível em casos de exsudato fibrinoso
com a presença de mínima quantidade de líquido. É mais intenso durante a inspiração
e não há modificação auscultatória após exercício e tosse.
3.3.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
Na prática, o recurso mais utilizado para confirmar a presença de derrame
pleural, é o estudo radiológico do tórax. No adulto é necessário haver, no mínimo, 500
a 600 mL de líquido para aparecer imagem radiológica no seio costofrênico. Como
regra, não haverá dificuldade se o líquido tiver a distribuição habitual, situação em que
a
opacidade
correspondente
ao
derrame
terá
as
seguintes
características:
homogênea, oblitera o seio costofrênico, distribui-se no contorno do pulmão e o
comprime. Se tiver grande volume, poderá deslocar o mediastino contralateralmente.
Dados estritamente radiológicos de importância para o diagnóstico:
− lado: geralmente os derrames são unilaterais. A bilateralidade é mais
freqüente em transudato, tuberculose, neoplasia e colagenose.
− extensão: derrames volumosos na maioria das vezes são neoplásicos,
porém têm-se encontrado casos de derrame hipertensivo de origem
inflamatória, principalmente tuberculosa.
− livre ou septado: os derrames septados são menos freqüentes, geralmente
sendo devidos a exsudato infeccioso; é importante seu reconhecimento para a
orientação radiológica do local de punção e drenagem, quando indicados.
− presença de outras alterações intra ou extratorácicas: lesões de tuberculose
pulmonar, massa intratorácica com caracteres de malignidade, consolidação
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
25
pneumônica, adenomegalias mediastinais, lesões osteolíticas, entre outras,
podem ser fundamentais para o diagnóstico diferencial.
− O Derrame pode Acumular-se em Locais pouco Usuais: Em torno do lobo
inferior simulando consolidação, região paramediastinal, cissura interlobar,
paralelo a borda cardíaca simulando cardiomegalia. Esta distribuição atípica
deve-se à obliteração parcial do espaço pleural por processos inflamatórios ou
por alteração da complacência do parênquima pulmonar adjacente, o que força
o líquido a acumular-se em áreas menos comprometidas.
3.3.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
3.3.3.1 PROTEÍNAS
Como regra, a taxa protéica no líquido pleural permite distinguir entre
transudato (≤ 2,5 g%) e exsudato (≥ 3,0 g%), seu valor depende basicamente de dois
fatores: (1) do nível das proteínas séricas e (2) da maior ou menor facilidade de
passagem pela barreira pleurocapilar. Portanto, em situações de anormalidade da
taxa de proteínas séricas, deve ser feita a devida correção para a validade do critério
de distinção. Light (1994) concluiu que a presença de uma das seguintes
características indica exsudato:
1. Relação proteína do líquido/proteína sérica maior que 0,5.
2. Relação desidrogenase láctica (DHL) do líquido/DHL sérica maior que 0,6.
3. DHL no líquido pleural acima de 200 UI/l.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
26
Além de ser útil na distinção entre transudato e exsudato, a taxa protéica pode
auxiliar também no diagnóstico diferencial entre os derrames tuberculoso (DPT) e
neoplásico (DPN), pois costuma ser mais elevada no primeiro.
3.3.3.2 DESIDROGENASE LÁCTICA
É mais um dos critérios de distinção entre transudato e exsudato. No
tromboembolismo pulmonar pode estar elevada, mas, mesmo nesta situação, é um
teste de baixa sensibilidade e especificidade. Aparentemente a DHL eleva-se quando
há muitas células degeneradas ou restos de tecidos no líquido pleural, o que torna
insegura sua valorização para o diagnóstico diferencial.
3.3.3.3 GLICOSE
Em condições normais, a concentração de glicose no líquido pleural tem um
valor situado entre 50% e 100% da concentração sérica. Anteriormente, acreditava-se
que a taxa de glicose no líquido costumava ser baixa nos derrames tuberculoso e
neoplásico. Hoje se sabe que a taxa de glicose no líquido pleural pode ser reduzida
por dois mecanismos: 1) alto conteúdo de células livres no líquido, que determina
glicólise aumentada e 2) espassamento pleural, que leva a uma diminuição da difusão
da glicose plasmática para o espaço pleural. Comprovou-se que na artrite reumatóide
a taxa de glicose é baixa no líquido pleural devido a distúrbio na passagem sanguepleura. Acredita-se que isto ocorra por interferência da própria doença em uma ou
mais enzimas responsáveis pelo transporte de carboidratos na membrana celular.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
27
Atualmente, a dosagem de glicose tem valor diagnóstico principalmente em
duas situações: 1) casos de artrite reumatóide e 2) derrame associado à pneumonia,
em que sua taxa sendo extremamente baixa pode ser indício de evolução para
empiema.
3.3.3.4 DENSIDADE
A densidade nada acrescenta na investigação dos derrames pleurais.
3.3.3.5 pH
Sua determinação pode ser útil nos casos de derrame pleural associado à
pneumonia em que o líquido não seja purulento. Admite-se que se o pH estiver abaixo
de 7,2 o líquido deve ser drenado imediatamente, pois evoluirá para empiema.
Também, na vigência de fístula esofagopleural tem importância um pH baixo (ao redor
de 6,0), associado a uma taxa elevada de amilase. Atende-se para os seguintes
dados referentes ao pH do líquido pleural:
− o líquido deve ser obtido em condições de anaerobiose e conservado em
gelo durante o transporte ao laboratório.
− o pH do líquido depende do pH arterial. Portanto, se o paciente estiver em
acidose sistêmica, este critério não terá valor para indicação de drenagem.
− só tem utilidade como critério para decidir sobre a indicação de drenagem
torácica no derrames parapneumônicos.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
28
3.3.3.6 EXAME BACTERIOLÓGICO – EXAME DIRETO (GRAM) E CULTURA
Devem ser feitos nos derrames infecciosos. A cultura em anaerobiose está
indicada quando o líquido tiver odor fétido, devido à suspeita de infecção por germes
anaeróbios.
A pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), por si só faz o diagnóstico
de tuberculose, porém o bacilo é raramente encontrado no líquido pleural, devido a
dois fatores principais: diluição do pequeno número de germes em grande volume de
líquido e englobamento pelos macrófagos.
A cultura do bacilo tuberculoso fornece maior positividade que o exame direto.
Pesquisa de fungos deve ser realizada excepcionalmente em casos selecionados,
dada a raridade com que as micoses do nosso meio comprometem a pleura.
3.3.3.7 EXAME CITOLÓGICO DIFERENCIAL
Interessa
particularmente
a
proporção
relativa
entre
linfócitos,
neutrófilos,
eosinófilos e células mesoteliais. Há algumas situações em que a contagem
diferencial tem importância no diagnóstico diferencial.
1. Linfocitose: (acima de 75%) Associada à ausência ou raridade de células
mesoteliais, ocorre freqüentemente na tuberculose. Linfocitose pode ocorrer em
inúmeras situações, além da tuberculose, como por exemplo, carcinomas,
linfomas, sarcoidose e derrames crônicos.
2. Neutrofilia: Pode ocorrer nos exsudatos infecciosos e na fase inicial do derrame
tuberculoso. Sugere fortemente infecção bacteriana por germes piogênicos:
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
29
derrame parapneumônico ou empiema. Freqüentemente, estes derrames têm
aspecto purulento e pH muito baixo. No empiema a contagem de neutrófilos chega
a 100% e muitos deles são picnóticos ou degenerados (piócitos).
3. Eosinofilia: Indica a presença contemporânea ou prévia de sangue na cavidade
pleural,
ou
existência
de
alterações
imunoalérgicas.
A
determinação
de
subpopulações linfocitárias nos derrames pleurais não tem utilidade clínica a não
ser quando há suspeita de leucose linfocítica crônica e linfoma, pois estes
derrames freqüentemente demonstram a predominância de linfócitos B. Pode estar
associada a trauma torácico.
3.3.3.8 OUTROS
A punção-biópsia pleural contribui efetivamente para o diagnóstico quando o
objetivo é pesquisar por neoplasia maligna ou tuberculose, já que nas outras causas
de derrame não se costuma obter dados específicos pelo exame histopatológico.
Em casos selecionados, nos quais o diagnóstico não pode ser estabelecido
pela toracocentese e pela biópsia por punção pleural, indica-se pleuroscopia.
Raramente, chega-se a toracotomia para esclarecimento do diagnóstico.
3.4 INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL
Segundo Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11, os fatores que indicam a
drenagem de tórax são:
§
Pneumotórax:
− Espontâneo,
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
30
− Traumático,
− Iatrogênico.
§
Derrame Pleural:
− Hemotórax,
− Empiema,
− Quilotórax.
§
Pós-Operatório:
− Cirurgia Torácica,
− Cirurgia Cardíaca.
3.5 CONTRA-INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL
De maneira geral não há contra-indicação à drenagem torácica. Dagoberto V.
Godoy e
Darcy R. P. Filho11, apenas pedem cautela para os casos de discrasia
sangüínea ou em pacientes recebendo anticoagulantes. Aderências
multiloculações
podem
requerer
procedimentos
associados,
como
pleurais ou
pequenas
toracotomias acessórias ou pleuroscopia.
Derrames pleurais secundários à cirrose hepática devem ter a drenagem
pleural contemporizada ao máximo, para que se evite depleção do paciente pela
conseqüente perda protéica e eletrolítica.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
31
3.6 DERRAME PLEURAL NA PNEUMONIA
A pneumonia penumocócica associa-se a derrame pelural em até 60% dos
casos sem que, na maioria deste, isto exija mudança na conduta terapêutica; como
regra, o derrame é asséptico, de pequeno volume, regredindo rapidamente.
Geralmente o quadro pneumônico, clínico e radiológico é bem definido, é o que
afirma Luiz C.C. Silva1 em sua obra, Compêndio de Pneumologia.
A pneumonia estafilocócica é a que mais vezes atinge a pleura, particularmente
na
infância.
A
conseqüência
pode
ser
derrame
asséptico,
empiema
ou
piopneumotórax. As pneumonias por germes gram-negativos freqüentemente se
associam a empiema pleural.
Como regra, deve ser puncionado o derrame associado a pneumonia: se for
purulento, deve ser drenado imediatamente; se não for purulento, um pH abaixo de
7,2 e uma glicose muito baixa exigirão a mesma atitude, pois freqüentemente evolui
para empiema. Critérios para drenar:
− líquido purulento;
− presença de microrganismos (gram);
− pH inferior a 7,0;
− glicose inferior a 40 mg%;
− derrame de grande volume, mesmo sem as características citadas acima.
Na obra Doenças Pulmonares de Affonso B. Tarantino5 encontramos que um
derrame parapneumônico muitas vezes pode ser confundido. 1) Na fase exsudativa, a
permeabilidade capilar do folheto visceral aumenta devido à presença de líquido
estéril na cavidade pleural. Nessa ocasião, o uso correto de antibiótico resolve tanto o
processo parenquimatoso como o pleural. 2) Na fase fibropurulenta que se caracteriza
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
32
pela infecção que se superajunta ao líquido estéril; o exsudato aumenta de volume
surgindo um grande número de polimorfonucleares, bactérias e restos celulares.
Nesse momento forma-se uma lâmina de fibrina que reveste a área comprometida
tanto no folheto visceral como no parietal, provocando os derrames encistados. 3) Na
última fase o derrame se organiza pelo crescimento de fibroblastos e deposição de
substância colágena, resultando em uma formação fibrosa que reveste ambos os
folhetos pleurais.
A transformação de um derrame parapneumônico em empiema é motivo de
grande preocupação por agravar o prognóstico e exigir tratamento cirúrgico. Por este
motivo, esforços devem se dirigidos para que o diagnóstico seja precoce. Caso a
evolução clínica do processo pneumônico não seja satisfatória, justifica-se uma
radiografia em decúbito lateral com raios horizontais. Quando a distância da parede
torácica até o nível superior da imagem do líquido ultrapassar 1 cm, a toracocentese
exploradora estará indicada. Mesmo em se tratando de líquido serofibrinoso, a glicose
abaixo de 30 mg/dL, pH abaixo de 7,2 e DHL acima de 1.000 U/L sugerem
contaminação, justificando a drenagem pleural.
Desde que tais resultados se confirmem ou se tornem mais alterados, sugerem
evolução do processo para a cronicidade. Amostras do líquido serão enviadas ao
laboratório para a coloração Gram, cultura e antibiograma. Este conceito foi
introduzido por Light, que adotou o nome de empiema bioquímico para caracterizar
este derrame.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
33
3.7 TÉCNICA CIRÚRGICA DA DRENAGEM PLEURAL
Dagoberto V. Godoy e
Darcy R. P. Filho11, na obra Condutas Clínicas em
Cirurgia Torácica, explicam que estabelecida a indicação, escolhido o calibre do
dreno, faz-se necessário o domínio da técnica cirúrgica utilizada para a drenagem
torácica. Basicamente duas formas de drenagem são utilizadas em cirurgia torácica:
introdução dos drenos ao final da toracotomia (drenagem cirúrgica) ou através da
passagem transcutânea do dreno pleural.
Dois drenos pleurais, anterior e posterior, introduzidos dois ou três espaços
intercostais abaixo da toracotomia de acesso, representam a escolha da maioria dos
cirurgiões como opção de drenagem torácica cirúrgica. Essa técnica é facilitada pela
exposição da cavidade e possibilidade de colocação dos drenos sob visão direta,
evitando dobras e posicionamentos equivocados. A conexão ao sistema de drenagem
é feita através da interposição de um “Y” entre os drenos e o frasco com a interface
líquida.
Maiores
transcutânea
cuidados,
sob
no
anestesia
entanto,
local,
serão
que
é
necessários
utilizada
com
para
a
drenagem
derrame
pleural
parapneumônico. Cuidados que iniciam pela necessidade da presença da radiografia
de tórax atualizada na sala cirúrgica. A explicação ao paciente, na medida do possível
sobre todos os passos do procedimento, transmite segurança e tranqüilidade que
terão contribuição relevante no período pós-operatório, em que a cooperação do
doente é essencial para a reexpansão pulmonar.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
34
A escolha sobre o local de drenagem recai preferentemente sobre o 3º ou 4º
espaço intercostal, junto à linha axilar média. As vantagens atribuídas a este local
estão relacionadas principalmente à prevenção de introdução inadvertida do dreno no
espaço abdominal e à facilidade técnica da passagem do dreno, visto não haver
musculatura torácica no trajeto. Secundariamente pode-se considerar o aspecto
estético da incisão. (Figura 4)
Figura 4. Locais de drenagem pleural.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
Paciente deverá estar em decúbito dorsal e receberá anestesia tópica com
lidocaína 1% sem vasoconstritor. A incisão cutânea de extensão próxima ao calibre do
dreno é localizada sobre a borda superior da costela. A seguir é feita a divulsão da
musculatura intercostal, junto à borda superior da costela inferior, com pinça
hemostática tipo Kelly, criando o trajeto para a introdução do dreno no espaço pleural,
evitando a lesão do feixe vasculonervoso localizado na borda inferior da costela.
(Figura 5)
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
35
Figura 5. Drenagem pleural. Divulsão do espaço intercostal, preservando o feixe
vasculo-nervoso.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
O dreno é acoplado à pinça hemostática e introduzindo no sentido cranial
(Figura 6). Somente após certificado que o dreno está dentro do espaço pleural é
liberado o acoplamento com a pinça e introduzido até uma distância próxima ao ápice
da cavidade. A fixação do dreno é feita através de um ponto em “U”, enlaçando-o e
permitindo, após sua retirada, o fechamento da incisão cutânea.
Ao final da drenagem o paciente é submetido ao bloqueio intercostal com
bupivacaína 0,5% com vasoconstritor. Rotineiramente, 6 a 12 horas após a drenagem
solicita-se um radiograma simples de tórax para controle.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
36
Figura 6. Drenagem pleural. Introdução do dreno acoplado à pinça de Kelly.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
3.8 SISTEMAS DE DRENAGEM PLEURAL
Na mesma obra de Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11 citada acima,
encontramos que dois, são os sistemas básicos de drenagem das coleções
hidroaéreas do espaço pleural: sistemas de drenagem simples (passiva) e sistema de
drenagem sob aspiração contínua (ativa).
3.8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PASSIVA
Este sistema é unidirecional, no qual o ar ou líquido são retirados da cavidade
durante simples manobras de pressão positiva impostas pela tosse, expiração forçada
e a fisioterapia respiratória, sendo impedidos de retornar ao espaço pleural durante a
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
37
inspiração, por força da barreira líquida interposta entre a cavidade pleural e o meio
ambiente. (Figura 7)
Figura 7. Drenagem passiva. Variações de pressão durante a inspiração e a
expiração.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
Na ausência de fístula pleural de alto débito ou sangramento ativo, este sistema
simples de drenagem costuma ser extremamente eficaz. Um mesmo frasco de
drenagem poderá servir, simultaneamente, como coletor do conteúdo líquido e manter
a interface líquida. Através de uma conexão de látex, o dreno é acoplado a uma haste
que mergulha na coluna líquida, em extensão aproximada de 2 cm, suficientes para
permitir a drenagem das coleções e impedir a ação da pressão atmosférica por sobre
o espaço pleural.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
38
O uso de um único frasco de drenagem pode ser prejudicado pelo montante de
líquido drenado. Quanto maior a coluna líquida em que a haste está mergulhada,
maior a resistência à drenagem da coleções pleurais. Para resolver este problema,
agrega-se um segundo frasco, interposto entre o paciente e o frasco de drenagem
com a interface líquida, permitindo a drenagem das coleções sem interferência na
resistência da coluna líquida. Sistema de drenagem de dois frascos. (Figura 8)
Figura 8. Drenagem passiva. Sistema de frasco coletor.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
3.8.2 DRENAGEM ATIVA OU SOB ASPIRAÇÃO CONTÍNUA
Poderá ser necessária para manter a expansão pulmonar e a total ocupação do
espaço pleural. Indicada principalmente em duas situações: fístulas broncopleurais de
alto débito, que excedam a capacidade da drenagem passiva com o uso da interface
líquida, ou quando ocorre queda na complacência pulmonar, gerando pressões
negativas intrapleurais mais expressivas. A efetividade do sistema de aspiração
contínua, é obtida quando impõem-se pressões negativas de aproximadamente – 20
cm H2O, visto que até 15 cm H2O é possível ser atingido pela inspiração forçada.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
39
Borbulhar e turbulência excessiva da coluna líquida indicam nível pressórico muito
alto, particularmente em paciente sem fístula broncopleural, o que pode acarretar
dano pulmonar.
Montado com dois ou três frascos, na dependência da quantidade de líquido
drenado para o frasco conectado ao dreno pleural, como já mencionado
anteriormente, o sistema de drenagem ativa é acionado através da conexão de um
dos frascos a uma fonte geradora de vácuo (ex., aspiradores de parede). A figura 9,
exemplifica o esquema de drenagem sob aspiração contínua. O frasco conectado ao
aspirador deverá ter uma tampa de três vias. A haste central da tampa mergulha
dentro de uma coluna líquida e a profundidade da haste mergulhada, em cm H2O,
expressa a força constante de aspiração aplicada ao sistema de drenagem. Desta
forma, ao mergulhar 15 cm de haste na coluna líquida, estaremos impondo uma força
de aspiração constante de 15 cm H2O, quando mergulhado 20 cm, de 20 cm H2O.
Como visto anteriormente, pressões de 15 cm H2O podem ser obtidas com a
inspiração profunda, evidenciando que hastes com menos de 15 cm de profundidade
na coluna líquido tendem a ser ineficazes.
As outras duas vias do frasco válvula são conectadas ao sistema de aspiração
e ao frasco contendo a interface líquida ligada diretamente ao paciente, de maneira a
criar um sistema fechado, hermético ao meio externo. Na eventualidade de ocorrer
interrupção de fonte geradora de vácuo, os frascos devem ser imediatamente
desacoplados, mantendo-se somente o frasco com a drenagem simples conectado ao
paciente. A não observação desta intercorrência impõe risco significativos pela
instalação de níveis proibitivos de pressão positiva intrapleural.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
40
Figura 9. Drenagem ativa (aspiração contínua). Sistema de três frascos.
FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:
bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia
torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.
3.9 RETIRADA DOS DRENOS PLEURAIS
Ainda na mesma obra de Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11, descrevem
que a retirada do dreno pleural deve ser efetuada quando, tiver cumprido sua função.
Restabelecida a expansão pulmonar, verificada através de radiografia de tórax, e
retomados os índices fisiológicos de pressão negativa intrapleural; ausência de fuga
aérea por mais de 24 horas, na vigência de dreno pérvio; líquido claro e débito inferior
a 200 mL por 24 horas, representam os critérios essenciais à retirada dos drenos
pleurais. O clampeamento temporário (12-24 horas) antecedendo a retirada
inadvertida e necessidade de nova drenagem, tem sido preconizado por alguns
autores, mas sua prática não é consensual.
O ato de retirar o dreno deve ser orientado pelo risco de entrada de ar para o
espaço pleural, quando não obedecido os cuidados de hermeticidade do orifício de
drenagem após a saída do dreno. Retirar o dreno na inspiração profunda ou na
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
41
expiração forçada com manobra de valsalva não parece apresentar vantagem sobre a
outra técnica. De concreto permanece o cuidado quanto a analgesia do ato,
esclarecimento ao paciente sobre o procedimento e a prevenção de entrada de ar no
espaço pleural. Alguns médicos preconizam a colocação de duas camadas de gaze,
uma abaixo e outra acima do dreno, junto à incisão cutânea, de maneira a encobri-lo,
o que permite a vedação do orifício de drenagem até que se possa efetuar a
amarração do ponto em “U” anteriormente responsável pela fixação do dreno.
Na dependência da evolução clínica, 12 a 24 horas após a retirada, realiza-se
radiograma de controle para atestar definitivamente o controle das alterações pleurais
prévias.
3.10 COMPLICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL
A existência de complicações relacionadas à drenagem transoperatória da
cavidade torácica é pouco freqüente, o que se explica pela facilidade de introdução
dos drenos sob visão direta, adequado posicionamento e menor risco de lesão
vasculonervosa intercostal. No entanto, a drenagem transparietal, apresenta maior
chance de complicações. Possíveis complicações atribuídas à drenagem torácica:
§
Dreno Posicionado na Parede Torácica: O radiograma de tórax permite este
diagnóstico e a indicação de pronta correção através de nova drenagem.
§
Dreno Parcialmente Introduzido no Espaço Pleural: O radiograma de tórax
permite este diagnóstico e a indicação de pronta correção através de nova drenagem.
§
Dreno Introduzido no Espaço Peritoneal: É necessária a verificação da
coexistência de lesões intra-abdominais associadas (ex., fígado, baço)
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
42
§
Lesões de Estruturas Intratorácicas: Pulmão, diafragma e coração.
§
Hemorragia: Cutânea, Intercostal e Veia Cava. Hemorragias decorrentes de vasos
cutâneos são controladas pelo próprio ponto de fixação do dreno, com manobras de
compressão digital ou curativos compressivos. Drenos pleurais de pequeno calibre,
ao serem utilizados para drenagem de hemotórax, acarretam dificuldade para
evacuação do sangue, possibilitando a formação de coágulos, que por sua vez
impedem a expansão pulmonar, criando o cenário ideal para a instalação do empiema
pleural, nesta situação denominado hemotórax infectado.
§
Enfisema Subcutâneo: Em pacientes submetidos à drenagem torácica pode estar
associado a uma de três situações:
− Dreno mal posicionado, freqüentemente com algum orifício lateral localizado no
espaço subcutâneo.
− Oclusão do dreno ou das conexões, em pacientes com fístula broncopleural.
− Fístula broncopleural de alto débito, com drenagem ineficiente pelo sistema
empregado.
§
Empiema: Infecções do espaço pleural atribuídas à drenagem torácica estão
relacionadas a um fator principal: não expansão ou expansibilidade pulmonar parcial.
A não ocupação de todo o espaço pleural após drenagem propicia um meio de cultura
ideal para o desenvolvimento de infecções – sangue, linfa e temperatura de 37º C,
somando-se à presença de um corpo estranho a permitir o contato entre a superfície
cutânea e a cavidade pleural. A pronta correção dos fatores que estariam impedindo a
expansão pulmonar e ocupação do espaço pleural ou mesmo a retirada do dreno,
quando atestada sua ineficácia, representam as orientações preconizadas para esta
situação.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
§
43
Edema Pulmonar de Reexpansão: É pouco freqüente mas pode estar associada
a hipotensão e morte do paciente em 20% dos casos. O edema ocorre quando o
conteúdo intracavitário é drenado muito rapidamente em pacientes que tenham
permanecido com o pulmão colapsado por mais de três dias. A provável patogênese
desta complicação baseia-se no aumento da permeabilidade da vasculatura pulmonar.
A rápida reexpansão pulmonar aumenta a pressão e o fluxo nos capilares
pulmonares, permitindo a transposição de líquido através das membranas capilares
pulmonares, permitindo a transposição de líquido através das membranas: capilar e
alveolar e um maior contingente deste líquido para o espaço intersticial. Uma outra
hipótese estaria relacionada ao dano das membranas alveolar e capilar, devido à
presença de radicais livres de oxigênio encontrados quando zonas hipóxicas do
pulmão são reventiladas e reperfundidas. As manifestações clínicas incluem tosse
irritativa paroxística, dor torácica e edema pulmonar unilateral ao radiograma de tórax.
Oxigênio, diuréticos e analgésicos estão indicados para controle dos sintomas. No
entanto, a orientação para drenagem intermitente (alterando abertura e fechamento do
dreno) dos grandes derrames, nos casos de pulmão colabado por mais de três dias,
representa medida preventiva efetiva e orienta o manuseio da drenagem torácica
nesta situação.
§
Nevralgia Intercostal: Compressão ou lesão direta do nervo intercostal podem
acarretar sintomas de dor pós-drenagem, que persistem durante a permanência do
dreno e após alguns dias de sua retirada. Conhecida como Nevralgia Intercostal,
costuma ser passageira e ceder à utilização de bloqueios com anestésico tópico ou
mesmo ao uso de analgésicos não opióides e antiinflamatórios.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
44
4. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
PLEURAL PARAPNEUMÔNICO
PARA
DERRAME
O tratamento fisioterapêutico para crianças com disfunção respiratória é
indispensável, para sua correta e precoce recuperação. No um estudo de Scot Irwin e
Jan
Tecklin13 comprovam através de dados estatísticos, que o tratamento
fisioterapêutico não só recupera mais rapidamente a criança, retirando-a do ambiente
hospitalar precocemente, como salva suas vidas. Estes autores citam o caso dos
pacientes com fibrose cística nascidos hoje, têm chances muito maiores de
ultrapassar os vinte anos do que os de anos anteriores.
É verdade que as crianças são diferentes dos adultos não apenas
anatomicamente e fisiologicamente, mas também no aspecto emocional. Portanto, o
tratamento
da
criança
deve
levar
em
conta
o
crescimento
dos
sistemas
cardiopulmonar, esquelético e neurológico. Além das diferenças de proporção de vias
aéreas com o adulto, o que predispõem a infecções, até os 12 ou 13 anos de idade, a
criança pode não apresentar os poros de Kohn e os canais de Lambert até os 6 ou 8
anos. Como os dois são responsáveis pela ventilação colateral, e esta fica
comprometida, a criança tem mais riscos de desenvolver atelectasias e infecções
respiratórias. Sabe-se também, que o tecido elástico pode não se desenvolver nas
paredes do alvéolo até depois da adolescência. Além da complacência pulmonar
diminuída nas crianças, a complacência da parede torácica está aumentada. Esta
disparidade pode levar a graves retrações torácicas e perda da vantagem mecânica
da musculatura inspiratória durante a angústia respiratória.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
45
Devido a tudo que foi descrito acima, a criança possui alto risco para adquirir
disfunções pulmonares. A fisioterapia respiratória para o paciente pediátrico é portanto
um desafio no tratamento e na prevenção de complicações pulmonares.
Segundo Jennifer A. Pryor e Barbara A. Webber12 o terapeuta pode ajudar na
reabsorção da efusão, fazendo com que o paciente se concentre na respiração
profunda e encorajando o aumento da mobilidade de tronco e cintura escapular. A
pressão exercida sobre o líquido por uma respiração profunda forçada dispersa o
líquido pela membrana pleural o tanto quanto possível, processo que ajuda na
reabsorção.
Na maioria dos casos, os sons respiratórios melhoram à medida que o líquido
flui para o lado dependente do espaço pleural. Pode-se ouvir estertores se houver
atelectasia. A atelectasia deve ser tratada apropriadamente, e o paciente encorajado a
mudar de decúbito a cada 2 horas e andar, se permitido.
Além de preocupar-se em melhorar a mecânica ventilatória do paciente
(utilizando padrões ventilatórios e incetivadores), manter e melhorar a higiene
brônquica e aumentar a drenagem do líquido pleural, o terapeuta não poderá
esquecer da parte motora. Como é uma criança e está fora do seu ambiente, poderá
sofrer perdas no desenvolvimento motor normal. É aí que o fisioterapeuta deve ofertar
para a criança de acordo com a idade, jogos ou brincadeiras que ligado com o objetivo
da terapia respiratória, não deixe que esta criança sofra retardo no desenvolvimento
normal.
Outra alteração muitas vezes importante, que acontece com as crianças
portadoras de derrame pleural com dreno de tórax, é a postura antálgica. Devido a
algia causada pelo dreno de tórax, ela apresenta, acaba tendo como reação de
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
46
proteção o desvio da coluna vertebral e de todo o tronco para o lado do dreno,
podendo levar a instalação de escoliose e outras alterações posturais. O terapeuta
deve insistir nos exercícios de tronco e membros superiores. Poderá utilizar atividades
lúdicas com bola e/ou bastão. Estes exercícios também auxiliam na reexpansão
pulmonar.
A deambulação (quando o paciente possuir idade suficiente) também deverá
ser incentivada, a fim de retirar a criança do leito. A caminhada poderá ser associada
com exercícios de padrões ventilatórios.
No caso da criança referir forte algia no local do dreno, poderá ser utilizado o
TENS, com o objetivo de promover analgesia.
4.1 TÉCNICA DE HIGIENE BRÔNQUICA
4.1.1 TOSSE
A tosse apropriada envolve uma tosse em dois estágios precedida de uma
completa e profunda inspiração diafragmática (quanto maior a inspiração, maior a
tosse). A primeira tosse mobiliza as secreções, a segunda facilita a expectoração.
Os narcóticos não alteram significativamente a capacidade do paciente de
aumentar a pressão da tosse e não são eficazes na diminuição da dor associada com
a tosse.
A tosse associada com drenagem brônquica, vibração e percussão aceleram a
limpeza pulmonar central e periférica. Como a tosse mobiliza o tórax e provoca dor,
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
47
ensina-se a dar um apoio para a incisão. Os pacientes são instruídos a aplicar
pressão sobre a incisão usando travesseiros ou as mãos.
Pacientes com toracotomia conseguem aumentar a pressão da tosse quando
sentados, recebem pressão manual adicional no tórax feita pelo terapeuta. A
compressão da parede abdominal com o paciente em supino também é eficaz.
Pacientes com dificuldade de tossir mesmo com as técnicas de suporte podem
aprender o huffing. Essa manobra é reconhecida como um método menos doloroso de
limpeza das vias aéreas.
O huffing é um tipo eficaz de mobilização de secreções e pode ser usado como
uma alternativa em pacientes que apresentam tosse ineficaz. A técnica é realizada da
seguinte forma: primeiro o paciente faz uma inspiração lenta, após começa a expirar
lentamente e por fim efetua uma expiração brusca para tossir. A língua deve estar no
céu da boca atrás dos dentes, a boca deve ficar posicionada como se fosse
pronunciar a letra “O” e a glote deve permanecer aberta.
4.2 TÉCNICAS DE EXPANSÃO PULMONAR
4.2.1 DESCOMPRESSÃO TORÁCICA
Técnica manual passiva na qual é realizada uma compressão lenta na fase
expiratória no gradil costal. Em 1/3 da fase inspiratória a pressão é liberada
abruptamente gerando uma diferença de pressão intratorácia, que aumenta o volume
pulmonar levando à expansão alveolar .
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
48
4.2.2 PADRÕES VENTILATÓRIOS
4.2.2.1. RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA
Segundo Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11 os exercícios respiratórios
diafragmáticos procuram maximizar o desempenho ventilatório e diminuir o trabalho
respiratório.
Scot Irwin e Jan Tecklin13 dizem que as manobras para aumentar a excursão
diafragmática, são realizadas com:
− a cabeça rebaixada: para aumentar o movimento diafragmático e como
conseqüência aumentar a saturação de oxigênio.
− inclinação para frente com os cotovelos apoiados: a fim de relaxar a
musculatura acessória da respiração e usar voluntariamente os músculos
abdominais. Portanto, se a excursão diafragmática é aumentada, o volume
corrente aumenta e a ventilação minuto o acompanha.
A respiração diafragmática freqüentemente é realizada acompanhada da
técnica do freno-labial. Inicialmente faz-se uma inspiração lenta e progressiva, após
executa-se expiração lenta com os lábios semicerrados (freno-labial). Os lábios são
tencionados durante a expiração, provocando um estreitamento da via de saída do
fluxo aéreo ao nível da boca, provocando um prolongamento do tempo expiatório.
Durante esta manobra, o palato mole é elevado, resultando num fluxo aéreo nasal
igual a zero. A expiração com lábios semicerrados funciona porque reduz a freqüência
respiratória, fato que permite um aumento do volume de ar corrente, reduz a relação
entre espaço morto e volume de ar corrente e, assim, reduz a ventilação total por
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
49
minuto. Ao iniciar a respiração com lábios semicerrados, o paciente altera seu padrão
respiratório taquipnéico, o qual encontra-se sob o controle involuntário do centro
respiratório bulbar, para um padrão de freqüência mais lento, governado pela função
voluntária cortical. Outro fator que pode contribuir para a eficiência dos lábios
semicerrados é a manutenção de uma pressão positiva dentro da via aérea,
impedindo o colapso brônquico dinâmico que pode ocorre a expiração.
4.2.2.2 APNÉIA PÓS INSPIRATÓRIA
É um regime ventilatório no qual se incrementa consideravelmente o tempo de
apnéia pós-inspiratória, objetivando melhorar a difusão pulmonar e favorecer a
hematose, distribuindo melhor a ventilação pulmonar. É o que afirma Carlos A.
Azeredo14 em sua obra Fisioterapia Respiratória Moderna.
A inspiração deve ser nasal, lenta, suave e uniforme, até atingir a capacidade
inspiratória máxima, seguindo-se uma apnéia variável de 3 a 10 segundos, para
depois ocorrer a expiração oral lenta, contínuas em esforço, até atingir o volume de
reserva expiratório máximo. Não deve ser utilizado em pacientes que apresentem
incremento da resistência das vias aéreas.
4.2.2.3 INSPIRAÇÃO EM TEMPOS
Ainda na mesma obra de Carlos A. Azeredo14 encontramos que quando temos
um paciente estável e motivado a colaborar; o emprego de padrões de respiração com
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
50
a inspiração a grandes volumes pulmonares pode obter como resposta, uma eficiente
expansão pulmonar; impedindo o aparecimento de shunt intrapulmonar e atelectasia.
Os quadros de hipoxemia leve e moderada podem ser revertidos com um programa
de cinesioterapia.
O padrão de respiração com inspiração profunda pode ser realizado de várias
maneiras. O paciente pode atingir sua capacidade pulmonar total, adotando inspiração
fracionada ou em tempos: 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos.
O paciente irá inspirar em 2,3 ou 4 tempos até atingir a Capacidade Pulmonar
Total (CPT) e expirar lentamente até a sua Capacidade Residual Funcional (CRF).
4.2.2.4 EXPIRAÇÃO ABREVIADA
É um padrão ventilatório eminentemente expansivo proposto por Cuello et al.,
pelo qual é possível incrementar o volume de reserva inspiratório, a capacidade
residual funcional e a capacidade pulmonar total, favorecem ainda a dilatação
brônquica, diminuído o infiltrado intersticial e a congestão vascular pulmonar.
A expiração abreviada consiste em ciclos intermitentes de inspiração profunda,
intercalados com pequenas expirações. Primeiro o paciente inspira pelo nariz, suave e
profundamente. Em seguida, expira uma pequena quantidade de ar. Após volta a
inspirar profundamente a partir do término da primeira fase. Expira novamente uma
pequena quantidade de ar e por último volta a inspirar profundamente a partir do
término da segunda fase , expirando completamente.
Na expiração abreviada, a relação inspiração/expiração é igual a 3:1, razão
pela qual, mediante volumes de ar acumulativos, atingimos a reeducação da
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
51
capacidade total pulmonar, que é a soma dos volumes correntes de reserva
inspiratória, expiratória e residual. A técnica promove os efeitos pulmonares por meio
da expiração, a qual, por ser incompleta, faz com que a capacidade residual funcional
aumente, mantendo o alvéolo com um maior volume.
Pacientes debilitados e com restrição por dor podem encontrar dificuldades em
realizar a técnica. Em alguns casos, a inspiração profunda será aplicada como
complemento.
4.3 RECURSOS REEXPANSIVOS
4.3.1 EPAP – PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA
Trata-se de um sistema de demanda, no qual a fase inspiratória é realizada
sem nenhuma ajuda externa ou fluxo adicional. A inspiração é gerada por uma
pressão negativa subatmosférica e expiração realizada contra uma resistência,
tornando-a positiva ao seu final.
Carlos Alberto Azerdo15 afirma que a terapia com EPAP é a forma mais simples
de ofertar PEEP em respiração espontânea.
Os efeitos pulmonares são: aumento da capacidade residual funcional,
redistribuição da água extravascular pulmonar (congestão pulmonar), recrutamento
alveolar, aumento do volume de gás alveolar, melhora na relação V/Q e melhora da
complacência pulmonar. É o que nos coloca Marcus Vinicius Amaral16.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
52
O sistema é composto por uma válvula unidirecional acoplada a uma máscara
facial, sedo que no seu ramo expiratória é conectada uma forma qualquer de resistor
que determinará o nível de PEEP.
As contra-indicações são classificadas mais como relativas do que absolutas.
Podemos citar o enfisema pulmonar, hipotensão arterial sistêmica só é contraindicado o uso da PEEP se esta produzir pressão média intra torácica maior que a
pressão venosa central (PVC), para de certa forma diminuir o retorno venoso de forma
considerável. E também quando o paciente com derrame pleural, apresentar dreno de
tórax borbulhante.
Os
efeitos
colaterais
mais
comuns
são:
instabilidade
hemodinâmica;
barotrauma e acidose respiratória.
4.3.2 INCENTIVADORES RESPIRATÓRIOS
Também chamados de técnica de sustentação máxima da inspiração, tem
como objetivo a inspiração ativa máxima sustentada, por um determinado tempo.
Como adverte Marcus Vinicius Amaral17 a técnica de inspiração máxima
sustentada requer do paciente coordenação e cooperação, podendo ser altamente
prejudicial, quando feita sem uma orientação devida. Em resumo para alcançar a
capacidade vital (CV), o paciente deverá antes da inspiração forçada, expirar no
mínimo 6 segundos, mantendo seu ritmo respiratório regular, evitando efeitos
indesejáveis como: fadiga muscular e alcalose respiratória, podendo assim realizar a
terapia várias vezes ao dia. Existem duas modalidade de Incentivadores:
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
§
53
Incentivadores a Fluxo: Nesta modalidade poderá ocorrer fluxo turbulento inicial
e maior alteração no trabalho respiratório, alterando o padrão de ventilação
durante o exercício. A desvantagem é que ele é menos fisiológico, porém, a
vantagem é o seu custo baixo. São eles:
− Respiron,
− Triflo,
− Respirex,
− Inspirx.
§
Incentivadores a Volume: Esta modalidade é considerada mais fisiológica
porque, a variação da pressão pulmonar é lenta, possui menor velocidade de fluxo
aéreo, tempo inspiratório é prolongado e não aumenta o trabalho respiratório. A
desvantagem dos incentivadores a volume, é o valor de mercado maior que os
incentivadores a fluxo. São eles:
− Voldyne,
− AirEze,
− Coach.
Os Incentivadores são comumente indicados em pós-operatórios de cirurgia
torácica e abdominal alta. A terapia por inspirometria de incentivo vai promover um
aumento da capacidade pulmonar total, mantendo assim os pulmões insuflados e
prevenindo o aparecimento de unidades shunt.
A precaução a ser tomada em sua aplicação é em relação ao surgimento de
alcalose respiratória, aumento do volume minuto pelo aumento da freqüência
respiratória e fadiga muscular.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
54
5 METODOLOGIA
5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Este estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica, que serviu como
base para a realização do estudo epidemiológio deste trabalho.
5.2 ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS
Estudo retrospectivo realizado na Clínica Médica Pediátrica do Hospital
Universitário de Cascavel/PR (HUOPr), no período compreendido entre abril de 2003
e setembro de 2003. Os dados para preenchimento do protocolo foram obtidos a partir
de arquivos médicos (prontuários), que eram solicitados no SAME. Os prontuários
foram analisados um a um a fim de obter os seguintes dados: a) dados de
identificação: nome, idade, sexo, procedência; b) data da internação; c) data da alta;
d) resumo da história da doença atual e do exame físico; e) resumo dos
procedimentos diagnósticos e terapêuticos; f) diagnósticos principal e secundários; g)
condições do paciente ao receber alta. Foram aceitos os diagnósticos de doenças
respiratórias atribuídos ao paciente pelo médico responsável pela internação.
Para a análise de dados o protocolo incluiu as seguintes informações: a) causa
primária da internação; b) doenças associadas; c) duração da internação; d) duração
e dias em que a fisioterapia atuou; e) data da drenagem de tórax; f) quantidade de
dias em que o paciente permaneceu com o dreno de tórax; g) técnicas e recursos
aplicados pela fisioterapia; h) aspecto do líquido pleural drenado; i) total de líquido
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
55
pleural drenado; j) se houve perda ou deslocamento do dreno de tórax; k) exame
laboratorial do líquido pleural drenado.
Foi utilizada a ferramenta MINITAB versão 13, fornecido pelo laboratório de
estatística da UNIOESTE para cálculo das médias, desvios padrões e teste t (para
diferença entre as médias). Os dados são apresentados como média ± desvio padrão.
O nível de significância utilizado foi, α = 0,05.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
56
6 RESULTADOS
6.1 RESULTADO MÊS DE ABRIL – 2003
No mês de abril-2003, no Hospital Universitário de Cascavel/PR, foram
realizadas cento e quarenta e duas (142) internações. Destas, dezoito (18 – 13%)
foram para tratamento cirúrgico, trinta (30 – 21%) para tratamento ortopédico, nove
(09 – 6,3%) para tratamento neurológico, quatro (4 - 3%) prontuários não foram
analisados por não estarem no SAME e noventa e um (91 – 63%) para tratamento
clínico. Dentre estes foram por causa respiratória isolada ou associada a outras
patologias, sessenta e uma internações (61 – 42,9%). As patologias mais freqüentes
foram: BCP com 34 internações que compreendem 23,9% das internações totais
deste mês, BCP associado com Asma oito internações (5,6%), BCP associado com
Insuficiência Respiratória Aguda, Asma e Insuficiência Respiratória Aguda isoladas,
representaram cinco internações cada ou 3,5% do total. Outras patologias
respiratórias como Bronquite e Laringite obtiveram apenas uma internação neste mês.
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico dois casos (02 – 1,5%), com
idades de 3 e 9 anos, estes pacientes permaneceram internados em média doze (12)
dias, com o uso do dreno de tórax em média seis (06) dias, a quantidade de líquido
drenado foi em torno de 405 mL, o primeiro paciente citado não apresentou bactérias
em exame laboratorial e não foi encontrado no prontuário do segundo paciente exame
de líquido pleural. No período em que os pacientes permaneceram internados, a
fisioterapia foi atuante em média quatro (04) dias, utilizando como técnicas de
tratamento para o segundo paciente, a reexpansão pulmonar, fisioterapia motora
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
57
(alongamento de MMSS e deambulação) e tosse. No prontuário do primeiro paciente
a fisioterapia não descreveu as técnicas utilizadas, evoluindo apenas como fisioterapia
respiratória.
Dentre as outras patologias não respiratórias que tiveram internamento clínico,
representaram 20,4% restante das internações nesta modalidade ou 29 internações,
podemos citar: Causas renais doze internações, anemia apresentou quatro
internações, desnutrição com uma internação, causas gastrointestinais representaram
4 internações e outras causas como: otite (1), púrpura (1), AIDS (1), sepse (1), celulite
periorbitária (1), celulite de face (2) e insuficiência cardíaca (1).
6.2 RESULTADO MÊS DE MAIO – 2003
No mês de maio-2003, no HU, foram realizadas cento e trinta e duas (132)
internações. Destas, dezessete (17 – 12,8%) foram para tratamento cirúrgico, vinte e
quatro
(24 – 18%) para tratamento ortopédico, oito (08 – 6%) para tratamento
neurológico e cento e quatro (104 – 78,7%) para tratamento clínico. Dentre estes
foram por causa respiratória isolada ou associada a outras patologias, sessenta e sete
internações (67 – 50,7%). As patologias mais freqüentes foram: BCP com 41
internações que compreendem 31% das internações totais deste mês, BCP associado
com Asma – nove internações (6,8%), BCP associado a Insuficiência Respiratória –
uma internação, Insuficiência Respiratória Aguda – quatro internações (3%), duas
internações por asma e seis internações referem-se a outras patologias como:
Bronquite (3), Traqueostoma (1), Bronquiolite (2).
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
58
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico quatro casos (04 – 3%), com
idades entre 3 e 4 anos. Estes pacientes permaneceram internados em média sete (7)
dias, com o uso do dreno de tórax em média três dias (3,33) dias. A quantidade de
líquido drenado foi em torno de 333 mL e nenhum dos pacientes apresentou bactérias
no líquido em análise laboratorial. Dois pacientes apresentaram derrame pleural em
hemitórax esquerdo, um em hemitórax direito e um paciente o derrame era bilateral.
Neste não foi efetuada a drenagem de tórax devido ao seu estado geral, pois o
mesmo apresentava outras patologias como: Insuficiência Cardíaca e Linfoma de
Hoodking, indo a óbito dezessete dias após a internação.
No período em que os pacientes permaneceram internados, a fisioterapia foi
atuante em média seis dias (6), utilizando como técnicas de tratamento a reexpansão
pulmonar, estimulo diafragmático, fisioterapia motora (alongamento de MMSS). Em
um dos prontuários analisados a fisioterapia não descreveu as técnicas utilizadas,
evoluindo apenas como fisioterapia respiratória.
Os outros internamentos clínicos representaram 27,2% do restante, ou 36
internações, podemos citar: Causas renais seis internações, anemia apresentou seis
internações, desnutrição com cinco internações, causas gastrointestinais dez
internações e outras causas como: otite (1), purpura (1), sepse (1), celulite de face (1),
cardiopatias (2) e consulta ao otorinolaringologista (3).
6.3 RESULTADO MÊS DE JUNHO – 2003
No mês de junho-2003, no HU, foram realizadas cento e cinqüenta e três (153)
internações. Destas, dezesseis (16 – 10,4%) foram para tratamento cirúrgico, trinta e
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
59
quatro (34 – 22,2%) para tratamento ortopédico, doze (12 – 7,8%) para tratamento
neurológico, três (1,9%) prontuários não foram analisados por não estarem no SAME
e noventa e oito (98 – 64%) para tratamento clínico. Dentre estes foram por causa
respiratória isolada ou associada a outras patologias, sessenta e oito (68 – 44,4%). As
patologias mais freqüentes foram: BCP com 55 internações que compreendem 35,9%
das internações totais deste mês, BCP associado com Asma três internações (1,9%),
BCP associado com Insuficiência Respiratória Aguda – 4 internações (2,6) e outras
patologias respiratórias como Asma (1), Insuficiência Respiratória Aguda (2) Bronquite
(1).
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico dois casos (02 – 1,3%), com
idades de 2 e 10 anos. Estes pacientes permaneceram internados em média doze
(12) dias, com o uso do dreno de tórax em média sete (07) dias. A quantidade de
líquido drenado foi em torno de 150 mL, não foi encontrado no prontuário do segundo
paciente exame de líquido pleural e o segundo paciente foi encontrado Cocos Gram+
(+++) no exame de líquido pleural.
No período em que os pacientes permaneceram internados, a fisioterapia foi
atuante em média quatro (4,5) dias, utilizando como técnicas de tratamento, a
reexpansão pulmonar, estimulação diafragmática, TEMP e vibrocompressão.
Dentre as outras patologias não respiratórias que tiveram internamento clínico,
representaram 19,6% restante das internações nesta modalidade ou 30 internações.
Podemos citar: causas renais com cinco internações, anemia apresentou uma
internação, desnutrição com duas internações, causas gastrointestinais representaram
5 internações e outras causas como:
AIDS (1), sepse (2), osteomelite (1), artrite
juvenil (1), poliartrite (1), lábio leporino (1), diabete (1), Cardiopatia (1) e outros (8).
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
60
6.4 RESULTADO MÊS DE JULHO – 2003
No mês de julho-2003, no HU, foram realizadas cento e quarenta e quatro (144)
internações. Destas trinta e duas (32 – 22,2%) foram para tratamento cirúrgico, vinte e
quatro (24 – 16,6%) para tratamento ortopédico, sete (7 – 4,8%) para tratamento
neurológico, dois (1,38%) prontuários não foram analisados por não estarem no
SAME e noventa e quatro (94 – 65,9%) para tratamento clínico. Dos pacientes
submetidos a tratamento clínico sessenta e quatro (64 – 44,4%) foram por causa
respiratória isolada ou associada a outras patologias. As patologias mais freqüentes
foram: BCP com 50 internações que compreendem 34,7% das internações totais
deste mês, BCP associado com Asma seis internações (2,7%), BCP associado com
Insuficiência Respiratória Aguda com uma internação. Os diagnósticos respiratórios
menos freqüentes foram: Asma (2), Insuficiência Respiratória Aguda (2), Bronquite
(1).
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico dois casos (02 – 1,3%), com
idades de 2 e 10 anos, estes pacientes permaneceram internados em média onze (11)
dias, com o uso do dreno de tórax em média cinco (05) dias, a quantidade de líquido
drenado foi em torno de 200 mL, nenhum dos pacientes apresentou bactérias em
análise laboratorial do líquido pleural.
No período em que os pacientes permaneceram internados, receberam
fisioterapia em média cinco (05) dias. Foi realizada fisioterapia motora (alongamento
de MMSS e deambulação), tosse, Voldyne e Respiron.
Dentre as patologias não respiratórias que tiveram internamento clínico,
representaram 20,1% restante das internações nesta modalidade ou 29 internações
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
Podemos citar: causas renais tiveram três internações,
61
desnutrição com cinco
internações, causas gastrointestinais cinco internações e outras causas como: sepse
(1), celulite periorbitária (2), epilepsia (1), pancreática (1), cefaléia (1), epistaxe (1),
artrite séptica (1), diabete (1), escarlatina (1), abdome agudo (1), endocardite (1),
hipertensão arterial (1) e outras (3).
6.5 RESULTADO MÊS DE AGOSTO – 2003
No mês de agosto-2003, no HU, foram realizadas cento e cinqüenta e seis
(156) internações. Destas vinte (20 – 12,8%) foram para tratamento cirúrgico, trinta e
oito (38 – 24,3%) para tratamento ortopédico, dez (10 – 6,4%) para tratamento
neurológico, três (1,9%) prontuários não foram analisados por não estarem no SAME
e noventa e quatro (94 – 62,8%) para tratamento clínico. Dentre estes foram por
causa respiratória isolada ou associada a outras patologias, cinqüenta
e três
internações (53 – 42,9%). As patologias mais freqüentes foram: BCP com 33
internações que compreendem 21,1% das internações totais deste mês, BCP
associado com Asma, seis internações (3,8%), outras patologias respiratórias como:
Asma (4), Insuficiência Respiratória Aguda (4), Bronquite (1).
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico cinco casos (05 – 3,2%),
com idades entre 1 e 6 anos. Estes pacientes permaneceram internados em média
nove (09) dias, com o uso do dreno de tórax em média cinco (05) dias, a quantidade
de líquido drenado foi em torno de 75 mL. Um paciente não foi drenado e o motivo
não constava no prontuário, dois pacientes não possuíam registro de quantidade de
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
62
líquido pleural drenado. Nenhum dos pacientes apresentou bactérias em exame
laboratorial.
No período em que os pacientes permaneceram internados, a fisioterapia foi
atuante em média seis (6,2) dias, utilizando como técnicas de tratamento para o
segundo paciente, a fisioterapia motora (deambulação), tosse, manobras de higiene
brônquica (vibrocompressão) e Respiron. Nos demais prontuários a fisioterapia não
descreveu as técnicas utilizadas evoluindo apenas como fisioterapia respiratória.
Dentre as outras patologias não respiratórias que tiveram internamento clínico,
representaram 26,2% restante das internações nesta modalidade ou 41 internações,
podemos citar: Causas renais três internações, anemia apresentou três internações,
causas gastrointestinais 24 internações e outras causas como: sepse (2), pancreatite
(1), choque hipovolemico (1), escarlatina (1) insuficiência cardíaca (1) e outras (8).
6.6 RESULTADO MÊS DE SETEMBRO – 2003
No mês de setembro-2003, no HU, foram realizadas cento e cinqüenta e seis
(156) internações. Destas, trinta e uma (31 – 19,7%) foram para tratamento cirúrgico,
trinta e cinco (35 – 22,2%) para tratamento ortopédico, quatro (04 – 2,5%) para
tratamento neurológico, doze (7,6%) prontuários não foram analisados por não
estarem no SAME e setenta e três (73 – 46,4%) para tratamento clínico. Dentre estes
foram por causa respiratória isolada ou associada a outras patologias, quarenta
internações (40 – 25,4%). As patologias mais freqüentes foram: BCP com 34
internações que compreendem 13,2% das internações totais deste mês, BCP
associado com Asma duas internações (1,2%), outras patologias respiratórias como
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
Insuficiência
Respiratória
Aguda
e
Traqueobronquite
63
obtiveram
apenas
uma
internação neste mês.
Evoluíram para Derrame Pleural Parapneumônico dois casos (02 – 1,2%), com
idades de 5 e 9 anos. Estes pacientes permaneceram internados em média quinze
(15) dias, com o uso do dreno de tórax em média quatorze (14) dias, a quantidade de
líquido drenado foi em torno de 250 mL. O primeiro paciente citado apresentou
bactérias em exame laboratorial Cocos Gram + e Bacilos G- e intensa reação
leucocitária. O segundo paciente não apresentou bactérias em análise do líquido,
porém, perdeu o dreno por três vezes e o motivo não constava no prontuário, este
mesmo apresentava dreno borbulhante a tosse.
No período em que os pacientes permaneceram internados, a fisioterapia foi
atuante em média treze (13) dias, utilizando como técnicas de tratamento para o
primeiro paciente, fisioterapia motora (Deambulação), padrão respiratório, manobras
de higiene brônquica e tosse. No prontuário do segundo paciente a fisioterapia não
descreveu as técnicas utilizadas, sendo descrita apenas como fisioterapia respiratória.
Dentre as outras patologias não respiratórias que tiveram internamento clínico,
representaram 21% restante das internações nesta modalidade ou 33 internações,
podemos citar: Causas renais cinco, anemia apresentou uma internação, desnutrição
com uma internação, causas gastrointestinais representaram 15 internações e outras
causas como: ingestão de soda caustica (1), síndrome da pele escaldada (1),
epilepsia (1), pé torto congênito (1), hipertiroidismo (1), dor abdominal (1), cardiopatia
(1) e outras (4).
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
64
6.7 RESULTADO SEMESTRAL
No período entre abril e setembro de 2003 ocorreram 883 internações na
clínica médica pediátrica do HUOPr. Deste total, 353 pacientes (40%) apresentaram
enfermidade respiratória como causa primária de internação e compuseram a
amostra. (Gráfico 1)
40%
60%
Outras Patologias
Patologias Respiratórias
Gráfico 1: Representa as porcentagens de patologias respiratórias e não
respiratórias.
A patologia respiratória mais freqüente no momento da internação foi a
pneumonia isolada (broncopneumonia), com 247 internações (69%), tendo estudo
estatístico significante com p < 0,05. A enfermidade respiratória mais freqüentemente
associada a pneumonia foi a asma com 34 casos neste semestre (9,5%).
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
65
O derrame pleural parapneumônico esteve presente em 17 pacientes neste
período, correspondendo a 5% de todas as patologias respiratórias e 7% de todas as
pneumonias. (Gráfico 2)
26%
5%
69%
BCP
BCP + DP
Outras Patologias Respiratórias
Gráfico 2: Representa as porcentagens das patologias respiratórias.
Com relação a incidência de pneumonia em cada mês, houve predominância
desta no mês de junho (55) e picos secundários em julho (50) e maio (41) . O derrame
pleural como conseqüência de pneumonia ocorreu predominantemente em agosto (5),
seguindo do mês de maio (4), não havendo diferença nos outros meses (2). (Gráfico
3)
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
66
70
60
50
40
30
20
10
0
ABRIL
MAIO
JUNHO
Outros
JULHO
BCP
AGOSTO
SETEMBRO
DP+BCP
Gráfico 3: Número de admissões mensais das patologias respiratórias.
No período estudado, a média do tempo de internação foi de 7,7 ± 0,4 dias no
grupo de pacientes acometidos apenas por pneumonia, de 7,03 ± 0,6 dias no grupo
acometido por outras enfermidades respiratórias. (Gráfico 4)
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
ABRIL
MAIO
JUNHO
Outros
JULHO
BCP
AGOSTO
SETEMBRO
DP+BCP
Gráfico 4: Quantidade de dias de internamento mensais das patologias respirtórias.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
67
Em análise estatística estes dois grupos diferiram daquele no qual os pacientes
apresentavam derrame pleural. O tempo de internação destes pacientes foi de 11,3 ±
3 dias (p < 0,05) (Gráfico 5).
12
10
8
6
4
2
0
Outras Patologias
Respiratórias
BCP
BCP + DP
Gráfico 5: Tempo de Internação por grupo.
A faixa etária dos pacientes acometidos foi em média de 3 anos e 2 meses.
Houve predominância do sexo masculino (10) em relação ao feminino (7). O
hemitórax esquerdo foi acometido com maior freqüência (10) do que o direito (6) e
houve um caso de drenagem bilateral. Em média cada paciente permaneceu com o
dreno de tórax 6,63 ± 3,87 dias.
Com relação a fisioterapia pode-se observar que entre o dia da internação e o
início do atendimento fisioterapêutico passaram-se em média 2,47 ± 3,56. A análise
estatística nos mostra que isto interferiu no tempo de internação, apesar do grande
desvio padrão, isto é, quanto mais precoce a intervenção da fisioterapia, menor é o
tempo de internação (p<0,05).
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
68
7. DISCUSSÃO
O tema fisioterapia no tratamento do derrame pleural foi o maior motivador para
o desenvolvimento deste trabalho. A partir desta idéia inicial foi realizado um
levantamento bibliográfico incluindo, livros, artigos e bases de dados da rede mundial
de computadores.
Tendo em vista a escassez de estudos clínicos randomizados sobre o tema, foi
elaborado inicialmente um protocolo de tratamento fisioterapêutico para o paciente
com derrame pleural drenado. O protocolo inicial foi submetido à avaliação pelo
Comitê de Ética da UNIOESTE e do diretor geral do HUOPr, sendo aprovado por
ambos. Foi também apresentado à pré-banca composta por docentes do curso de
fisioterapia da UNIOESTE, que sugeriram algumas modificações quanto aos critérios
de inclusão, exclusão e delimitação da área de abrangência. Realizadas as alterações
sugeridas, deu-se inicio a um controle diário dos pacientes internados no HUOPr.
Infelizmente estes não preencheram os critérios de inclusão do protocolo. A partir
desta dificuldade, alguns itens do trabalho foram modificados a fim de adequá-lo à
população existente. Não obtendo o efeito desejado a estas mudanças, optou-se por
um levantamento epidemiológico retrospectivo, que foi realizado no HUOPr.
Foi observado que as patologias respiratórias apresentaram alta incidência
neste semestre, sendo responsáveis por 40% de todas as internações do setor da
clínica médica pediátrica. Este dado encontra-se em concordância com a literatura,
como descrevem Jennifer A. Pryor e Barbara A. Webber12 que enfatizam a grande
freqüência da doença respiratória na infância. Ela é mais comum em crianças de
baixo nível sócio econômico, com história familiar de doença respiratória, ambiente
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
69
urbano, pais fumantes e irmãos em idade escolar. A população atendida no HUOPr
possuí características semelhantes às acima citadas o que pode explicar este índice.
De todas as enfermidades respiratórias observadas na pediatria do HUOPr, a
pneumonia detém maior grau de acometimento respondendo por 69% (p< 0,05). Os
dados exatos da incidência da pneumonia aguda na infância são escassos, sabe-se
porém que os índices são altos e os casos são mais graves em países
subdesenvolvidos.
Como coloca Fernando Paz9 em seu artigo, a mortalidade em crianças que
possuem derrame pleural associado a pneumonia é maior do que as que possuem
somente a patologia isolada. Em nosso estudo verificamos que o índice de
mortalidade não foi significativo, pois do total de pacientes com pneumonia mais
derrame pleural, somente um foi a óbito, porém, o mesmo possuía outras patologias
como Insuficiência Cardíaca e Linfoma de Hodking, sendo que a causa principal do
óbito não foi a patologia respiratória.
Segundo o Ministério da Saúde18 no ano de 2000 incluindo todas as faixas
etárias, no Brasil 16% das internações realizadas tiveram como causa doenças do
aparelho respiratório. Em julho de 1999, os percentuais de internações em todo o
Brasil, pelo SUS, para doença respiratória e incluindo todas as faixas etárias, foram os
seguinte: pneumonia – 52%; asma brônquica – 4,7%, DPOC – 66,6%, outras doenças
respiratórias 9,5%. Essas diferenças podem ser explicadas devido a inclusão da faixa
pediátrica na estatística do SUS, onde as doenças respiratórias respondem por até
51,6% das internações, e as diferenças climáticas, já que na região em estudo
apresentava inverno rigoroso com baixas temperaturas e grande umidade.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
70
Em um estudo realizado no Hospital Geral de Caxias do Sul/RG20, mostra que a
pneumonia possui maior incidência entre maio e novembro, isso porque, neste
período que compreende a transição do outono para o inverno e do inverno para a
primavera, ocorrem mudanças bruscas de umidade e temperatura, há duas estações
polínicas, uma no outono e outra na primavera, e o surto de influenza ocorre entre os
meses de maio a agosto. Igualmente estas mesmas considerações, podem ser
tomadas para este trabalho, pois a região de Cascavel condiz em termos de clima e
umidade com a região do Rio Grande do Sul.
O HUOPr apresentou médias de duração de internação de 11 dias para os
pacientes portadores de pneumonia mais derrame pleural e para as outras patologias
respiratórias, o tempo de duração foi em média de 7 dias. Isso pode ter sido
ocasionado pela gravidade e o baixo nível socioeconômico dos pacientes internados
com essas doenças. Em estudo realizado por Mucelin19 no Rio Grande do Sul em
2000, a média do tempo de hospitalização das crianças com derrame pleural
parapneumônico foi 15 dias, sendo que 95% das crianças permaneceram mais de 7
dias.
A amostra de pacientes com derrame pleural parapneumônico foi heterogênea
quanto a idade, observada pelo grande desvio padrão. Quanto ao sexo, foi observada
a predominância do sexo masculino. Ambas as informações são encontradas na
literatura.
Uma curiosidade a ser citada, é que de todos os pacientes analisados, nenhum
desenvolveu o derrame pleural no HUOPr, estes pacientes já vieram encaminhados
do PAC com o diagnóstico clínico de pneumonia associado ao derrame pleural. Isto
pode ser devido os pacientes apresentarem recidiva de pneumonia que evoluía para
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
71
derrame pleural; ou o responsável procurou auxílio médico para o tratamento da
patologia, porém não o realizou por diversos fatores (não havia o medicamento no
posto, falta de dinheiro para comprar o medicamento, falta de higiene, etc...)
Com exceção da tuberculose, as doenças respiratórias não são de notificação
compulsória, o que leva a escassez de informações epidemiológicas. Portanto, é
necessário que haja reavaliação constante de nossas bases epidemiológicas para a
definição de políticas de profilaxia e tratamento dessas doenças.
Quanto a fisioterapia vários pontos podem ser ressaltados. O primeiro dado
relevante é o de que foi comprovado estatisticamente que a fisioterapia precoce,
influencia no tempo de internação. Segundo análise dos prontuários, justifica-se o não
atendimento dos pacientes todos os dias de internação, devido ao fato de que em
sábados, domingos e feriados os estagiários de fisioterapia da UNIOESTE não
estarem presentes no HUOPr, permanecendo no local somente as fisioterapeutas
contratadas e estas devem desprender maior atenção aos pacientes das UTI. Foi
observado também que, não há homogeneidade na descrição dos procedimentos e
que aparentemente utiliza-se muito pouco os recursos de incentivadores (o mais
utilizado é o Respiron).
Este trabalho condiz com o que afirma Fernando C. Paz9, existem várias formas
de se tratar o derrame pleural parapneumônico, porém, não existe consenso sobre
qual é o tratamento adequado.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
72
8 CONCLUSÃO
O derrame pleural parapneumônico é um exsudato que resulta de uma reação
inflamatório pleural e este deriva de um processo pneumônico.
O índice de doenças respiratórias no HUOPr neste semestre foi elevada,
principalmente no que se refere aos dados estatísticos da pneumonia.
Embora o derrame pleural parapneumônico não tenha um número elevado,
influenciou no tempo de internação dos pacientes internados. Outro dado estatístico
que modifica o número de dias de internação é o início precoce do tratamento
fisioterapêutico.
Concluiu-se que o derrame pleural é a complicação mais comumente associada
a pneumonia levando ao aumento do tempo de internação.
Podem-se mencionar outros relatos ao assunto desenvolvido ou outras possibilidades
de investigação.
Diante destes fatos, fica sugerido a continuidade deste trabalho e aplicação do
protocolo fisioterapêutico em anexo.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
73
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SILVA, C.C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2.ed. SP: Fundo Editorial BYK,
1993.
1
GUYTON, C. Arthur; HALL, E. John. Fisiologia Médica. 10.ed. RJ: Editora
Guanabara Koogan, 2002.
2
3
FARIA, Fernando Antônio. http://teravista.pt/Ancora/1046/Dtorax.html#intro – acesso:
31/05/03.
CARVALHO, Mercedes. Fisioterapia Respiratória Fundamentos e Contribuições.
5º edição. RJ: Editora Revinter, 2001.
4
TARANTINO B. Affonso. Doenças Pulmonares. 5.ed. RJ: Editora Guanabara
Koogan, 2002.
5
6
BETHLEM, Newton. Pneumologia. 4.ed. SP: Editora Atheneu, 2002.
7
SILVA, C.C. Luiz. Condutas em Pneumologia. RJ: Editora Revinter, 2001.
COTRAN, S. Ramzi; KUMAR, Vinay; COLLINS, Tucler. Patologia Estrutural
Funcional. 6.ed. RJ: Editora Guanabara Koogan, 2000.
8
9
PAZ, C. Fernando; CUEVAS, Mónica. Derrame Pleural y Empiema Complicado en
Niños – evolución y factores pronósticos. Revista Médica de Chile; 129(11): nov,
2001 – acesso: 11/06/2003.
10
CIRINO, M. I. Luís; NETO, J. F. José. Classificação Ultra-Sonográfica do Derrame
Pleural e do Empiema Parapneumônico. Radiol Bras; 35(2): 81-83, ago, 1999.
GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia
Torácica: bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do
paciente submetido à cirurgia torácica. 1.ed. RJ: Livraria e Editora Revinter Ltda.,
2002.
11
PRYOR, A. Jennifer; WEBBER, A. Barbara. Fisioterapia para Problemas
Respiratórios e Cardíacos. 2.ed. RJ: Guanabara Koogan S.A., 2002.
12
IRWIN Scot; TECKLIN, S. Jan. Fisioterapia Cardiopulmonar. 2.ed. SP: Editora
Manole Ltda., 1994.
13
AZEREDO, A. C. Carlos. Fisioterapia Respiratória Moderna. 4º edição. SP:
Editora Manole Ltda., 2002
14
AZEREDO, A. C. Carlos. Fisioterapia Respiratória no Hospital Geral. 1º ed.: SP;
Manole, 2000.
15
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
74
16
AMARAL, V. Marcus. Consideração sobre a Aplicação de Pressão Positiva
Expiratória
em
Vias
Aéreas
(EPAP).
Artigos
Fisiocor.
http://www.fisiocor.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=5
–
acesso:
24/09/2003.
17
AMARAL, V. Marcus. Considerações Sobre a Importância no uso de Incentivadores
Inspiratórios.
Artigos
Fisocor.
http://www.fisiocor.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=11
–
acesso:
24/09/2003.
18
Brasil.
Ministério
da
Saúde.
Informações
/http://portalweb01.saude.gov.br/saude/ - acesso 17/12/2003.
de
Saúde.
Online.
19
Mocelin T. Helena; Fischer B. Gilberto. Fatores Preditivos para Drenagem de
Derrames Pleurais Parapneumônicos em Crianças. J Pneumol; 27(4), 177-184, julago, 2001.
20
GODOY, V. Dagorberto; ZOTTO, D. Crischiman. Doença Respiratórias como Causa
de Internações Hospitalares de Pacientes do Sistema Único de Saúde num Serviço
Terciário de Clínica Médica na Região Nordeste do Rio Grande do Sul. J Pneumol;
27(4): 193-198, jul-ago, 2001.
21
Schuller D 199S. Pulmonary Diseases, pp. 236-261, In: ewald A, McKenzie R (eds),
The Washington Manual, 28th edition, Litthe Brown, Boston.
ROZOV, B. Tatiana. Doenças Pulmonares em Pediatria – diagnóstico e
tratamento. 1º ed.: SP, Atheneu, 2000.
22
23
Prefeitura
Municipal
de
Cascavel/PR.
http://www.cascavel.com.br - acesso 17/12/2003.
Informações
do
Município.
24
Light R 1994. Distúrbios da Pleura, Mediastino e Diagrama, pp. 1290-1294. In:
Isselbacher K, Braunwald E, Wilson J, Fauci A, Kasper D (eds), Harrison – Medicina
Interna, 13a edição, McGraw Hill, México.
25
AZEREDO, A. C. Carlos. EPAP – Pressão Positiva nas Vias Aéreas – estudo de
revisão. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 4(2), 45-9, abr-jun-1992.
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
75
ANEXO 1
FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
1. Dados do Paciente:
Nome:_______________________________________________________________
Idade:__________ Data de Nascimento __/__/____. Grupo: ( ) EPAP + FIT ( ) FIT
Nome da Mãe (ou responsável): ___________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
Sexo: ( )F ( )M Data Internação: __/__/____ Telefone: ________________________
Queixa Principal: _______________________________________________________
Diagnóstico Clínico: ____________________________________________________
2. Exame Físico:
Inspeção:
O2 ( )Não ( ) Sim ___ l/m Via: ( ) máscara ( ) catéter nasal. Obs:_____________
Tipo de Tórax:_________________________________________________________
Desnutrição: ( )Não ( ) Sim
Outras observações (manchas, órteses, próteses, fixadores ortopédicos, cicatrizes,
edemas, etc.) _________________________________________________
Avaliação Respiratória:
FR:______rpm. Tipo de Respiração: ( ) Apical ( ) Torácico ( ) Abdominal ( ) Misto
Ritmo: ( ) Normopnéico ( ) Bradipnéico ( ) Taquipnéico
Expansibilidade Pulmonar: ( ) aumentada ( ) diminuída
Simetria Torácica: ( )Não ( ) Sim _________________________________________
Palpação:
Mobilidade Torácica: ( ) aumentada ( ) diminuída
Tosse: ( ) Produtiva ( ) Improdutiva ( ) Eficaz ( ) Ineficaz
Expectoração: ( ) Mucóide ( ) Purulenta ( ) Hemática ( ) Serosa
Via de Eliminação: ( ) Oral ( ) Nasal ( ) Outros: _____________________________
Tiragem:___________________________Batimento da Asa do Nariz: ( )Não ( ) Sim
Uso de Musculatura Acessória: ______________________________________
Cianose: ( )Não ( ) Sim
Ausculta Pulmonar: _____________________________________________________
Exames Complementares:
Exames Laboratoriais: __________________________________________________
_____________________________________________________________________
Exames de Líquido Pleural: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Ultra Sonografia: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Raio X: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Outros Comprometimentos: (neurológico, ortopédico.): _________________________
_____________________________________________________________________
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
Teste
Pré Drenagem
24 hrs. Pós
dreno
76
4º dia pós
dreno
Após Retirada
do Dreno
Cirtometria
Xifoídea
Cirtometria
Umbilical
CVF
Piak Flow
VF1
CVF/VF1
Pimax
Pemax
Dia
Volume
Débito do Dreno
Característica
Amplitude de Movimento
Pré Drenagem
24 hrs. Pós
4º dia pós
dreno
dreno
Flexão
Ombro
Abdução
Ombro
Após Retirada
do Dreno
de
de
Exame Postural:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Escala de Expressões Faciais:
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
77
Escala de Borg:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Muito, muito leve
Muito leve
Razoavelmente leve
Um pouco árduo
Árduo
Muito árduo
Muito, muito árduo
-
Analise do Paciente:
Dia
Escala de Expressões
Faciais
Escala de Borg
Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste
n. 01-2004 ISSN 1678-8265
78
ANEXO 2
PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO
Grupo Padrões Ventilatórios
1. Paciente sentado no leito a 60º.
2. Exercício 1: Respiração diafragmática – 15 vezes.
3. Exercício 2: Apnéia pós inspiratória – 15 vezes.
4. Exercício 3: Inspiração em 3 tempos – 15 vezes.
5. Exercício 4: Expiração abreviada – 15 vezes.
Grupo Padrões Ventilatórios + EPAP
1. Seguir a mesma seqüência do Grupo Padrões Ventilatórios de 1 à 5.
2. EPAP (Treshold PEP) com - 6 cmH2O: quando criança
8 cmH2O: quando adulto
2.1. 3 cmH2O – 3 min
2.2. 5 cmH2O – 3 min
2.3. 6 cmH2O – 3 min – Quando tratar-se de criança, parar neste ponto.
2.4. 8 cmH2O – 3 min – Quando de adulto, continuar até este ponto.
Ps.: Permitir que o paciente descanse 2 min, entre as mudanças de pressões do
EPAP.
Observação
− A tosse e a deambulação serão incentivadas em ambos os grupos.