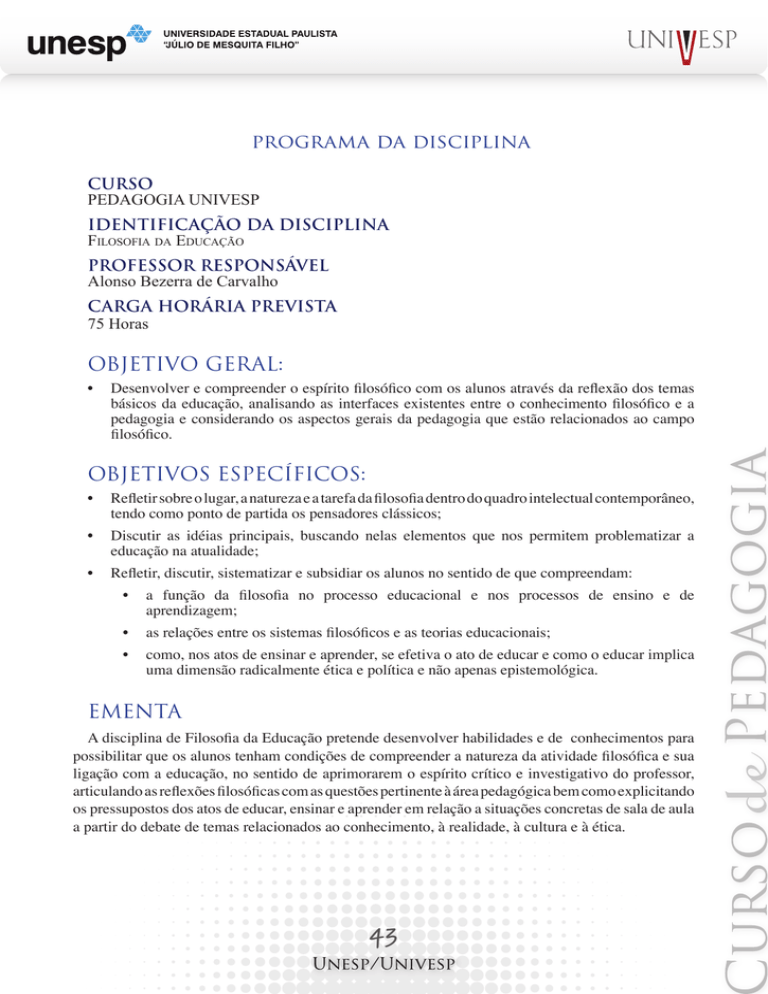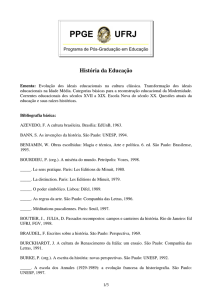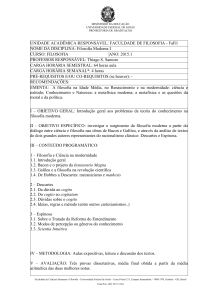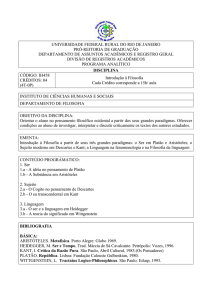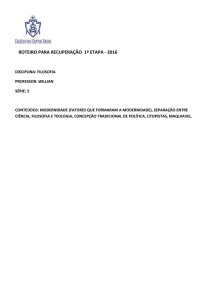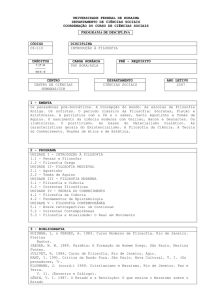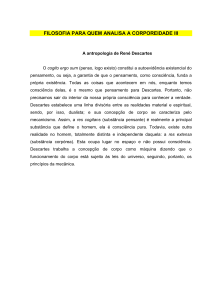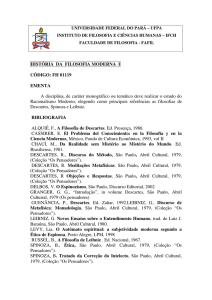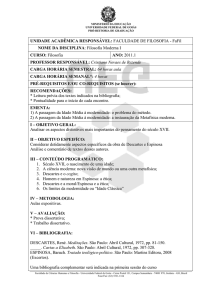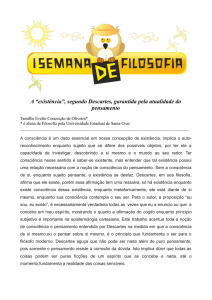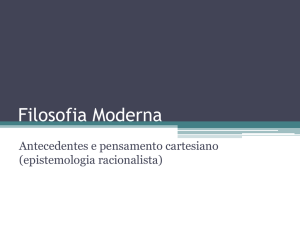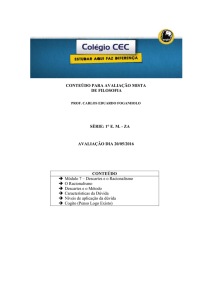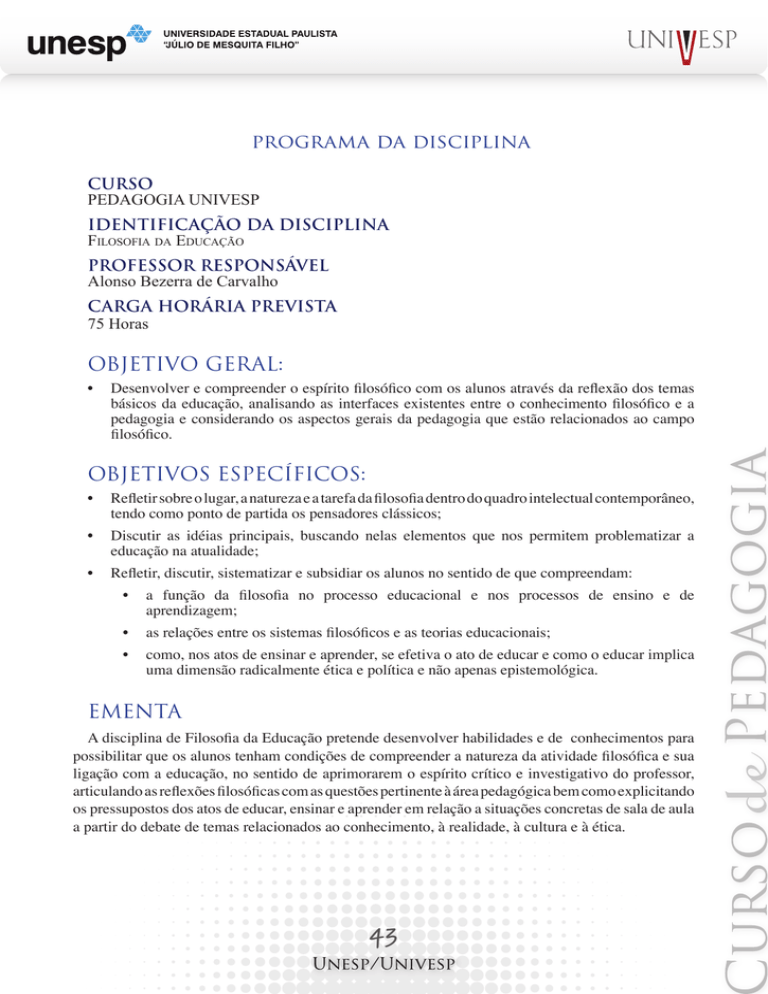
programa da disciplina
CURSO
PEDAGOGIA UNIVESP
IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Filosofia da Educação
PROFESSOR RESPONSÁVEL
Alonso Bezerra de Carvalho
CARGA HORÁRIA PREVISTA
75 Horas
OBJETIVO Geral:
• Desenvolver e compreender o espírito filosófico com os alunos através da reflexão dos temas
básicos da educação, analisando as interfaces existentes entre o conhecimento filosófico e a
pedagogia e considerando os aspectos gerais da pedagogia que estão relacionados ao campo
filosófico.
Objetivos Específicos:
• Refletir sobre o lugar, a natureza e a tarefa da filosofia dentro do quadro intelectual contemporâneo,
tendo como ponto de partida os pensadores clássicos;
• Discutir as idéias principais, buscando nelas elementos que nos permitem problematizar a
educação na atualidade;
• Refletir, discutir, sistematizar e subsidiar os alunos no sentido de que compreendam:
• a função da filosofia no processo educacional e nos processos de ensino e de
aprendizagem;
• as relações entre os sistemas filosóficos e as teorias educacionais;
• como, nos atos de ensinar e aprender, se efetiva o ato de educar e como o educar implica
uma dimensão radicalmente ética e política e não apenas epistemológica.
EMENTA
A disciplina de Filosofia da Educação pretende desenvolver habilidades e de conhecimentos para
possibilitar que os alunos tenham condições de compreender a natureza da atividade filosófica e sua
ligação com a educação, no sentido de aprimorarem o espírito crítico e investigativo do professor,
articulando as reflexões filosóficas com as questões pertinente à área pedagógica bem como explicitando
os pressupostos dos atos de educar, ensinar e aprender em relação a situações concretas de sala de aula
a partir do debate de temas relacionados ao conhecimento, à realidade, à cultura e à ética.
43
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• O nascimento da filosofia e o pensamento grego: admiração e episteme;
• A filosofia da educação socrático-platônica;
• Filosofia e educação na modernidade: Bacon e Descartes;
• A outra modernidade: a filosofia da educação kantiana
• Philia e saber: a amizade na sala de aula;
• Filosofia e sua atualidade.
METODOLOGIA
O desenvolvimento da disciplina dar-se-á por meio de aulas teóricas, mediadas pelo Tutor, com o
apoio de textos pré-elaborados com o objetivo de favorecer as leituras e as reflexões das temáticas
propostas, com posteriores debates coletivos.
Além disso, será oferecido e apresentado material em vídeos, produzido no Programa da Univesp
TV, com a finalidade de aprofundar as discussões dos conteúdos, de forma que garanta e motive os
alunos a pensarem filosoficamente sobre a educação.
Todas as atividades, presenciais e virtuais, pretendem estar bem articuladas, contribuindo na formação
de uma nova postura e atitude do aluno, que olhe a educação a partir de novas perspectivas.
A Plataforma WEB, com os Fóruns de discussão, os Chat’s, os Portfólios e outros ambientes
cumprirão papel fundamental no sentido de esclarecer as dúvidas, de apresentação das atividades
propostas, entre outras possibilidades de ações voltadas para aprendizagens a serem elaboradas e
empregadas durante o percurso de formação.
AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado por meio de:
• Avaliação presencial escrita;
• Questões propostas ao final dos cadernos para discussão em grupo;
• Composição de textos que demonstrem compreensão das idéias centrais dos textos;
• Acesso e participação em fóruns de discussão;
• Acesso e participação em Chat para dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os conteúdos e/ou
atividades;
• Atividades de estudos a serem apresentadas no Portfólio individual WEB.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
ARISTÓTELES. Éthique à Nicomaque: livres VIII et IX. Paris: Hatier, 1988.
______. Les Politiques. Paris: Flammarion, 1993.
BACON, F. Novum Organum. São Paulo: Nova Cultural, 1988 (Os Pensadores).
44
BOURGEOIS, B.; COSTA-LASCOUX, J. e outros. Éthique et éducation: l’école peut-elle donner l’exemple?
Paris: L’Harmattan, 2004.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
_____. Introdução à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Editora Brasiliense,
1994. V. I.
DESCARTES, R. Meditações. São Paulo: Nova cultural, 1987 (Os Pensadores).
_____. Discurso do método. São Paulo: Nova Cultural, 1987 (Os Pensadores).
FOUCAULT, M. O que é o Iluminismo. In: ESCOBAR, Carlos Henrique(org.). Michel Foucault (19261984): o Dossier – últimas entrevistas. Rio de Janeiro : Taurus Editora, 1984.
GAGNEBIN, J-M. Infância e pensamento. In: GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Infância, Escola e Modernidade.
São Paulo: Cortez Editora/Editora da UFPR, 1997, p.83-100.
JAEGER, J. Paideia. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
KANT, I. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo: Brasiliense,1986.
_____. Sobre a pedagogia. Piracicaba : UNIMEP, 1996.
_____. Textos Seletos. Petrópolis : Vozes, 1974.
MATOS, O. Filosofia a polifonia da razão: filosofia e educação. São Paulo: Scipione, 1997.
ORTEGA, Francisco. Genealogias da amizade. São Paulo: Iluminuras, 2002.
______.Por uma ética e uma política da amizade. In: MIRANDA, Danilo Santos de (org.). Ética e cultura.
São Paulo: Perspectiva: SESC São Paulo, 2004, p.145-156.
PESSANHA, J. A. M. A água e o mel. In: NOVAES, A. (org.) O Desejo. São Paulo: Companhia das Letras,
1990, p. 91-124.
______. Platão: vida e obra. In: Coleção Os Pensadores: Platão. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. VIIXXI.
PAGNI, P. A.; SILVA, D. J. Introdução à Filosofia da Educação: temas contemporâneos e história. São
Paulo: Avercamp, 2007.
PLATÃO. A República. São Paulo: DIFEL, 1973. V I e II.
REMBRANDT. Gênios da Pintura 3. São Paulo : Abril Cultural, 1967.
RIBEIRO, Renato Janine. Ética, ação política e conflitos na modernidade In: MIRANDA, Danilo Santos
(org.). Ética e cultura. São Paulo Perspectiva, 2004, p.65-88
RODHEN, Luiz. Amizade, entre filosofia e educação. In: Filosofia e Ensino em debate. Ijuí: Unijuí, 2002,
p.113-134.
VERNANT, Jean-Pierre. Tisser l’amitié In: JANKÉLÉVITCH, Sophie ; OGILVIE, Bertrand. L’amitié: dans
sons harmonie, dans ses dissonances. Paris: Autrement, 1995, p.188-202.
VON ZUBEN, Newton A. Sala de aula: da angústia de labirinto à fundação da liberdade In: MORAIS, Régis
de (org.). Sala de aula: que espaço é esse? Campinas: Papirus, 1996, p.123-129.
45
Bibliografia Complementar
ABRÃO, B. S. (org). História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2004.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
MAISONNEUVE, J. Psychologie de l’amitié. Paris: PUF, 2004.
MARQUES, J. Descartes e sua concepção de Homem. São Paulo: Loyola, 1993.
PAGNI, P. A.; SILVA, D. J. Introdução à Filosofia da Educação: temas contemporâneos e história. São
Paulo: Avercamp, 2007.
RODIA-LEWIS, G. Descartes e o racionalismo. Porto: Rés, s/d.
46