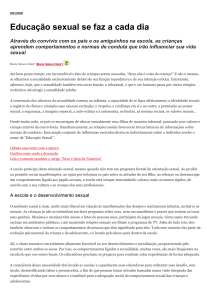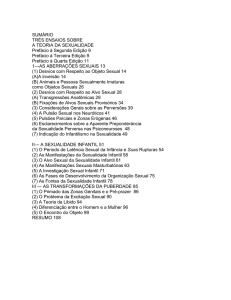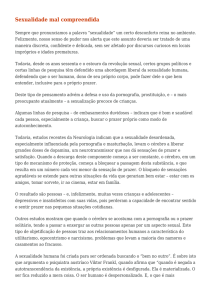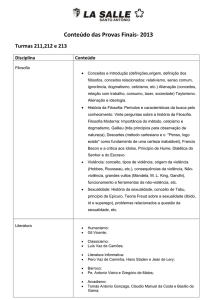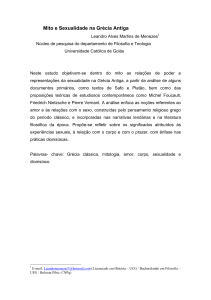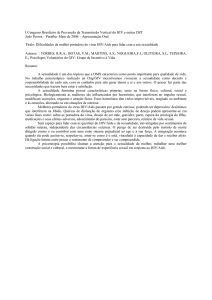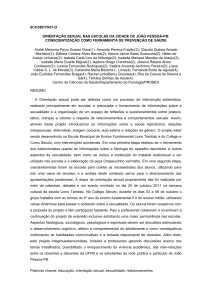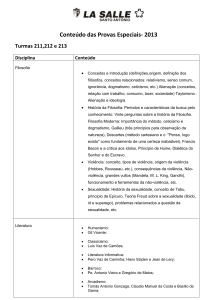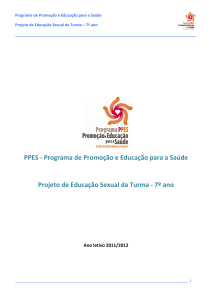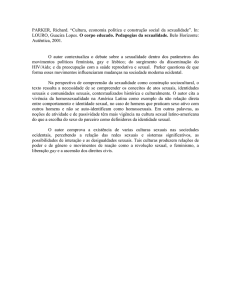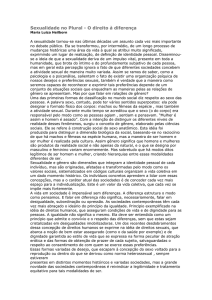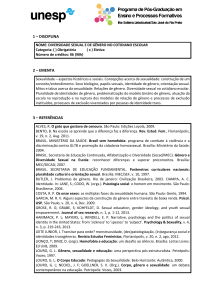1
Desejo e identificação: percursos antropológicos do gênero e da sexualidade1
Sônia Weidner Maluf 2
Minha intenção neste trabalho é de expor algumas reflexões ainda bastante
iniciais sobre a forma como os conceitos e as temáticas de gênero e sexualidade têm
sido articulados – e/ou desarticulados – nos estudos na área.
Ele está dividido em quatro partes: uma breve introdução em que exponho as
questões que me movem nesta reflexão; uma discussão sobre a distinção entre sexo e
gênero nos estudos antropológicos de gênero e a crítica a essa distinção; uma
discussão sobre a distinção entre sexualidade e gênero e, por último, uma breve
incursão nas teorias feministas do cinema, sobretudo as que abordam desejo e
identificação (e a norma compulsória de que estejam separados no sujeito) como
aspectos centrais para uma análise da construção do olhar no cinema.
O que me mobilizou inicialmente foi um certo incômodo provocado pela
leitura de alguns estudos etnográficos no campo da sexualidade que não levam em
consideração as questões de gênero em suas análises. Não apenas como um dos
aspectos nos regimes e nos processos de subjetivação, mas também como categoria de
análise e como um campo teórico que tem como foco esses mesmos processos de
subjetivação e a compreensão da questão da diferença. Ao fazer isso, alguns desses
estudos acabam reificando certas categorias da diferença e reproduzindo
involuntariamente em suas interpretações as ideologias e os valores hegemônicos
relacionados ao gênero.
Estou me referindo principalmente aos estudos mais recentes em sexualidade,
sobretudo os posteriores à emergência e à consolidação do campo de estudos
feministas e de gênero e a todo um fio de perguntas que essas leituras me colocaram.
Esses estudos parecem dar uma autonomia à sexualidade, na maior parte das vezes
traduzida ou definida como práticas sexuais - uma versão certamente menos dura e
essencializadora que ´comportamento sexual´, mas ainda bastante redutora da noção
de sexualidade. Perguntar o que é, afinal de contas, sexualidade acaba tendo a sua
1
Uma versão deste artigo foi apresentada no GT Família, Gênero e Sexualidade, coordenado por Flavia
Motta e Anna Paula Vencato, na VI Reunião de Antropologia do Mercosul, Montevidéu, Uruguai, 16 a
18 de novembro de 2005 e na Mesa Redonda “Erotismo, sexualidade e preconceito”, no Seminário
Internacional Fazendo Gênero VII, Florianópolis, agosto de 2005..
2
Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina.
2
importância aqui: um conjunto de práticas referentes à vida sexual? Mas, se forem
práticas, o que dizer da sexualidade do sujeito que não têm “práticas sexuais”, se essas
forem tomadas como o contato sexual com outro parceiro? Ele não tem sexualidade,
ou não tem uma vivência sexual ou se esse contato sexual é consigo mesmo? O desejo
é uma vivência sexual? Mas como chegar a ele, se é que ele é alguma coisa que está
em algum lugar? Talvez, numa perspectiva antropológica, se diga que o que interessa
são as dimensões sociais e culturais da sexualidade – bom, qual é o lugar do desejo e
da dimensão da subjetividade nessa abordagem? As dimensões sociais e culturais
seriam o mesmo que dimensões públicas, visíveis, ou da ordem da convenção? Mas,
além disso, se essas práticas, experiências, discursos, sentimentos, são constituídas
por e constituem sujeitos, como abordá-las sem levar em consideração esses sujeitos e
o fato de que são necessariamente atravessados pelas ideologias e discursos de
gênero, são sujeitos gendrados? Num levantamento bastante parcial em alguns desses
estudos, constata-se que grande parte deles pode ser dividida em três abordagens: as
práticas sexuais de homens que se relacionam com homens; redes de sociabilidade e
vivências conjugais de mulheres que se relacionam com mulheres (pouquíssimos
estudos aliás) e questões mais ligadas aos direitos reprodutivos, sobretudo
contracepção e aborto (em um grande número), e mais recentemente parto. Em
relação a esse último ponto, cabe lembrar que as políticas públicas e as militantes
feministas de grupos, ONGs e outras formas de organização têm se referido aos
direitos sexuais e reprodutivos (como se se tratassem do mesmo tipo de direito) e só
mais recentemente passaram a falar de direitos
tentando
superar
o
amálgama
entre
sexuais e direitos reprodutivos,
sexualidade
feminina,
reprodução
e
heterossexualidade.3 Esse certamente não é um emprendimento fácil, sobretudo
quando a discussão e os estudos sobre sexualidade constituem a questão da
sexualidade como um domínio autônomo da vida social e subjetiva.
Foi um pouco com todas essas perguntas e inquietações, que procurei traçar
um itinerário de reflexão, partindo das abordagens antropológicas de gênero, sexo e
sexualidade e dos dilemas metodológicos e conceituais em relação a essas ´três
questões´ (entre aspas), buscando o diálogo com as formas como essa discussão têm
3
Carolyn Williams, doutoranda do Gender Institute/LSE em Londres, comentou-me sobre uma
conferência de Sônia Corrêa em que esta, justamente tentando romper com essa redução da sexualidade
feminina à reprodução implícita no conceito de direitos sexuais e reprodutivos, referiu-se à necessidade
de se passar a falar em “justiça erótica”. Ver ainda o livro de Ratna Kapur Erotic Justice: Law and the
New Politics of Postcolonialism.
3
aparecido nos estudos feministas e de gênero e encontrando nos estudos feministas do
cinema algumas pistas. Ao discutir o projeto de um cinema feminista e da(s) teoria(s)
feminista(s) do cinema, Teresa De Lauretis se coloca a questão de “como reconstruir e
organizar a visão [o olhar] a partir desse lugar impossível do desejo feminino”. Pensar
o desejo feminino – e a sexualidade feminina fora do percurso para a passividade e
para a renúncia à agência – como pertencente a um lugar impossível – que precisa ser
resgatado, remete à mesma pergunta: como pensar esse “lugar impossível” do desejo
feminino fora de um diálogo com questões de gênero e do lugar do gênero nos
regimes de subjetivação contemporâneos? Como pensá-lo sem uma reflexão sobre a
construção do sujeito como sendo a construção de um sujeito gendrado?
Começo então o itinerário dessa reflexão a partir de como a antropologia tem
pensado ao longo do tempo as questões de sexo, gênero e sexualidade e no que
Henrietta Moore chamou de “a recusa da antropologia em confundir sexo, sexualidade
e gênero”, identificada como uma confusão presente na cultura ocidental e
inapropriada para estudar sexo-gênero em outras culturas.
Sexo e gênero: a crítica
A distinçao entre sexo e gênero foi fundamental para a constituição de uma
campo de estudos feministas e de gênero – e especificamente para a constituição da
própria antropologia da mulher e posteriormente da antropologia do gênero e da
antropologia feminista. Alguns estudos mais recentes traçam a genealogia dessa
discussão em uma certa linha de “progresso conceitual”, em que gradativamente o
“gênero”, ou seja, a construção cultural e simbólica de diferença, vai sendo construído
num primeiro momento como uma categoria descritiva a substituir outras categorias
descritivas (mulher, papéis sexuais, sexo). Nos trabalhos fundadores dos anos 70,
grande parte deles reunidos em coletâneas, das quais as mais conhecidas são A
mulher, a cultura e a sociedade e Towards an anthropology of Women, as
antropólogas feministas se instigavam pela questão da universalidade da opressão e da
dominação das mulheres (em grande parte atribuida às funções reprodutivas e de
maternagem) e a grande variabilidade dos papéis sexuais entre as diversas culturas
estudadas. Mas, no início dos anos 80, a distinção entre sexo (como o substrato
natural ou biológico da diferença) e gênero foi, naquele momento, uma perspectiva
radical de entendimento da construção cultural, social e histórica da diferença de
gênero sobre as diferenças sexuais. Na introdução à outra coletânea bastante utilizada
nos estudos antropológicos do gênero, Sexual Meanings, as autoras discutem que, por
4
trás da grande variabilidade cultural das distinções de gênero, o que permanece de
comum é que em todas as culturas pesquisadas às atividades femininas é atribuido
menos prestígio do que às masculinas – independentemente de que tipo de atividade é
esta: ou seja, o valor de uma atividade está previamente definido por quem a
desempenha. Mas já nesse momento a abordagem da variação cultural dos papéis de
gênero e das culturas de gênero se torna central e prioritária em relação aos
universais, e mesmo o que é visto como comum ou universal é retirado da causalidade
biológica.
É também a partir dos anos 80 que a crítica à dicotomia sexo-gênero começa a
ser feita no interior da antropologia. A coletânea Nature, Culture and Gender: a
critique, elabora, em vários textos, uma crítica à dicotomia Natureza e Cultura como
uma construção cultural e histórica da modernidade ocidental4. Mas cabe lembrar que
foi Michelle Rosaldo que, de uma certa forma, anunciou, já em 1980, o que viria a ser
um paradigma central da crítica feminista contemporânea, tanto ao dualismo
universalista quanto à redução da diferença ao biológico: a questão de que talvez seja
o gênero que constrói o sexo. Literalmente: “Assim, tendemos repetidamente a
contrastar e insistir em diferenças presumivelmente dadas entre homens e mulheres ao
invés de perguntar como essas diferenças são elas mesmas criadas por relações de
gênero”5.
Posteriormente, Collier e Yanagisako, num artigo fundamental mas muito
pouco utilizado no Brasil6, estendem essa crítica à própria distinção entre sexo e
gênero como extensão ou reflexo da oposição entre Natureza e Cultura. A partir de
uma crítica a visão do parentesco como um sistema autônomo7 (baseada na distinção
doméstico-público e do doméstico como sistema estático e sem história fundamentado
no aspecto invariante da relação mãe-filho) Collier e Yanagisako sugerem um
questionamento das dicotomias e da afirmação de que “masculino” e “feminino” são
categorias universais. Elas questionam a noção de que as variações culturais em torno
de gênero sejam elaborações e extensão “do mesmo fato natural” (p.15). Gênero e
4
Ver MacCormack e Jordanova, entre outras.
Rosaldo (1995 [1980]).
6
Trata-se do artigo “Toward an unified analysis of Gender and Kinship”, de Collier e Yanagisako,
1987.
7
As autoras se baseiam sobretudo na crítica de Schneider ao modelo biológico que predominaria nos
estudos de parentesco. Segundo ele, haveria nesses estudos, a projeção de uma concepção nativa (do
antropólogo) do parentesco como enraizado na biologia: reprodução, intercurso sexual entre um
homem e uma mulher, gravidez e parto. Para ele, nossa teoria de parentesco seria simultaneamente uma
teoria local da reprodução biológica (Schneider apud Collier e Yanagisako, 1987).
5
5
parentesco teriam se constituído como campos a partir da “concepção nativa” (folk
conception) do “fato biológico da reprodução sexual”. Nossa sociedade seria uma
“cultura local”. Mesmo reconhecendo o que seriam as “causas sociais” da assimetria
de gênero, os diversos estudos no campo antropológico teriam focado na “construção
social de um ´fato´ biológico: a capacidade biológica das mulheres de parir e nutrir”.
Para as autoras:
“A centralidade da reprodução sexual na definição do gênero se reflete na
distinção entre sexo e gênero, que se tornou uma convenção em grande parte
da literatura feminista” (p.33)8
Elas propõem a inversão dessa idéia: no lugar de tomar a diferença “feminino e
masculino” como dadas e posteriormente dotadas de qualidades culturalmente
específicas, “precisamos perguntar como sociedades particulares definem diferença”
(35). Sua premissa é de que
“não existem ´fatos´, biológicos ou materiais, que tenham consequências
sociais e significados culturais em si mesmos... Intercurso sexual, gravidez e
parto são fatos culturais.” (39)9
Como parte de um “programa analítico” para transcender tanto as dicotomias quanto
as fronteiras que isolam diferentes domínios sociais (parentesco, gênero etc), elas
propõem outra premissa: a de que “todos os sistemas sociais são, por definição,
sistemas de desigualdade” (39). A primeira faceta desse programa analítico seria a
análise cultural do significado, a partir do questionamento de quais categorias
socialmente significativas são empregadas, transcendendo a idéia dessas categorias
como atemporais ou como estruturas de “tradição” auto-perpetuadoras. Outro
momento fundamental da análise seria pensar modelos de desigualdade que pudessem
cruzar as diferentes categorias convencionais: gênero, parentesco, economia, política
e religião. Outra etapa ainda desse programa analítico seria o da análise histórica,
partindo do pressuposto de que a mudança é possível em todos os sistemas sociais –
que seria uma forma também de confrontar a ênfase dada à reprodução social dos
modelos sistêmicos (p.46).
“The centrality of sexual reproduction in the definition of gender is reflected in the distinction
between sex and gender that has become a convention in much of feminist literature” (p.33).
8
“There are no ´facts´, biological or material, that have social consequences and cultural meanings in
and of themselves…Sexual intercourse, pregnancy, and parturition are cultural facts.” (39).
9
6
No entanto, elas não desenvolvem a discussão de como não naturalizar essas
desigualdades, como separar o fato universal da desigualdade de causas “naturais” ou
dadas previamente à cultura. Ao mesmo tempo é interessante a idéia de que há
diferentes sistemas de desigualdade e de hierarquia social. É também uma forma de
pensar as diferenças para além do conceito fixo e substantivista de “variação
cultural”.
Em resumo, as autoras questionam
“se a diferença particular na função reprodutiva, que nossa cultura define
como a base da diferença entre homens e mulheres, e conseqüentemente como
base da relação entre eles, é usada pelas outras sociedades para constituir as
categorias culturais de homem e mulher”. 10
Para Henrietta Moore, a essa perspectiva teórica alia-se no contemporâneo um
conjunto de fenômenos que não apenas desestabilizam o gênero e as diferenças e
dicotomias de gênero, como desestabilizam o próprio “fato natural” dos corpos
sexuados (figuras como Madonna, Boy George, Prince e Michel Jackson seriam
exemplos visíveis de como esses corpos só podem ser compreendidos como, eles tb,
construção cultural)11. Essa perspectiva vai na linha de trabalhos desenvolvidos
também em outras áreas, que, depois de Foucault, passaram a questionar a
“existência” do sexo e da sexualidade como anteriores ao discurso. Um deles é o
trabalho de Thomas Laqueur, que traça uma genealogia do sexo no discurso
biomédico ocidental, mostrando como o sexo (biológico) vai sendo inventado a partir
do final do século XVII.
Ou seja, se a distinção entre sexo e gênero foi fundamental para a própria
emergência do conceito de gênero e, no caso específico da antropologia, para
“liberar” as etnografias de uma explicação causal da diferença, essa distinção foi
superada pela crítica do dualismo natureza x cultura e da existência de uma base
natural para a diferença. Ao mostrar que sexo é uma invenção e uma criação a partir
do gênero, as teóricas feministas abrem uma outra perspectiva de análise da diferença.
Particularmente em relação aos estudos de gênero no Brasil, nota-se uma certa
insistência na distinção sexo-gênero e no modelo dicotômico. É interessante se pensar
no fato de que a frase mais citada do texto mais citado em estudos de gênero no Brasil
“whether the particular biological difference in reproductive fonction that our culture defines as the
basis of difference between males and females, and so treats as the basis of their relationship, is used
by other societies to constitute the cultural categories of male and female” . (48)
10
11
Moore, 1999.
7
(o da Joan Scott, “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”), seja a que define
gênero da seguinte forma: “...o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos..”12. Pinçada de um texto em
que ela passa a maior parte do tempo fazendo a crítica do dualismo dicotômico e
afirmando que gênero é uma construção social, essa frase acaba indo de encontro ao
próprio pensamento da autora – e de seus escritos posteriores (a maior parte não
traduzida ou apenas muito recentemente traduzida no Brasil). Esse é tema para outro
trabalho, mas acho importante deixar claro que não estou afirmando que o viés
binarista que tem marcado grande parte dos estudos brasileiros no campo do gênero e
da sexualidade seja um efeito da “falta de tradução”. Ao contrário, mesmo esta é um
resultado da opção por uma determinada abordagem da diferença sexual, do gênero e
da sexualidade.
Gênero e sexualidade:
A carreira da sexualidade na antropologia é longa e envolve articulações não
apenas com gênero, mais recentemente, mas também, sobretudo nos primeiros
trabalhos, com parentesco e reprodução. Minha abordagem se atém aqui à discussão
mais recente, pós anos 70 e à relação entre sexualidade e gênero.
Assim como a distinção sexo e gênero foi fundamental para o entendimento da
construção social da diferença e do gênero, a distinção entre gênero e sexualidade
(que muitas vezes têm sido traduzida pela distinção psicobiomédica entre orientação
sexual e identidade de gênero) também foi e tem sido fundamental para a
desnaturalização da sexualidade. A busca por desnaturalizar modelos sociais
hegemônicos nas sociedades ocidentais modernas que colam sexualidade ao gênero
tem sido reforçada pela perspectiva etnográfica da antropologia, que dá uma
centralidade à pesquisa de campo e à necessidade de colocar em perspectiva o
discurso e os modelos “do outro” – mostrando o caráter construído desses modelos.
Mas aquilo que começou como uma premissa necessária para desfazer lógicas causais
de explicação de desvios sexuais ou identitários, conferidos por exemplo, em alguns
modelos psicobiomédicos a um suposto descolamento anormal entre práticas e
12
Scott, 1990: 14.
8
desejos sexuais e o sexo biológico da pessoa, acabou reificando as categorias e os
campos de análise.
Carole Vance, em seu artigo sobre antropologia e sexualidade (“A
antropologia redescobre a sexualidade”) faz uma crítica à confusão entre sexualidade
e reprodução, presente, segunda ela, já em alguns trabalhos de Margareth Mead13. No
entanto, mesmo Vance acaba atribuindo como causa disso a confusão entre
sexualidade e gênero (traduzida por ela em vários momentos como confusão entre
sexualidade e reprodução). Para ela o esforço de algumas teóricas feministas em ligar
gênero com sexualidade acabou utilizando a reprodução como meio de ligação e
como explicação da “inevitabilidade e naturalidade da subordinação das mulheres”. O
projeto de desbiologizar a sexualidade (ou seja, desvinculá-la da reprodução) se daria
através da desvinculação de gênero e sexualidade. Com efeito, parece que cada um
desses aspectos serviu como explicação natural do outro: a sexualidade, vista como
sinônimo de reprodução, era e foi ainda nos discursos sociais hegemônicos, tomada
como fundamento dos “papéis e identidades de gênero”; de outro lado, o gênero, ou
melhor, neste caso o sexo e a diferença sexual, vistos como também determinados
biologicamente, são por sua vez tomados, pelos mesmos discursos, como base para
explicar a complementariedade entre os sexos e a heterossexualidade compulsória. Há
um duplo aspecto no problema então: o primeiro é a relação de causa e efeito entre
sexualidade e gênero; o segundo é justamente o fato de que essa relação é pensada
através da naturalização, ou biologização do termo que é colocado como causa ou
fundamento do segundo: gênero (diferença sexual) para a sexualidade; sexualidade
(reprodução) para o gênero. Os/as autores/es que fazem a crítica do vínculo entre
gênero e sexualidade não levam em consideração o segundo aspecto, ou melhor, não
fazem a crítica do segundo aspecto, tomando como dado que, quando se relaciona
gênero e sexualidade, está se relacionando reprodução e sexualidade. Ou seja,
ontologizam tanto gênero quanto sexualidade. Mas se a crítica fosse não ao vínculo
gênero e sexualidade, mas à ontologização, à naturalização de cada um desses
aspectos, esse vínculo o vínculo entre gênero e sexualidade poderia ser pensado em
outro sentido, não em uma relação causal mas como processos articulados de
subjetivação.
13
Vance, 200: 45.
9
A proposta mais contundente de desvinculação entre gênero e sexualidade é a
de Gayle Rubin (sobretudo em seu artigo “Thinking Sex”), para quem sexualidade e
gênero são dois sistemas separados que devem ser analisados através de diferentes
grades e modelos explicativos. Em grande parte, essa proposta vem inicialmente em
reação a um momento em que parte do movimento feminista nos EUA estava voltado
à luta contra a pornografia, com algumas teóricas apresentando o feminismo como “o
campo privilegiado para a análise da sexualidade e”, segunda a crítica de Rubin, “para
subordinar a política sexual não apenas ao feminismo, mas a um tipo particular de
feminismo”. Também a própria definição de sexualidade a partir da idéia de práticas
sexuais, que se tornaram o foco de alguns de seus trabalhos e (no caso as práticas
sadomasoquistas) veio em reação ao que Rubin coloca como uma dessexualização da
sexualidade e sobretudo da homossexualidade feminina por algumas teóricas e
ativistas, que estendiam a lesbianidade a todo tipo amizade e apoio mútuo entre
mulheres (esvaziando, segundo Rubin, o conteúdo sexual dessas relações) – um
exemplo seria a proposta do continuum da lesbianidade de Adrianne Rich. Redefinir
sexualidade (e homossexualidade) a partir das práticas propriamente sexuais seria
uma forma de ressexualizar a sexualidade. O sistema do parentesco, central na análise
de Rubin do sistema sexo-gênero em “A circulação das mulheres...”, é sobreposto
pelo “sistema da sexualidade”.14
No entanto, se o conjunto da proposta de Rubin pode fazer bastante sentido
quando lida no contexto norte-americano do início dos anos 80, outras questões se
colocam, sobretudo quando o foco da crítica se desloca do discurso feminista ativista
ou acadêmico para os estudos sobre sexualidade ou, mais especificamente,
homossexualidade.
Judith Butler concorda com Rubin em que uma abordagem separada na
opressão sexual, incluindo, entre as “minorias sexuais”, queers, sadomasoquistas,
travestis, parceiros inter-geracionais e prostitutas, era uma “necessidade histórica” em
1984. Mas ela considera que a apropriação dessa posição pelos estudos gays e
lésbicos nos EUA, acabou reduzindo o sentido da categoria “minorias sexuais” – por
exemplo, ao recusar o domínio do gênero, os estudos gays e lésbicos se
desqualificariam para a análise da sexualidade transgênero.15 Butler contesta a
14
15
Tráfico Sexual – Entrevista, Gayle Rubin com Judith Butler.
Butler, ???, 13.
10
dessexualização do feminismo e a apropriação da sexualidade como o objeto
adequado dos L&Gstudies16.
Para ela a
“separação metodológica das questões de sexualidade das questões de
diferença sexual e de gênero... reintroduz o problema do feminino – e
do feminismo – como local do irrepresentável. [...] Se sexualidade é
concebida como liberada de gênero, então a sexualidade que está
´liberada´ do feminismo será aquela que suspende a referência ao
masculino e ao feminino, reforçando a recusa de marcar a diferença, o
que é o modo convencional pelo qual o masculino alcançou o status do
´sexo´que é um”. (Butler, ??: 23).
O que, para ela, se encaixaria com o conservadorismo em suas diferentes
formas de dominação masculina.
Ambas as autoras estão falando de dentro do contexto norte-americano de
disputas entre os campos dos lesbian and gay studies e dos estudos feministas – a da
definição dos objetos próprios (e adequados) de cada um dos campos. No Brasil, os
estudos acadêmicos estão menos politizados no sentido de segmentados de acordo
com as próprias políticas de representação. O grande impulso aos estudos de
sexualidade veio dos estudos de gênero, mas à medida em que as pesquisas de
sexualidade foram obtendo mais apoio e financiamento, foi se constituindo como um
campo autônomo, mesmo, conforme Heilborn & Brandão (1999), mantendo uma
relação íntima com o gênero.
Para usar um exemplo instigante e complexo da crítica que estou fazendo, eu
gostaria de citar o artigo de Sasho A. Lambevski, chamado Suck my nation –
Masculinity, Ethnicity and the Politics os (Homo)sex, no qual ele analisa os
obstáculos de classe e etnicidade nas novas formas de encontro homossexual e
engajamento emocional entre macedônios e albaneses na cena gay em Skopje17. Nesse
artigo, que se propõe a apresentar uma “etnografia experimental queer”18 (onde a
experiência compartilhada do etnógrafo como insider da cena gay combina-se com
uma perspectiva crítica) , Lambevski analisa as formas pelas quais as identidades de
classe e a etnicidade e o nacionalismo controlam os corpos e estruturam a cena gay
16
Butler, ???
Lambevski, 1999.
18
Idem: 399.
17
11
em torno dos eixos de masculinidade/feminilidade e atividade/passividade,
envolvendo homens brancos, cristãos da classe média macedônia e homens albaneses,
muçulmanos e vindos das classes trabalhadoras. A partir de uma análise da
microfísica do poder, nos códigos discursivos e nas práticas gays, o autor descreve
como as posições de poder no interior da sociedade macedônia se invertem na cena
gay: aqueles que estão no alto da escala social, ficam literalmente na “posição
inferior” (up and bottom), assumindo o que ele descreve como o papel feminino e
passivo na relação. Os jovens trabalhadores albaneses, destituídos de capital social e
cultural, detém o capital sexual e de gênero – são bonitos, jovens, viris, masculinos
(capital de gênero) e ativos – que falta aos macedônios de classe média (são vistos
como afeminados e sexualmente indesejáveis). Lambevski utiliza o modelo de
atividade/passividade sexual utilizado por Huseyin Tapinc em sua etnografia sobre as
homossexualidades na Turquia. Com variações, modelos similares são utilizados por
Fry e por Parker em seus trabalhos sobre homossexualidade no Brasil, onde as
identidades hetero e homossexual estão vinculadas às posições ocupadas nas práticas
sexuais (ativo/passivo). Para Tapinc, essas gradações vão do par hetero-ativo/ heteroativo (reduzida à prática da masturbação mútua e não considerada uma relação
homossexual), passando pelo par hetero-ativo/homo-passivo; homo-ativo/homopassivo, até o modelo homo/homo em que as posições ativo/passivo perdem a
relevância ou são intercambiáveis. Para Lambevski, a análise das práticas sexuais,
focadas nas dicotomias ativo/passivo e masculino/feminino seria a dimensão de
gênero da análise, articulada com as questões de classe e etnicidade. Sendo o segundo
e o terceiro modelo (o seja, hetero-ativo/homo-passivo e homo-ativo/homo-passivo)
os predominantes na cena gay macedônia, eles são tb modelos de construção e
reprodução de masculinidades hegemônicas.
Mas há um conjunto de outras questões que aparecem no texto de Lambevski
que a inclusão de uma análise do ponto de vista do gênero, para além das
classificações e da descrição das práticas sexuais, poderia proporcionar uma análise
mais complexa e mesmo evitar algumas lacunas ou equívocos na análise. Um
exemplo é quando o autor tenta explicar ou compreender o quadro em que homens
albaneses ativos, que não se afirmam homossexuais, acabam optanto por ter relações
com outros homens. Apoiado nas narrativas deles próprios, de que a “...comunidade
(nação) albanesa... depende da pureza e da castidade das mulheres”, o autor adere aos
modelos apresentados concluindo por uma teoria explicativa do comportamento dos
12
homens albaneses a partir da dificuldade em se engajarem sexualmente com mulheres
albanesas antes do casamento. É interessante ligar isso ao fato de que nenhuma
menção é feita à cena gay feminina e às lésbicas na Macedônia. A complexidade dos
cruzamentos que o autor faz entre práticas sexuais (incluindo o estupro de gays
macedônios por albaneses) e nação, etnicidade e classe, acaba se perdendo do pontode-vista de uma análise do gênero, acabando por reproduzir o senso comum e o
discurso local.
Esse é apenas um exemplo de algo que pode ser percebido em diversos outros
estudos que reproduzem o discurso da diferença sexual, ou reificam a diferença na
análise das práticas sexuais por exemplo, sem problematizá-lo do ponto-de-vista da
crítica de gênero ou da crítica feminista. No contexto desses estudos, gênero se reduz
a uma categoria descritiva da diferença sexual incorporada nas práticas sexuais. Além
disso
categorias naturalizadoras da diferença sexual acabam sendo reificadas e
reproduzidas em alguns desses estudos (por exemplo, homens são mais sexualizados e
ligados à obtenção do intercurso sexual propriamente dito; mulheres são menos
sexualizadas, mais afetivas e mais ligadas ao estabelecimento de vínculos amorosos).
Há um outro problema, apontado por Carole Vance, que apareceu nos estudos
de sexualidade pós AIDS e que estão relacionados ao aumento dos financiamentos de
pesquisa voltados especificamente à questão da sexualidade e da prevenção, que é a
medicalização e a patologização da abordagem da sexualidade. Para Vance (2002:47)
“corrida por financiamento”, apesar de positiva e importante em vários sentidos,
acaba criando a possibilidade de que “modelos inadequados e essencialistas” sejam
revividos e fortalecidos. Esses estudos influenciados pela perspectiva biomédica têm a
tendência de focar no inventário de atos, ao invés de explorar o significado, e
“equiparam identidades sexuais com atos sexuais [...] tratam ´homens gays´ e
´heterossexuais´ como categorias não problemáticas” , e mais adiante “reforçando a
dura dicotomia entre heterossexualidade e homossexualidade” (idem). Muitos desses
trabalhos na área de antropologia, ainda segundo Vance, dão ênfase à dados de
comportamento sexual (por exemplo, focados na questão do “comportamento de
risco” e do “sexo seguro”), “que parecem mais facilmente mensuráveis que fantasia,
identidade e significados subjetivos” (48). Vance localiza o problema desses estudos
na predominância, a partir da influência biomédica e da re-patologização da
sexualidade, um modelo interpretativo que ela descreve como o “modelo de influência
cultural” (não totalmente essencialista, mas que pressupõe que a grande variação
13
cultural das práticas sexuais se dá a partir de alguns fundamentos de base da
sexualidade) – e que a saída seria adotar um modelo teórico e interpretativo mais
radicalmente construcionista. Uma questão que eu colocaria para encerrar esta parte é
se, além de um modelo teórico que pense a sexualidade mais radicalmente do ponto
de vista de sua construção social, um dos problemas não seria justamente o da
autonomização excessiva do campo da sexualidade, sobretudo em relação ao campo
do gênero. Não apenas pensando gênero como mais uma variável a ser incorporada na
análise da sexualidade, mas tomando-se gênero como forma de subjetivação, não
como algo que os sujeitos tenham ou façam, mas como algo que constitui
subjetividades e é constituido por elas, gênero fundamentalmente como processo, não
como substância e a categoria de gênero não como meramente descritiva, mas como
uma categoria analítica e interpretativa desses processos de subjetivação. De outro
modo, como questionar a dicotomia hetero-homo, passivo-ativo, sem mobilizar e
entrar em diálogo justamente com o campo privilegiado de estudos da subjetividade e
da diferença.
Sem reduzir um ao outro, se sexualidade e gênero são pensados não como algo
que se tem, se é ou se faz, mas como processos ou aspectos centrais nos regimes de
subjetivação contemporâneos, há que se repensar a forma como, ao criticar as idéias
naturalizadoras que vinculam sexualidade e gênero em uma relação de causa e efeito,
se joga fora um instrumento conceitual fundamental para a compreensão desses
regimes de subjetivação e sobre como se constituem sujeitos gendrados.
Desejo e identificação
Gostaria de concluir trazendo uma breve reflexão sobre como as teorias
feministas do cinema tematizaram a questão do gênero e da sexualidade através da
discussão em torno das questões de desejo e identificação na constituição do olhar no
cinema. Grande parte das discussões entre as teóricas feministas, sobretudo no início
dos estudos feministas do cinema, deu-se em torno da questão do olhar no cinema
como sendo masculino. Os trabalhos de Laura Mulvey foram fundamentais em,
primeiramente questionar o olhar e o prazer visual no cinema narrativo clássico, e
posteriormente em redefinir o olhar masculino, como uma posição, um lugar, mais do
que o “olhar do homem”.
14
A análise de Mulvey, de que no cinema narrativo tradicional, o olhar (e a
subjetividade) é masculino, ativo e fálico19 acabou servindo de lastro para grande
parte da teoria e da crítica feminista do cinema. Numerosas leituras, reinterpretações e
críticas a essa tese do olhar como masculino foram produzidas no campo da crítica
feminista do cinema – grande parte dessas críticas focadas no que seria a ausência de
uma reflexão sobre um “olhar feminino” que pudesse ser contraposto ao masculino.
Uma série de aspectos relacionados à questão da sexualidade e do gênero são
mobilizados nesse debate, entre elas a o alinhamento da diferença sexual com a
dicotomia sujeito/objeto (do olhar), passivo/ativo, entre outras.20 Mary Ann Doane,
por exemplo, explora outros modelos para interpretar a justaposição entre diferença
sexual e diferenças no olhar. Ela desloca a oposição ativo/passivo na análise de
Mulvey para a dicotomia distância/proximidade. Haveria, para a espectadora
feminina, uma sobre-presença da imagem, ela seria a própria imagem. A possibilidade
de superação dessa proximidade – que impede a realização do processo semiótico (e
do conhecimento) por completo – seria romper com o voyerismo e o fetichismo
ligados ao espectador masculino. Doane utiliza o conceito de mascarada de Joan
Rivière para descrever duas formas dessa ruptura: uma ostentação excessiva de
feminilidade, que pode ser agora assumida e usada como uma máscara21; e mostrando
a personagem feminina como portadora e controladora do olhar. A mascarada ajudaria
a simular a distância crítica necessária entre a espectadora e a personagem – entre si
mesmo e sua própria imagem. Uma das questões centrais desse debate sobre o olhar
feminino no cinema é a do desejo e a da ruptura com a matriz heterossexual do desejo
e da sexualidade – e a questão de quanto essa ruptura não desestabilizaria a idéia de
uma imagem feminina correspondendo a um olhar masculino. Retomo aqui um
exemplo citado em outro artigo:
“Como a pergunta de Judith Butler22 em relação à música
cantada por Aretha Franklin, “you make me feel like a natural woman”
– e se quem escuta for uma mulher? Ou seja, o que significaria – tanto
para a produção quanto para a interpretação das imagens no cinema a
introdução de um desejo que escape da heteronormatividade. Jackie
Stancey, por exemplo, discute a questão do redimensionamento da
discussão sobre o olhar considerando os prazeres especificamente
19
Ver Introdução em Screen, 1992.
ver Doane, 1992.
21
Joan Rivière apud Doanne, 1992.
22
Butler, 1991.
20
15
homossexuais da mulher espectadora e a necessidade de repensar a
rígida distinção entre desejo e identificação23.”
A questão do desejo e da identificação é colocada por Stacey24 (e por outras
autoras, como De Lauretis e posteriormente Butler) para construir uma crítica ao que
ela considera duas ausências no argumento de Mulvey sobre o olhar masculino no
cinema (fundamentado na divisão entre desejo pela imagem – feminina – mostrada na
tela e identificação com essa mesma imagem): a questão da figura masculina como
objeto erótico e a questão do feminino como sujeito da narrativa e do olhar - e
especificamente, a questão do desejo feminino ativo e das intenções sexuais das
mulheres espectadoras em relação à mulher protagonista. Nesse último caso, o desejo
feminino ativo confluiria com a experiência de identificação. Segundo Stacey, “a
rígida distinção entre desejo e identificação, tão característica da teoria fílmica, falha
ao tratar da construção de desejos que envolvem uma troca específica de ambos os
processos” (257).
Teresa De Lauretis retoma essa discussão, ao questionar, como coloquei antes,
como recuperar ou organizar o olhar a partir desse lugar inicialmente visto como
“impossível” do desejo feminino, se, para a psicanálise, a jornada feminina é uma
jornada em direção à renúncia à capacidade de ação, à atividade, e a separação entre
desejo e identificação. Ou seja, esses dois aspectos, vistos como separados, mas que
na verdade são construídos como separados, são processos centrais de subjetivação.
Se, por um lado, é necessário desmistificar esse vínculo entre a norma sexual e
a constituição de sujeitos gendrados, entre sexualidade e gênero, por outro, é preciso
ter claro que esse vínculo se dá pela imposição de uma separação (de uma
desvinculação) entre identidade e desejo – é dessa forma que a norma sexual atua.
Em diversos textos Butler tem discutido como a norma sexual é central na
constituição de sujeitos gendrados – mas a única maneira de abordar esse processo é
pensá-lo em relação. E em seu último texto ela, em uma breve passagem, fala da
“melancolia heterossexual”:
“Nas ocasiões em que eu tentei elucidar uma melancolia heterossexual, ou seja uma
recusa do vínculo homossexual que emerge no interior da heterossexualidade
[daquela heterossexualidade, não de toda, a autora explica posteriormente] como
consolidação de normas de gênero (“Eu sou uma mulher, então eu não posso querer
uma”), eu estou tentando mostrar como uma proibição de certas formas de amor se
23
24
Jackie Stacey, 1992.
Stacey, 1992.
16
instalam como verdades ontológicas sobre o sujeito: o “sou” do “eu sou um homem”
codifica a proibição “eu não posso amar um homem”, então a pretensão ontológica
carrega uma força de proibição por si mesma.” (Butler, 2004:199)
Me parece que é essa pretensão ontológica da norma sexual e da sexualidade
(da proibição e da prescrição) que se constitui em um dos regimes centrais de
subjetivação nas culturas contemporâneas, e ela só pode ter seu pleno significado
compreendido se analisada enquanto regime de subjetivação e em diálogo com outros
processos de subjetivação.