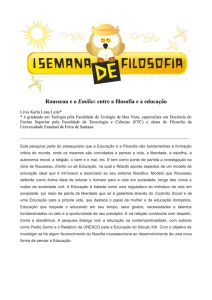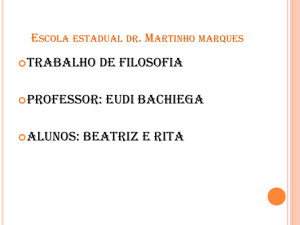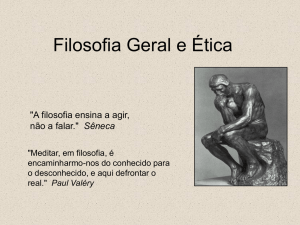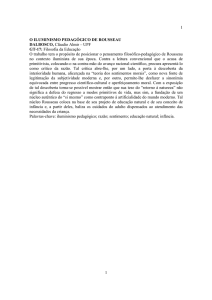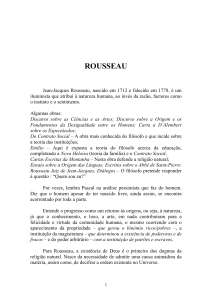Enviado por
common.user10001
Como ler Jean-Jacques Rousseau (Como ler filosofia) by José Benedito de Almeida Junior [de Almeida Junior, José Benedito] (z-lib.org)
![Como ler Jean-Jacques Rousseau (Como ler filosofia) by José Benedito de Almeida Junior [de Almeida Junior, José Benedito] (z-lib.org)](http://s1.studylibpt.com/store/data/006266445_1-29952f1b35cb1ef470a3c6599f74f1ec-768x994.png)
2 Índice Introdução Parte 1 Capítulo 1 - Condenado em Paris e Genebra Capítulo 2 - Infância e juventude Capítulo 3 - Enfim, a celebridade Capítulo 4 - Os últimos anos Parte 2 Capítulo 5 - O discurso sobre a desigualdade Reações ao Discurso sobre a desigualdade Conclusão Capítulo 6 - O contrato social O pacto social Soberano Vontade geral Governos Religião civil Capítulo 7 - Julie ou a Nova Heloísa Capítulo 8 - Emílio ou da Educação Os cinco livros Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 Livro 5 A educação da natureza A educação intelectual Educação moral Sofia, ou a mulher. A educação feminina A profissão de fé do Vigário de Saboia. A educação religiosa. Emílio e Sofia, ou os solitários Epílogo Referências 3 Introdução Provavelmente, o amigo leitor já deve ter ouvido falar em Rousseau. Em geral, é lembrado por ter defendido a ideia de que “o ser humano é bom por natureza e que é a sociedade quem o corrompe”. Podemos dizer que essa frase resume, de forma adequada, seu pensamento; no entanto, é preciso entender quais argumentos sustentam essa tese. O que o amigo leitor talvez não tenha ouvido falar sobre Rousseau é que sua vida foi cheia de aventuras, dificuldades, conquistas, não parecendo em nada com a vida de um filósofo, como estamos acostumados a imaginar: sentado em seu escritório, “em sua torre de marfim”, isolando-se do mundo para pensar sobre ele; ou ainda, um douto acadêmico, vivendo entre livros de autores diversos, passando a vida a não pensar, senão pela cabeça alheia. O nosso filósofo viveu entre os homens de seu tempo: artistas, intelectuais, pessoas da corte, camponeses; conheceu grandes dificuldades financeiras e momentos de relativa tranquilidade. Este livro será dividido em duas partes: na primeira, apresentaremos o homem Rousseau, como ele viveu e a importância que as situações existenciais pelas quais passou exerceram na composição de suas obras. Tal proposta é, ao mesmo tempo, fácil e complexa. Fácil porque Rousseau escreveu mais de uma autobiografia: As confissões; Rousseau, juiz de Jean-Jacques e Os devaneios do caminhante solitário; além das cartas, que formam um volume considerável de material de pesquisa, sendo as Cartas a Malesherbes o conjunto mais importante. A complexidade da tarefa reside no fato de que deveremos selecionar algumas informações, em meio a inúmeras, sobre as situações de sua vida: pessoas com quem se relacionou, seus sentimentos, suas faltas, seus sucessos, os lugares onde morou, os motivos que o levaram a escrever suas obras. A segunda parte deste livro apresentará quatro das principais obras de Rousseau: O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; Contrato Social; Julie ou a Nova Heloísa e Emílio ou da Educação. Nessa etapa, interessa-nos somente a elaboração dos conceitos, a argumentação, a articulação de seu pensamento em suas obras, em suma, enquanto a primeira parte oferece uma apresentação das relações entre “vida e obra”, a segunda nos traz uma apresentação das relações “entre as obras”, analisando alguns dos principais conceitos de Rousseau. Espero que nosso trabalho agrade ao leitor e que seja um estímulo para futuras leituras de Rousseau, em particular, e dos filósofos em geral. Jean-Jacques Rousseau não se formou nem nos colégios, nem em academias; não foi, exatamente, autodidata, pois estudou com mestres das mais diferentes áreas: 4 latim, música, botânica, química, aritmética, entre outras. Sua infância e adolescência foram marcadas pelas leituras das obras dos grandes historiadores Suetônio, Heródoto e aquele que exerceu maior influência em seu pensamento, Plutarco; além de romances que estimularam sua imaginação, como Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. Para Ernst Cassirer, vida e obra de Rousseau estão profundamente ligadas. Para ele: “Estes dois aspectos são tão intimamente ligados que toda tentativa de dissociá-los comete uma violência à pessoa e à obra (CASSIRER, 1987, p. 13). Rousseau buscou sempre a liberdade. Em relação aos meios de sobrevivência, não se sentia à vontade tendo de garantir seu sustento trabalhando diretamente com algum poderoso de sua época. Quando pôde, escolheu suprir suas necessidades com os recursos oriundos de suas obras e também como copista de partituras, trabalho autônomo que lhe dava prazer e não o colocava na dependência de ninguém em particular. Em relação ao seu pensamento, não aceitou a autoridade ancorada em títulos acadêmicos ou de nobreza, assim, declarou de modo corajoso no prefácio do Emílio: “E se por vezes adoto o tom afirmativo, não é para influir no espírito do leitor, e sim para lhe falar como penso. Por que proporia em forma dubitativa aquilo de que pessoalmente não duvido? Digo exatamente o que se passa no meu espírito” (1992, p. 6). Mais adiante, na mesma obra afirmou: Leitores, lembrai-vos sempre de que quem vos fala não é um sábio nem um filósofo, e sim um homem simples, amigo da verdade, sem partido, sem sistema; um solitário que, vivendo pouco com os homens, tem menos oportunidades de se imbuir de seus preconceitos e mais tempo para refletir sobre o que o impressiona quando com eles vive (1992, p. 101). Esse parágrafo nos remete à frase que melhor define Rousseau, escrita no Emílio: “Leitores vulgares, perdoai meus paradoxos; é preciso fazê-los quando se reflete; prefiro ainda ser homem a paradoxos do que homem a preconceitos” (1992, p. 79). Este é o melhor retrato de Rousseau: não temeu dizer, em Paris, que as ciências e as artes reduziram o apreço dos homens pela honra e pela cidadania; que, para a educação, trata-se mais de perder tempo do que ganhar; que os caraíbas são metade mais felizes do que os europeus. Para seu próprio dissabor, na maior parte das vezes, não soube calar o que pensava e sentia. Em determinado momento definiu a si mesmo como um “coração de cristal”, não somente por amar a transparência, mas, acima de tudo, por não poder ser diferente: “Viram que, durante toda minha existência, o meu coração, transparente como o cristal, nunca pôde esconder, por um minuto inteiro, um sentimento um pouco mais ardente que ali se refugiasse” (1965, p. 476). Starobinski (1991) explicou bem os inúmeros significados desse amor pela transparência. O teórico observou que, para Rousseau, é nas mãos do homem que tudo degenera (citando o Emílio), e não no coração. Ao menos no dele, Jean-Jacques, pois, como afirma várias vezes, cometeu uma série de erros, de equívocos, mas seu 5 coração não estava tomado pelos vícios. A transparência se opõe aos obstáculos, assim como a liberdade do campo aberto se opõe à da cidade. Quando expusermos, na primeira parte, algumas peripécias de sua itinerância pela vida, veremos Rousseau falar de dois assuntos que estarão presentes em sua obra o tempo todo, talvez com exceção única do Contrato social: a vida na sociedade e os amores. Sendo um homem de seu tempo, frequentou salões. Segundo Badinter: Manter um salão foi a atividade mais comumente procurada pelas mulheres. Sinal de sua liberdade, pois elas podiam receber a quem quisessem, era também a ocasião de verificar seu poder e interesse pelas suas pessoas. Não sendo mais a Corte, desde o fim do reinado de Luís XIV, o lugar exclusivo da vida mundana, algumas mulheres tentaram recriar em torno de si minúsculas cortes. À maneira do Rei Sol, esses pequenos astros procuravam atrair para sua órbita o máximo de personagens notórios. A qualidade dos convidados testemunhava seu poder de atração (2003, p. 36). Assim, acompanharemos Rousseau, ora sob a proteção de Madame de Warens, ora sob Madame Dupin, ora sob Madame d’Épinay, Madame Luxembourg e outras. O solitário Jean-Jacques via-se em meio à sociedade e ainda mais, obrigado a participar dos jantares e reuniões nas quais, muitas vezes, não se sentia bem, porque, no jogo social em que as máscaras contam mais do que aquilo que as pessoas realmente sentem e pensam, sua tendência à transparência fazia dele um alvo certo para as intrigas. No Discurso sobre as ciências e as artes, inaugurou o tema que continuaria perseguindo em outros trabalhos: a diferença entre ser e parecer; entre aquilo que se diz e o que se faz. Um episódio significativo de sua vida pode ser conhecido por meio da narrativa de um de seus perseguidores, o Barão d’Holbach; evidencia o apreço de Rousseau pela transparência e seu mal-estar perante os costumes dos homens de letras. Um jovem padre, autor de uma tragédia, apresentava sua composição no salão do Barão d’Holbach, no qual estavam presentes Grimm, Diderot, Rousseau, o próprio Barão e outros ilustres convidados. Como, durante a apresentação, parte dos convidados estava debochando do jovem, Rousseau não se conteve e levantando-se disse: “Sua peça e seu discurso não valem nada, todo mundo está caçoando do senhor, saia daqui e volte para a sua paróquia!” (MATOS, 2009, p. 21). O Barão d’Holbach, no registro de suas memórias, acreditava que a raiva de Rousseau fosse momentânea, pois ele abandonou furioso o salão; porém, desde então, ela só cresceu. O que teria ofendido Rousseau? Alguma passagem da tragédia composta pelo jovem padre? Não. O que o ofendeu fora a atitude de seus colegas que zombavam cruelmente de uma pessoa. Dentre outros assuntos que vieram a se tornar um dos mais importantes para o nosso autor, está, sem dúvida, o amor. Rousseau olhava com certa indignação a instituição social dos amores clandestinos que, àquela época, eram aceitos por todos; desde que não fossem públicos, mas ocultos em alcovas. Assim, vemos a expressão “Madame Fulana (sobrenome do marido), amante de Beltrano” com frequência. A maior paixão de Rousseau, Sophie d’Houdentot, tinha por amante o jovem Saint6 Lambert. Rousseau perdoava-lhe a adesão ao costume da época, pois seu casamento, como muitos, fora arranjado, e não havia qualquer chama de amor entre ela e o marido, tendo sua honra salva por sua “fidelidade ao amante”. Rousseau aceitou o mesmo costume, em outro momento, e até certo ponto, por parte de Madame de Warens, sua “mamãe” e primeira protetora. Quanto à educação, vemos Rousseau apontar constantemente, no Emílio e em Julie ou a Nova Heloísa, que, embora a educação coubesse aos pais, as famílias não estavam cumprindo esse dever sagrado. As mulheres de posses renunciavam à tarefa de cuidar dos filhos e de outros deveres domésticos. Sobre esse assunto, Badinter afirma: “O mínimo que se pode dizer é que o ideal materno e caseiro não estava em moda. Mesmo para as burguesas mais favorecidas era repugnante cuidar de seus filhos e realizar seus deveres domésticos” (2003, p. 35). Da mesma forma, o amor conjugal também não estava em moda: “Como a libertinagem substituíra a paixão, que se tornara fora de moda, como o amor conjugal ainda não era de uso [...]” (2003, p. 35). Como dissemos, Rousseau escreveu muito sobre si, em suas autobiografias Confissões, Rousseau, juiz de Jean-Jacques: diálogos e Devaneios do caminhante solitário. Mas por que o fez? Quando começou a ser perseguido pelos inimigos, alvo de intrigas, percebeu que dele falavam pelas costas. Resolveu, então, dizer a verdade toda: quem ele era, o que fez e o que a ele disseram ou fizeram, tudo por escrito, para mostrar que nada tinha a esconder da sociedade e, se era para falarem de sua vida, de suas atitudes e, especialmente, de suas faltas, então, ele mesmo o faria. Assim, leu as Confissões nos salões, até que Madame d’Épinay o impediu, por meio da justiça, que fizesse leituras públicas. Acompanhar essas autobiografias nos ajuda a entender a gênese das obras de Rousseau, mas não é o suficiente para compreendê-las totalmente. Embora o estudo da biografia nos faça compreender alguns elementos do contexto no qual as ideias foram desenvolvidas, um segundo passo faz-se necessário para entendermos a complexidade do universo conceitual no qual essas ideias estão imersas. Assim, como dissemos, na segunda parte deste trabalho, dedicar-nos-emos a analisar os conceitos e os princípios que constituem algumas de suas obras fundamentais. A escolha dessas obras é dirigida pelo próprio Rousseau em uma passagem das Confissões, quando se queixa da censura imposta às obras de 1762: Tudo o que há de atrevido no Contrat social já surgira antes no Discours sur l’Inégalité; tudo o que há de audacioso em Émile já o era em Julie. Ora, essas afirmativas audaciosas não excitaram nenhum escândalo contra as duas primeiras obras, logo, não foram elas quem o excitaram contra as duas últimas (1965, p. 435). Vamos, pois, à vida do nosso “coração de cristal”, homem de paradoxos, por vezes rabugento, medroso, mas também heroico e, acima de tudo, autêntico. 7 Parte 1 8 Capítulo 1 Condenado em Paris e Genebra Rousseau atravessou Paris em uma carruagem modelo cabriolé que, sendo aberta, não era adequada para quem estava tentando passar incógnito. Depois de muita insistência dos amigos, resolveu partir da França para pôr-se a salvo da perseguição que o aguardava. Provavelmente, já tomado pelo delírio que acompanha os perseguidos, achou que muitas pessoas o cumprimentavam, sem que conhecesse nenhuma delas. No caminho entre La Barre e Montmorency, passou por um carro de aluguel, ocupado por quatro homens de preto que, como aquelas pessoas desconhecidas, o saudaram sorrindo. Mais tarde soube por Thérèse que, pelo aspecto que apresentavam e pela hora em que chegaram, deveriam ser os meirinhos encarregados de prendê-lo. No mesmo ano (1762), o Contrato social e o Emílio foram publicados e, em poucos meses, censurados; Rousseau foi condenado à prisão em Genebra e Paris. Sua obra conseguiu desagradar gregos e troianos, ou mais precisamente, protestantes e católicos. Como ele mesmo afirma, não é de se espantar que seus livros contenham erros – de raciocínio e de doutrina –, porque sendo humano está condenado a falhar; ele mesmo, relendo o que escreveu, percebeu inúmeros erros. Sua revolta diante dessa situação foi motivada pelo fato de que, em ambos os casos, o autor foi condenado sem direito a defesa. Primeiramente decretou-se sua prisão, depois lhe concederiam o direito de se defender. Ele até estava disposto a se entregar, mas os amigos advertiram-no de que não deveria se deixar prender, pois não era um julgamento justo que o aguardava. Em Paris, houve a censura do arcebispo Christophe de Beaumont em sua Carta Pastoral, na qual advertia os fiéis de que o Emílio era um livro ímpio e proibia sua leitura. O arcebispo afirma: “[...] em uma palavra, tenta conciliar as luzes e as trevas, Jesus Cristo e Belial. E tal é especialmente, meus caros irmãos, o objetivo que parece estar proposto em uma obra recente, intitulada Emílio ou da Educação” (2005, p. 36). Logo depois da censura pela Igreja, o Parlamento decreta a prisão do autor e os meirinhos, citados no primeiro parágrafo, recebem ordem de prendê-lo. Em Genebra, um mesmo processo censurou as obras, tanto o Emílio quanto o Contrato Social, e condenou o autor à prisão. Lentamente, o caso Rousseau foi tomando corpo em sua cidade natal, movido especialmente por uma atitude radical de Rousseau: ele renunciou à cidadania genebrina, porque se sentiu abandonado por seus amigos. A partir daí, alguns amigos e parentes resolveram apresentar as 9 “representações”; na linguagem jurídica de hoje, seria algo como recursos contra a decisão do tribunal. Não obtendo sucesso, pediram que o próprio Rousseau escrevesse sua defesa. Por fim, quando o caso ganhou as proporções políticas que tinha, aparece um texto anônimo que defendia as decisões do tribunal contra Rousseau; o texto é intitulado As cartas escritas do campo. Não levou muito tempo para que se descobrisse o autor: Jean-Robert Tronchin, o procurador-geral do Pequeno Conselho, isto é, o mesmo homem que havia escrito a peça jurídica de condenação de Rousseau! Como diz Tronchin, “estes livros são ímpios, escandalosos, temerários, cheios de blasfêmias e de calúnias contra a religião. Sob a aparência de dúvidas, o autor aí reuniu tudo que visa solapar, abalar e destruir os principais fundamentos da religião revelada. Atacam todos os governos” (2006, p. 689). Contra a Carta pastoral, Rousseau redigiu sua Carta ao Arcebispo Christophe de Beaumont. Em sua resposta, Rousseau argumenta que não faz sentido censurar o Emílio sendo que outras obras do autor, como O discurso sobre a desigualdade (1754) e Julie ou a Nova Heloísa (1761) continham ideias muito semelhantes às do Emílio e não foram censuradas. Questiona também como o Parlamento de Paris se dá o direito de condenar um estrangeiro, por um livro impresso na Holanda. Curiosamente, a frase mais conhecida de Rousseau sobre sua fé encontra-se na Carta a Christophe Beaumont: “Sou cristão, senhor Arcebispo, e sinceramente cristão, segundo a doutrina do Evangelho. Sou cristão não como discípulo dos padres, mas como discípulo de Jesus Cristo” (2005, p. 72). Sendo assim, com tal declaração de fé de cunho absolutamente protestante, era de se esperar que ele fosse aclamado em Genebra pela resposta tão enfática ao arcebispo da Igreja Católica, mas qual! Em sua terra natal as coisas ficaram tão ou mais difíceis. Contra as Cartas escritas do campo redigiu as Cartas escritas da montanha. Essa obra retoma vários argumentos que Rousseau havia exposto sobre a religião: problemas relativos aos milagres, à revelação, aos profetas; retoma, também, as implicações políticas do protestantismo, que, em sua opinião, deveria primar pela liberdade religiosa e de interpretação do Evangelho. Encontrou tanta intolerância do lado dos calvinistas de Genebra quanto do lado dos católicos. Sua mágoa, porém, foi ainda maior porque supunha que suas obras deveriam ter sido bem recebidas em sua pátria: Quanto mais me orgulhava de ter prestado serviços à Pátria, mais cruelmente fui ultrajado. Se minha conduta necessitasse de aprovação, poderia razoavelmente esperar obtê-la. No entanto, com um afã sem exemplo, sem advertência, sem citação, sem exame, precipitaram-se em atingir meus livros. Fizeram mais: sem se preocuparem com meus sofrimentos, com meus males, com meu estado, decretaram minha prisão com a mesma precipitação, nem sequer evitaram os termos que são empregados para os malfeitores (2006, p. 147). Em Genebra, a situação política agravou sensivelmente a situação de Rousseau: além das questões de fé, os motivos sociopolíticos levaram à sua perseguição. Genebra tinha por volta de vinte mil habitantes e era caracterizada, do ponto de vista 10 político, por ser uma república e, do ponto de vista religioso, pelo calvinismo. Nem todos os que habitavam essa cidade tinham direitos políticos plenos. A população era dividida nos seguintes grupos: patriciado, burguesia, habitantes, nativos, estrangeiros e súditos. O patriciado, ou aristocracia, e os burgueses eram os únicos que tinham os direitos políticos e econômicos, portanto podiam votar e ser eleitos para os órgãos de administração da cidade, exceto para o Pequeno Conselho do qual participavam somente as famílias tradicionais. Os burgueses haviam comprado seus direitos e se estabeleceram historicamente em Genebra, em decorrência da fuga das regiões onde havia intolerância. Os habitantes eram estrangeiros que haviam comprado o direito de residência em Genebra, mas esse direito podia ser revogado a qualquer momento. Os nativos eram filhos dos estrangeiros, tinham direitos econômicos restritos e não participavam de forma alguma do poder; além disso, sobre eles recaíam pesados impostos. Os estrangeiros moravam temporariamente em Genebra, muitas vezes esperando obter direitos na condição de habitantes. Por fim, os súditos eram soldados mercenários ou camponeses dos territórios submetidos a Genebra e eram proibidos de adquirir os direitos de burguesia. Em suma, havia dois grupos dominantes em Genebra que dispunham de direitos políticos e detinham o poder. De um lado, uma aristocracia financeira, e, de outro, a burguesia. Os dois principais órgãos do governo eram o Conselho Geral ou Conselho dos Duzentos, composto por duzentos e cinquenta cidadãos, que exercia o papel legislativo e o Pequeno Conselho, composto por vinte e cinco pessoas, que exercia o papel de executivo. A aristocracia genebrina dominava o Pequeno Conselho e utilizou esse órgão para concentrar ainda mais poder para si. No início do século XVIII, o caso “Pierre Fatio” levou a uma dura repressão contra a burguesia que tentara restaurar seus direitos que lentamente vinham sendo perdidos. Novas tentativas de revolta ocorreram durante esse século e, como reação a elas, a aristocracia fechou-se ainda mais no domínio desse conselho. Rousseau herdara a condição de burguesia de seu pai, e, desde que adquirira a celebridade, tornara-se um nome para a luta contra a concentração de poder pela aristocracia. Sua condenação foi mais um golpe do patriciado contra a burguesia. Condenar Rousseau e suas obras era mais um sinal do poder do patriciado sobre os interesses dos burgueses. Ao final das Cartas escritas da montanha, Rousseau incita seus conterrâneos burgueses a lutarem pelos seus direitos, para que não se tornem escravos nem do patriciado, nem da França. O Emílio e o Contrato Social são obras gêmeas. Foram finalizadas ao mesmo tempo e publicadas no mesmo ano, 1762. Rousseau esperava publicar o Emílio antes do Contrato, afinal, ele contém um resumo dessa obra, mas isso não ocorreu. Trataremos, na segunda parte deste livro, das ligações conceituais entre essas obras. Agora, o leitor poderia se perguntar: qual era a consciência que Rousseau tinha do impacto que suas obras causariam? Desconfiava ele de que um dia seria motivo de tantas perseguições? 11 Quando recebeu alguns exemplares do Emílio para a avaliação final, enviou-os a alguns amigos para que lessem e lhe dessem um parecer. Rousseau percebera pelas atitudes desses leitores que as coisas ficariam difíceis. Malesherbes e Madame Boufflers enviaram cartas comentando a obra e pedindo, ao final, que ele devolvesse aquelas correspondências. D’Alembert enviou uma carta sem assinatura. Duclos evitou falar-lhe sobre o livro por escrito e somente Clairaut não teve qualquer receio de elogiar o Emílio. A reação mais significativa foi a de Blaire, que, ao devolver-lhe o original, enviou-lhe o seguinte comentário: “eis um livro muito belo, mas do qual dentro em pouco se falará mais do que o autor desejaria” (1965, p. 574). Por mais que seus amigos o advertissem, obstinava-se em não dar a atenção que o assunto merecia. Não tinha, com certeza, ideia da perseguição que o aguardava. Ele mesmo declara mais adiante que, apesar dos “surdos ribombos que antecedem a tempestade” darem seus sinais, nada receava, pois estava convicto de sua retidão e inocência. Rousseau, em vez de se esconder, continuava exposto à sociedade, conforme relata em suas Confissões: “No dia 8 de junho, véspera do decreto, fiz meu passeio com dois mestres da oratória, o padre Alamanni e o padre Mandard. Levamos para Champeaux uma merenda que comemos com apetite” (1965, p. 614). Desde o momento em que foi condenado e as ordens de prisão expedidas, Rousseau teve de se abrigar com os amigos dispostos a protegê-lo. Viveu em Yverdon, Neuchâtel e Moitiers. Um dos problemas que enfrentou foi o de evitar que sua companheira Thérèse (de quem falaremos mais adiante) sofresse ainda mais, participando dessa sua vida itinerante, sem lar fixo. Por algum tempo ela residiu em Paris, depois veio ficar com ele em Moitiers, onde um dos mais contundentes episódios de sua vida se passou. Sua casa foi apedrejada por populares, instigados pelas constantes intrigas que envolviam seu nome e o tornavam indesejado onde quer que estivesse. À meia-noite, ouvi grande barulho na galeria que dava para a parte de trás da casa. Grande quantidade de pedras jogadas contra a janela e contra a porta que davam para aquela varanda, caíram ali com tanto ruído que o meu cão, que dormia na varanda e que tinha começado a latir, calou-se apavorado e se refugiou num canto, rosnando e arranhando o chão para procurar fugir. Ao ouvir o barulho, eu me levanto; ia sair de meu quarto para ir à cozinha, quando uma pedra, lançada por mão vigorosa, atravessou a cozinha depois de ter quebrado a vidraça, veio abrir a porta de meu quarto e caiu junto a meu leito; de modo que, se tivesse me adiantado um segundo, receberia uma pedrada no estômago. Julguei que o barulho fora feito para me atrair e a pedra jogada para pegar-me quando saísse. Ali encontro Thérèse que, tendo se levantado também, toda trêmula abraçou-se comigo. Encostamo-nos à parede, fora da direção da janela, para evitar as pedras e deliberar sobre o que tínhamos a fazer: pois sair para buscar socorro seria o meio de fazer com que nos matassem (1965, p. 670-671). Entre inimigos que o difamavam incessantemente e amigos que o protegiam, Rousseau foi à procura de um lugar onde pudesse “passar sua velhice em paz”, segundo suas próprias palavras. O processo em Genebra ainda estava correndo, mas ele não tinha outra pretensão senão a de se dedicar a sua nova paixão, a botânica, e de simplesmente existir. Nesse ínterim surgiu uma oportunidade que lhe agradou muito: 12 morar na ilha de Saint Pierre, em Berna. Ali, teria a oportunidade de ficar no recolhimento que tanto desejava. Curiosamente, ele que, até então, quis viver em meio à sociedade e fruir das vantagens de ser conhecido e célebre, queria encerrar seus dias completamente isolado naquela ilha, onde habitava o cobrador com sua família e alguns empregados. Ali se estabeleceu com sua querida Thérèse, mandou vir seus livros que nem sequer tirou das caixas. Tudo parecia estar de acordo. Registrando a botânica da ilha, começou a escrever sua obra Flora Petrinsularis. Assim descreveu esse momento: Portanto, de certo modo eu me despedia de meu século e de meus contemporâneos, e dava meu adeus ao mundo ao confinar-me naquela ilha para o resto de minha vida; porque essa era minha intenção e era lá que eu contava executar por fim o grande projeto de vida ociosa, ao qual até então tinha consagrado inutilmente o pouco de atividade que o céu me concedera. Aquela ilha ia tornar-se para mim a de Papimanie, aquele bem-aventurado país onde se dorme (1965, p. 676). Não é que deu tudo errado novamente? Veio uma mensagem oficial dizendo que ele deveria se retirar da ilha e dos territórios de Berna. Rousseau, num primeiro momento, achou que se tratava de uma mentira, alguém querendo atormentar-lhe a alma, mas depois a realidade se impôs e ele percebeu que deveria deixar sua pequena ilha. De lá partiu para a Inglaterra, em 1765, aceitando a cortesia que o filósofo inglês David Hume tão gentilmente lhe oferecera para escapar das perseguições implacáveis que lhe atormentavam no continente. O livro As confissões acaba com Rousseau partindo para a Inglaterra, que deixou mais tarde tendo certeza de que Hume também era um de seus secretos inimigos. Depois ele voltará ao assunto dos acontecimentos de sua vida nas obras Diálogos: Rousseau, juiz de Jean-Jacques e Os devaneios do caminhante solitário. Deixemos Rousseau por aqui, partindo para a Inglaterra, um tanto de má vontade, e suponhamos que, enquanto viajava, refletiu sobre sua vida, tentando entender por quais caminhos e descaminhos Jean-Jacques teria chegado a essa situação. 13 Capítulo 2 Infância e juventude Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, em 1712. Sua mãe morreu por consequência de um parto difícil, e ele foi criado pelo pai, juntamente com seu irmão mais velho que, alguns anos depois, deixou a família e “perdeu-se na vida à custa de aventuras”;1 dele, Jean-Jacques nunca mais ouviu falar. Aprendeu a ler com o pai e passava noites a fio mergulhando em obras que influenciaram sua forma de ver o mundo. Pelos romances e as obras clássicas de autores como Heródoto e Plutarco aprendeu a conhecer o coração dos homens e tomou um gosto inequívoco pelos estudos. No século XVIII, a Europa não conhecia os sistemas públicos de ensino; em termos de educação coletiva havia os colégios católicos ou protestantes, onde se ensinava o que hoje pode ser considerado o currículo das escolas de educação básica. Esses colégios eram frequentados por alunos cujos pais tinham condições de pagar bastante caro pelo estudo dos filhos e alguns outros que conseguiam suas vagas por meio da caridade. Nas Considerações sobre o governo da Polônia, Rousseau insiste que a educação é o principal tema da legislação e que deveria haver leis específicas para ela. Critica, também, as diferenças tradicionais entre os colégios (para a nobreza pobre) e as academias (para a nobreza rica). Segundo ele, “todos sendo iguais pela constituição do Estado, devem ser educados juntos e da mesma maneira e, se não se pode oferecer uma educação pública totalmente gratuita, é preciso ao menos oferecêla a um preço que os pobres possam pagar” (1982, p. 37). Eis Rousseau acenando para uma necessidade que iria se tornar a peça crucial para a formação dos Estados burgueses: a instituição de uma educação pública. Assim, àquela época, quem desejasse oferecer uma educação escolar aos filhos poderia seguir dois caminhos. O primeiro era trilhado por aqueles que tinham grandes recursos financeiros, como a maioria dos membros da aristocracia e a burguesia rica, implicando a contratação de um preceptor, isto é, de um professor que ia até a casa dos seus alunos para ensiná-los de forma integral, ou seja, todas as “disciplinas” e ao longo de várias horas por dia. Assim, o preceptor era contratado para trabalhar com uma família. Quando essa família morava no campo ou em lugares próximos das cidades, mas com acesso difícil, o preceptor passava a morar na casa da família, enquanto tivesse o contrato para ensinar as crianças ou adolescentes. Outro expediente era mandar as crianças regularmente à casa de um preceptor que 14 recebia os alunos por algumas horas para ensiná-los. Isso também acontecia quando se queria aprofundar em alguma ciência em particular – por exemplo, um jovem querendo estudar mais matemática, geometria, química, segundo podemos ver pela própria experiência de Rousseau. Por fim, esse expediente nos lembra um pouco o que temos hoje com professores autônomos de música que muitas vezes vão até a casa dos alunos ou os recebem em suas próprias casas, no entanto, essas aulas mal duram uma hora. Durante sua primeira infância, estudou livremente com o pai e a tia, amando a música, a literatura, a história. Um acontecimento inusitado, porém, fez com que os rumos de sua educação mudassem. O pai de Rousseau teve uma contenda com um capitão e teve de fugir da cidade para não ser injustamente preso. A partir daí, Rousseau ficou sob os cuidados de um tio que residia na aldeia de Bossey; ali conheceu a educação formal e o campo, que se tornaram temas importantes na sua vida. Na educação, viria propor – como vimos mais acima – uma completa revolução, na qual o Estado assumisse a responsabilidade pela educação de todos. Quanto ao campo, continuou sendo seu modelo ético contra os modos de vida, os costumes, e, portanto, os vícios da cidade. Rousseau deixou essa fase de estudos na infância quando teve que lidar com uma importante instituição social da época: o trabalho, e a consequente escolha de uma profissão. Era preciso que os jovens aprendessem uma profissão para garantir seu sustento desde os onze anos, idade hoje considerada muito precoce. O modo pelo qual se adentrava em uma prática profissional era o jovem ir trabalhar com um profissional na função de aprendiz, recebendo, além do salário, também a estada na casa de seu mestre. Para Rousseau, esses foram os anos nos quais alguns dos vícios da sociedade entraram em seu coração. Por conta da violência e dos maus-tratos do seu patrão, aprendeu a mentir, enganar, praticar pequenos furtos, que considerava como uma espécie de vingança contra o patrão malvado. O ofício que Rousseau aprendia na casa do senhor Ducommun era o de gravador. Em Genebra, o artesanato era uma das atividades mais profícuas e seus produtos tinham presença em toda a Europa. Uma arte ligada à dos relojoeiros era a de gravador, o artesão que imprime brasões, iniciais, desenhos nos relógios e nos metais em geral. Ora, certa vez, o jovem aprendiz foi pego fazendo pequenas medalhas com belos brasões, posto que desenhar e trabalhar com o buril eram ocupações que o agradavam, com as quais ele e os colegas de aprendizado brincavam, sem se dar conta de que desperdiçavam tempo e material; vendo a arte do garoto, o patrão o “moeu de pancadas”. O coração juvenil foi se revoltando não apenas com essa situação em que se encontrava, como também com o hábito de castigar fisicamente crianças e jovens como forma de educação. O episódio mais marcante desse período, porém, ocorreu quando, por volta de dezesseis anos, o jovem Jean-Jacques empreendeu uma aventura que mudaria o rumo 15 de sua vida. Ele mesmo diz que, se tivesse tido a sorte de servir a um bom patrão, talvez tivesse ficado no seio de Genebra, feliz com sua pátria e sua religião, tendo uma vida, se não rica, ao menos confortável. Aos domingos, Jean-Jacques costumava passear com os amigos fora dos muros da cidade de Genebra. Nesses momentos, entregava-se à liberdade com tanto afã que, por duas vezes, esqueceu-se de voltar antes do fechamento dos portões. Numa tarde de domingo, estava com dois amigos relativamente longe dos muros quando ouviram o toque de recolher. Correram a todo fôlego, mas não lograram êxito. Revoltado, esmurrou portões e a terra de raiva, afinal, nas duas ocasiões anteriores em que isso ocorrera, fora duramente castigado e haviam lhe prometido um castigo ainda mais severo se acontecesse novamente, mas, acima de tudo, sentia-se injustiçado, pois os portões fecharam antes da hora. Os amigos riram de seu desespero, provavelmente conformados com as pancadas que viriam na manhã seguinte. Ele, porém, decidiu outra coisa: não mais voltaria para a casa de seu patrão. A partir daquele momento, abandonava Genebra! No dia seguinte, pediu aos colegas que avisassem o primo Bernard de sua resolução e que viesse encontrá-lo ainda mais uma vez. O primo veio e, em vez de tentar demovê-lo daquela temerária resolução, deu-lhe algum dinheiro e uma pequena espada, da qual Rousseau sempre gostara, em sinal de apoio a sua decisão. A partir dali começam as aventuras de Jean-Jacques pela Europa. Como estudioso de sua obra, esse episódio sempre me intrigou: como um jovem de apenas dezesseis anos resolve deixar tudo para trás e aventurar-se no mundo? Lembremos de que o “tudo” que ele estava deixando para trás eram somente situações que, de forma alguma, prendiam-lhe o coração: 1) a mãe morrera quando de seu nascimento; 2) o irmão mais velho sumira no mundo anos antes; 3) o pai já não morava na cidade; 4) a família do primo, que o acolhera, parece ter apoiado sua decisão; e 5) a casa de seu patrão não tinha qualquer atrativo para que voltasse. Por que ficar em Genebra? O que o mundo lhe traria de mais solidão do que sua própria pátria? Assim, Jean-Jacques saiu da cidade de Genebra em direção à sua liberdade. Eis como descreve esse momento: O momento em que o terror me sugeriu o projeto de fugir me parecera tão triste quanto me pareceu encantador aquele em que o executei [...] A independência que julgava ter ganho era a única impressão que guardava comigo. Livre e senhor de minha pessoa, cria poder fazer tudo, tudo alcançar: basta arremessar-me para subir e voar nos ares [...] Meu comedimento inscrevia-me numa esfera estreita, mas deliciosamente escolhida, onde tinha certeza de reinar. Minha ambição se limitava a um só castelo; favorito do soberano e da Madame, namorado da jovem, amigo do irmão e protetor dos vizinhos, ficava contente; não me era preciso mais nada (1965, p. 58). Minha grande dúvida sobre o que aconteceu depois da sua partida é: como sobreviveu depois que ficou só no mundo? A resposta para isso nos ajudará a entender um pouco melhor outras instituições sociais desse tempo. 16 Vivenciou, pela primeira vez, a experiência de “caminhante solitário”, errando por bosques, estradas e lagos. Nas casas dos camponeses encontrava abrigo e alimento. Em suas andanças, foi parar nas terras de Saboia, e ocorreu-lhe conhecer o Padre Pontverre, nome famoso da história da república. O padre o recebeu e não dispensou longas considerações sobre a heresia de Genebra. Jean-Jacques sentia-se mais erudito que o bom homem, mas não quis debater, a fim de não ofender aquele que o acolhera com tanta hospitalidade. O padre sugeriu que procurasse a Madame de Warens,2 recém-convertida ao catolicismo, que ajudava àqueles que necessitavam de abrigo. E assim foi que ele conheceu sua “mamãe”. Ignorando o que o aguardava, não teve pressa de ir a esse encontro e perambulou alguns dias esticando o trajeto. Chegando às terras de Annecy, foi ao encontro da senhora e deparou-se com uma mulher jovem e muito bela – um tanto rechonchuda – de vinte e oito anos, cujo aspecto o agradou imediatamente. Ela acolheu o jovem por poucos dias, mas o suficiente para afeiçoarem-se mútua e profundamente por toda a vida. Para se ter uma ideia, cinquenta anos mais tarde escreveu as páginas finais de sua última obra, Os devaneios do caminhante solitário, inteiramente dedicadas à Madame de Warens. Sua benfeitora pagou-lhe uma bolsa num asilo para catecúmenos em Turim e, sem que outros soubessem, deu-lhe um pequeno pecúlio que lhe seria, como veremos, muito útil mais tarde. Antes de seguirmos os passos de Jean-Jacques no seminário em Turim, vejamos um pouco mais de perto seus sentimentos por Madame de Warens. Essa paixão teve dois aspectos: primeiro, um filial. Rousseau, tendo perdido sua mãe ao nascer, foi criado pela tia paterna. Assim, faltou-lhe o amor maternal que encontrou no carinho, na atenção e nos cuidados que sua tia Suzanne, apesar de sua bondade, não havia lhe oferecido. Teve uma ligação erótica com a tia na infância, por meio das “surras” que recebia. As palmadas, aos poucos, foram adquirindo certo prazer que ele mesmo confessa e , quando a tia percebeu, evitou esse tipo de contato. Por outro lado, tinha uma paixão erótica por Madame de Warens, mesmo porque era jovem e bonita, uma combinação explosiva para o seu “complexo de Édipo”, ao qual faltava o objeto principal. O episódio vivido por Rousseau nos permite vislumbrar um pouco dos costumes da época; observa-se que havia a prática do acolhimento aos viajantes, tanto da parte dos camponeses, quanto da parte dos párocos e das Madames. É claro que houve, no caso dele, o fato de que, sendo calvinista e sendo recebido por católicos, poderia se tornar mais uma alma convertida. Seu jovem coração, enternecido pela imagem e pelos modos sublimes de Madame de Warens, o fez aceitar os caminhos pelos quais o destino o estava levando. Feito o acordo com sua benfeitora, Rousseau partiu para Turim. Um detalhe interessante, mas do qual ficamos apenas com as impressões dos sentimentos, é que, segundo nos conta, seu pai foi procurá-lo em Annecy, alguns dias 17 depois de sua partida para Turim. Supôs Jean-Jacques que o pai poderia tê-lo alcançado, assim como o tio Bernard, que o havia procurado junto ao padre Pontverre. No entanto, para o autor das Confissões, o fato de o pai estar há tanto tempo longe dele e de ter um novo casamento dando-lhe uma nova família para cuidar – a esposa e os sogros – teria feito com que o amor paterno arrefecesse. Assim, em suas impressões considerou que o pai e o tio resolveram deixá-lo partir. Em Turim, frequentou o seminário e ali ouviu, por vários dias, sermões sobre o catecismo e participou de todas as atividades dos outros jovens. Jean-Jacques converteu-se ao catolicismo um mês depois de sua chegada ao asilo. Foi realizada uma cerimônia para celebrar essa conversão, a qual ele descreve em detalhes. O final é que nos surpreende: Tudo isso terminado, no momento em que julgava enfim ser colocado segundo minhas esperanças, puseram-me à porta com um pouco mais de vinte francos, em miúdos, que as esmolas me tinham rendido. Recomendaram-me que vivesse como um bom cristão e que fosse fiel à graça; desejando-me boa sorte, fecharam a porta sobre mim e tudo desapareceu (1965, p. 85). Ei-lo, novamente, sem lar, dessa vez em uma cidade italiana, mal conhecendo o idioma. Seu espírito aventureiro soprou-lhe a seguinte ideia: em vez de voltar para os braços de sua “mamãe”, por que não ficar em Turim por mais algum tempo? Passou dias a vaguear pela cidade, dormindo em uma pensão de baixo custo e vivendo daqueles francos que lhe foram dados. Gostava de ir à missa do rei da Sardenha pelas manhãs, para ouvir a execução das músicas da “melhor orquestra da Europa”, segundo se dizia. Em seus sonhos juvenis imaginava que, numa dessas missas em Turim, iria conhecer a jovem princesa que ficara em seus sonhos, quando perambulava pelos campos de Genebra. Com o dinheiro acabando, resolveu procurar emprego, mas de que? Quando saiu de Genebra, ainda não era um gravador profissional. Teve várias recusas até achar uma casa comercial na qual a dona se interessou pelo seu serviço e aceitou o jovem aprendiz de gravador. Chamava-se Madame Basile: era uma italiana jovem, bela e morena. Aos poucos, Jean-Jacques foi adquirindo sua confiança e logo tornou-se, também, auxiliar de contas da loja. Porém, apaixonou-se pela Madame Basile e, em seus arroubos de juventude, deixou transparecer seus sentimentos, despertando a fúria do marido de sua empregadora. Foi posto para fora da casa e do seu trabalho; advertiram-no de que nem passasse na porta da casa novamente, sob ameaça de levar uma surra! Novamente desempregado, agora com um pouco mais de recursos, voltou a procurar ocupação e tornou-se redator de cartas de uma Madame que estava muito doente, chamada Verceilles. Ali teve momentos mais tranquilos, mas a função de lacaio não o agradava e esquivou-se dela o quanto pode. Para a sua formação filosófica, porém, a estada nessa casa foi fundamental, pois ali travou conhecimento com os padres Gaime e Gouvon. Deste, tornou-se secretário e aluno de latim, depois 18 da morte da Madame Verceilles. Do primeiro, ouviu as lições sobre moral e virtudes que se tornaram parte da “Profissão de fé do vigário de Saboia”, um intertexto do Emílio ou da Educação, a ser analisado na segunda parte deste trabalho. Novamente, não se contentou com a situação na qual vivia e, com dezenove anos, resolveu partir dali em nova aventura, em busca de fazer fortuna. Dessa vez, estava acompanhado de um amigo, que conhecera em Turim, chamado Bacle. O modo pelo qual pensavam enriquecer era o seguinte: Jean-Jacques havia ganhado uma Fonte de Heron, um artefato que, por meio de tubos e hidrostática, fazia uma pequena fonte jorrar. Imaginaram que seria uma grande atração: sem dúvida, as pessoas pagariam para ver aquela pequena maravilha! Assim, saíram em busca da fortuna que jorraria, tal qual a água, da pequena fonte! Seis semanas depois, estavam, Jean-Jacques e Bacle, ambos exatamente como a fonte: quebrados. Resolveram seguir seus rumos. Jean-Jacques, finalmente, voltava para a casa de sua “mamãe”. A Madame de Warens o recebeu ternamente. A partir daí seguem-se inúmeras aventuras e, em meio a elas, Rousseau continuava lendo os clássicos da literatura, dessa vez, também em latim; aprendeu noções de música e tornou-se professor, o que o fez exercer ainda mais conhecimentos que, veremos mais adiante, foram fundamentais para tornar-se célebre em Paris e em toda a Europa. Rousseau precisava trabalhar e fez de tudo. Procurava empregos que o agradassem, mas tinha dificuldade em adaptar-se ao que lhe pediam; mesmo assim, como todo jovem, tinha que obter dinheiro para suas despesas. Procurou emprego em outras terras, como Lausanne e Berna. Conseguiu um bom emprego, porém temporário, no serviço de recenseamento do rei da Sardenha. Largou esse emprego pelo de professor de música, no qual tinha experiência e ganhava mais. Nesse momento, entendeu que, se quisesse ser compositor, precisaria estudar mais sua arte, e foi ter aulas de harmonia e composição. Interessante observar que tornara-se leitor contumaz, porém, não frequentara colégios ou academias. Muitos estudiosos de sua obra insistem que ele foi autodidata, mas não é bem assim. Tomou aulas de latim, de música e, mais tarde, terá também aulas de geometria, aritmética, ciências, química e, ao final da vida, aulas de botânica. Nunca deixou de estudar e teve sempre humildade para aprender com algum mestre. Sua curiosidade intelectual o levou a estudar diversos tipos de áreas do saber: química, medicina, botânica, música, línguas, filosofia e astronomia! Esta última quase lhe causou um grande problema ainda na juventude, porém, tudo não passou de uma grande e inusitada trapalhada. Rousseau ganhara um mapa das constelações e teve a ideia de comparar seu mapa com as estrelas de fato. À noite, provavelmente, de lua nova e céu limpo, subira num terraço para seu exercício; com um sistema rudimentar iluminava seu mapa, com velas, por baixo, e com uma luneta conferia a posição das estrelas. Para evitar o frio, usava um grande chapéu e um casaco grosso. 19 Diante de toda essa parafernália, o que os passantes, fiéis cidadãos religiosos, podiam deduzir daquela cena? Um bruxo! Provavelmente, preparando um sabá com seu vaivém frenético de algo iluminado (um caldeirão fervente, talvez) e estranhos objetos! A situação só não terminou pior porque os padres jesuítas encarregados de interrogar o jovem Jean-Jacques, entendendo a causa do burlesco espetáculo, não o denunciaram, mas pediram que deixasse em paz a imaginação dos passantes. Assim, abandonou a pretensão, se alguma houve, de ser astrônomo. Rousseau permaneceu em Saboia por alguns anos junto à Madame de Warens, até que novos acontecimentos marcaram para sempre seu coração. Madame de Warens o ensinou a comportar-se, vestir-se e, principalmente, observar os homens da sociedade. Ela desejava transformá-lo em um homem, e isso incluía uma das lições mais importantes, o trato com as mulheres. Assim, ela o preparou para o dia em que ele a tomaria nos braços como mulher: Pela primeira vez me vi nos braços de uma mulher e duma mulher a quem eu adorava. Fui feliz? Não; experimentei o prazer. Não sei que invencível tristeza envenenava-lhe o encanto; era como se eu tivesse cometido um incesto. Duas ou três vezes, apertando-a com transporte em meus braços, inundava seu seio de lágrimas (1965, p. 219). Desde então, chorando ou não, Jean-Jacques passou a ter mais esta familiaridade com sua protetora. Conforme Rousseau, ela adquirira esse costume da época contra os sentimentos do seu coração, por força dos sofismas de seus mestres, especialmente os filósofos; eles a convenceram de que a união dos sexos, por si mesma, nada significava; que as infidelidades ignoradas nada significam para os maridos traídos, assim como para as consciências. Enfim, tal como Cândido aprendera o lema de seu mestre Pangloss, “melhor dos mundos possíveis”, o senhor Tavel ensinara para a sua aluna uma máxima filosófica cuja prática se aproximava do nosso conhecido dito popular: “o que os olhos não veem o coração não sente”, iludindo, dessa forma, o coração da “pobre mamãe” para obter-lhe os favores do corpo. Mas como tudo o que se faz nesta vida, aqui se paga, o senhor Tavel foi punido com ciúmes loucos ao desconfiar que Madame de Warens dava, a ele, o mesmo cuidado com o qual a ensinara tratar o marido. Certa feita, Jean-Jacques às voltas com suas doenças, foi instigado pela “mamãe” a ir tratar-se com um renomado médico irlandês. Teve, então, ocasião de estudar algumas noções de medicina – inclusive anatomia – que mais tarde seriam usadas em algumas reflexões do Vigário de Saboia: “vejo o corpo humano como uma máquina”, dirá, em consonância com as Confissões, chamando seu corpo de “minha máquina” (p. 1965, 171). Ora, Rousseau, depois de alguns meses de viagem, resolveu voltar para a casa de Madame de Warens, por quem ardia de saudades. Quando chegou, porém, achou as coisas meio estranhas: a empregada ficara surpresa ao revê-lo e sua “mamãe”, ao encontrá-lo, perguntou-lhe como estava e se havia se recuperado. Dessa forma, percebeu que ela não lera ou dera pouca atenção às suas cartas, que, aliás, ela 20 mal havia respondido. Eis, então, o motivo de certa distância da “mamãe”: Madame de Warens encontrava-se acompanhada de um jovem chamado Wintzenried que, anteriormente, havia feito alguns trabalhos na casa; agora, porém, o jovem morava ali e, pasme o leitor, ocupando o antigo “lugar” de Rousseau, o de “preferido” junto à sua mamãe. Assim que percebeu os ciúmes de Jean-Jacques, Madame de Warens tratou de explicar-lhe que não perdia seu lugar, em nada seriam menos íntimos; teria os mesmos momentos junto a ela, agora os partilhando com outro. Isso já havia ocorrido antes, com um homem mais velho, chamado Claude Annet. Mas quem era afinal de contas o rival, que despertou tamanho ciúme? Assim o autor das Confissões o descreve. O jovem era tão ativo quanto ele era passivo, fazia-se ver em todos os lugares: no pátio, no bosque, no feno; era um rapaz grande, loiro, bem feito de corpo, de bela voz, mas o rosto não demonstrava “um espírito com vivacidade”. Para além dessas qualidades, o jovem recém-chegado era diligente e zeloso nas tarefas das quais foi incumbido. Segundo Jean-Jacques, Wintzenried tinha outra característica: “Seu grande prazer consistia em carregar e descarregar, ceifar ou partir lenha; sempre era visto com o machado ou com a enxada na mão; viam-no correndo, malhando, gritando com toda força dos pulmões. Não sei de quantos homens fazia ele o trabalho, porém fazia sempre barulho por dez ou doze” (1965, p. 286). E toda essa atividade certamente impressionou a Madame de Warens, que resolveu mantê-lo ali usando todos os expedientes dos quais dispunha, “inclusive com o qual mais contava” (1965, p. 287). Ora, Jean-Jacques não poderia ser “sócio” de tal homem e tomou a resolução de afastar-se de Madame de Warens, vendo-a e tratando-a somente como sua “mamãe”. Para seu espanto ela não reclamava sua presença como antes; na verdade, o procurava algumas vezes, mas, em geral, para queixar-se do novo amante; quando ela estava bem com o jovem, ficava dias inteiros sem perceber a ausência de Jean-Jacques. Dois elementos dessa história picaresca ainda não ficaram claros. O primeiro: quando apresenta o rival, Jean-Jacques nos diz que ele era um tolo, ignorante e insolente, como entender que, a despeito dessas qualidades, era “o melhor rapaz do mundo”? O segundo: o jovem dizia ter trabalhado como cabeleireiro antes de empregar-se na casa de Madame de Warens; que nessa profissão enfeitara a cabeça de muitas marquesas e de seus respectivos maridos! Porém, pela descrição dele, esse rapaz que gosta de “carregar e descarregar, andar com o machado nas mãos” parece ter, com Madame de Warens, negligenciado parte das tarefas que cumpria com as marquesas: afinal, não o vemos cuidando de suas perucas, mas de outros vários interesses dela. Enfim, uma vez percebendo que não poderia mais ficar ali, tomou a resolução de partir. Precisava de um meio para ganhar a vida e Madame de Warens conseguiu que ele fosse indicado para ser preceptor dos filhos do senhor de Mably. Esse episódio é 21 importante, porque Jean-Jacques elabora um projeto para essa tarefa, o Projeto para a educação do senhor de Sainte Marie, que virá a ser a primeira semente que irá, mais tarde, florescer no tratado de educação, o Emílio. Fez-se, então, preceptor, por um ano, residindo na casa dessa família. Experiência da qual ele não gostou muito: Mas finalmente, aborrecido com um emprego em que não me dava bem, e diante da situação muito penosa que nada tinha de agradável para mim, depois de tal tentativa, durante a qual não poupei meus esforços, resolvi abandonar os alunos bem convencido de que nunca conseguiria instruí-los (1965, p. 293). Sua demissão foi bem recebida pelo seu patrão. O leitor pode se perguntar como um homem que não se deu bem como preceptor pôde atrever-se a escrever um livro sobre educação. Ora, no Emílio há duas confissões que indicam como Rousseau entende essa experiência. Em determinada passagem do livro I, afirma que, em outro momento, quando já célebre, um nobre propôs-lhe que educasse seus filhos e ele, evidentemente, recusou, argumentando que a experiência não poderia ser positiva de forma alguma: ou seu método daria certo e o filho recusaria os títulos aos quais tinha direito, ou ele falharia novamente. Então, para que tentar? Além disso, como veremos mais adiante, a chave de leitura do Emílio é muito peculiar: “Na impossibilidade de cumprir a tarefa mais útil, ousarei, ao menos, tentar a mais fácil: a exemplo de tantos outros, não porei a mão na massa, e sim na pena; e ao invés de fazer o que é preciso, esforçar-me-ei por dizê-lo” (1992, p. 27). Depois dessa experiência, Rousseau resolve ir a Paris, em busca de fama que lhe garantisse espaço para divulgar suas criações (sonhava ser músico) e a subsistência por outros meios que não trabalhos aos quais se dedicara com afinco, mas para os quais não tinha a menor inclinação. Precisa ganhar dinheiro suficiente para ser independente. Dessa vez, em vez de sonhar fazer fortuna com sua pueril Fonte de Heron, levava consigo sólidos conhecimentos musicais. O período que agora descreveremos é a passagem do jovem para o adulto. Vimos que, por volta dos 30 anos, Rousseau resolveu tentar a sorte em Paris. Tinha a oferecer sua peça de teatro Narciso ou o amante de si mesmo, escrita alguns anos antes, e um projeto de nova notação musical. Foi recebido pela Academia de Ciências, mas seu projeto foi recusado. Algum tempo depois, o compositor JeanPhilippe Rameau (1682-1764) fez algumas considerações sobre o projeto de Rousseau que o ajudaram a ver no que seria preciso melhorar. A comédia Narciso não foi encenada nem publicada. Rousseau deparara-se com a dificuldade dos autores desconhecidos de conseguirem editoras que se interessassem por suas obras. Como tinha algum dinheiro, deixou-se ficar em Paris, tal como fizera em Turim. Frequentou algumas rodas de amigos e aprendeu a jogar xadrez. Antes que seu dinheiro acabasse, um amigo seu, o padre Castel, lhe deu um conselho: “Já que nem os músicos, nem os sábios cantam em uníssono com você, mude de corda e vá procurar as mulheres” (1965, p. 311). Isso significava procurar as Madames, que costumam empregar profissionais 22 liberais para a administração de seus bens. Assim foi que Jean-Jacques conheceu a Madame Dupin e dali travou conhecimentos que o levaram a ser secretário do senhor Montaignu, que se tornara embaixador em Veneza. Fez as malas e viajou para a Itália novamente. Parece-nos interessante observar que, nesse período, compôs parcialmente a ópera As musas galantes e estudou química (esse estudo renderá algumas linhas no Emílio sobre a destilação do vinho). Eis que, depois de algum tempo, descontente com a vida de secretário do Embaixador, inclusive por questões éticas e de relacionamento com seu empregador, resolve deixar a vida de “burocrata”. Não era uma vida autêntica. Ele precisava dedicar-se àquilo que sonhava fazer. Assim, fazendo as malas novamente, partiu para Paris decidido a ser reconhecido pelos seus talentos musicais. 1 Tomamos de empréstimo, aqui, o verso de Renato Teixeira, da canção “Romaria”. 2 Na tradução de Wilson Lousada, mantém-se a expressão Madame de Warens, Madame d’Épinay, assim como no livro Rousseau: o bom selvagem; na tradução de Raquel de Queirós, utiliza-se a expressão Sra. de Warens, Sra. d’Épinay. Achamos melhor manter a expressão Madame, que mantém um certo ar da época e transporta o leitor para aquele ambiente. 23 Capítulo 3 Enfim, a celebridade Em 1744, Rousseau retornou a Paris. Ali, dois acontecimentos importantes marcaram a fase da maturidade: conheceu Thérèse e terminou a ópera As musas galantes, que foi apresentada em Paris e em Versalhes. Vejamos como se deram esses dois fatos. A essas alturas, com mais de trinta e cinco anos, precisava de uma forma para garantir sua sobrevivência, posto que não possuísse renda, estava envolvido com Thérèse e suas despesas aumentavam. Vale ainda lembrar que seu projeto pessoal era de alcançar independência financeira e dedicar-se somente à música. Thérèse de le Vasseur foi sua companheira por toda a vida e mãe de seus cinco filhos. Foi ela quem recebeu parte das rendas de Rousseau, inclusive a pensão vitalícia que o editor Rey lhe concedeu pelos sucessos financeiros que obtivera com suas obras. Também foi com ela que Rousseau casou-se, 23 anos após o início do relacionamento, que se deu da seguinte forma: Jean-Jacques resolvera deixar Veneza e o trabalho rotineiro e burocrático como secretário; estava resolvido a alcançar o sucesso como músico em Paris, por isso dedicou-se a concluir As musas galantes. Escolheu morar em um hotel mais afastado do centro da cidade, por ser mais barato e para ter mais tranquilidade para trabalhar. O problema é que se tratava de um hotel mais simples, frequentado por homens barulhentos e de poucos modos, de tal forma que ele era o único que falava e se comportava decentemente. Foi nesse ambiente que conheceu uma jovem de olhar doce e gestos delicados servindo as mesas. Certa noite, alguns dos clientes mexeram com a moça; foram rudes e grosseiros. Jean-Jacques não pôde se controlar diante do comportamento hediondo daqueles homens sem modos e, na mesma hora, os chamou à ordem. Imagino-o levantando-se de supetão e gritando: – Biltres! Exijo que parem de importunar esta jovem! Os malfeitores partiram para cima dele e logo o atracaram, tentando fazê-lo arrepender-se da ousadia! Uma vez a contenda resolvida, recebeu o justo fruto de sua coragem cavalheiresca! Jean-Jacques e Thérèse se tornaram mais próximos, mas os sofrimentos da moça ainda não tinham se esgotado. A hoteleira não gostou de ver sua empregada envolvendo-se com um hóspede, e a maltratava ainda mais do que antes de Jean-Jacques protegê-la dos homens rudes. Logo, sua presença era o único conforto para o coração sofredor da moça, e sua ternura, o bálsamo para uma alma já 24 bastante marcada pelos sofrimentos. O tempo encarregou-se de transformar a amizade em amor e a timidez, que poderia afastar aqueles corações ternos, formou a ponte que os uniu; ele como seu herói, ela como sua “gata borralheira”. Certo dia, Thérèse resolveu abrir seu coração para Jean-Jacques e dizer-lhe por que se sentia angustiada diante do homem honrado que a protegia dos males que a cercavam, único alento que lhe refrigerava as dores da alma. Jean-Jacques ficou ainda mais enternecido com a confissão do crime que ela supunha ter cometido. Em sua inocência, deixou-se enganar por um sedutor que, depois de obtido o prêmio, abandonou-a. Ele garantiu a ela que não estava aborrecido de não encontrar aquilo que não procurara, que a verdadeira inocência repousa no coração. Jurou que não a abandonaria jamais, mas pela transparência que seus sentimentos lhe impunham, jurou, também, que não a desposaria. Conforme vemos em sua narrativa, ele nunca “queimou de paixão” por Thérèse, sentia por ela um amor terno que o acalmava. Conhecera-a depois de sua separação da Madame de Warens, e ela preencheu o vazio que sentia no coração: Sempre considerei o dia que me uniu a Thérèse como aquele que fixou o meu ser moral [...] Mamãe envelhecia e se aviltava! Fora-me provado que ela não mais podia ser feliz nessa terra. Restava-me procurar uma felicidade que fosse mais minha, tendo perdido a esperança de algum dia partilhar a dela (1965, p. 442). Quanto à música, pela descrição de Jean-Jacques, Rameau não nutria grande simpatia pelo jovem genebrino, pois, sendo de uma família de músicos, não via com bons olhos os estudos independentes e autônomos do “filho do relojoeiro” que queria ser músico. O fato é que gozou de alguma consideração entre os músicos a partir de então e foi convidado, algum tempo depois, a refazer alguns trechos da ópera A princesa de Navarra, composta por Voltaire e Rameau. A ópera composta a seis mãos logrou grande sucesso. Em suas Confissões, Rousseau afirma que ambos os autores ficaram bem descontentes em ver seus nomes associados ao dele. Fato é que a ópera foi executada tendo somente o nome de Voltaire como compositor. Jean-Jacques obtinha, assim, algum reconhecimento por seus talentos musicais, mas ainda não tinha a tão desejada autonomia financeira e sua situação pessoal estava ficando cada vez mais difícil, pois o romance com Thérèse tornara-se cada vez mais profundo e os compromissos aumentando com a idade. Por isso, teve de aceitar as oportunidades que a vida lhe oferecia: voltou a trabalhar como secretário – dessa vez, do senhor Francueil e de M. Dupin, que lhe dava uma renda estável. Essa situação não era de seu agrado e continuou em busca de espaço no cenário artístico de Paris. Algum tempo depois, absolutamente descontente com a situação em que vivia, resolveu deixar o cargo de secretário, cujas obrigações não lhe agradavam, e tornouse copista de partituras, profissão que lhe permitia ficar em contato com a música mais tempo e lhe rendia mais do que a profissão de secretário. A partir daí, o que veremos é o sucesso – junto ao público e também financeiro – do Discurso sobre as 25 ciências e as artes oferecer a Rousseau uma vida na qual podia se dedicar ao que sempre quis: aos estudos e à escrita, mas vejamos como nosso filósofo chegou lá. Jean-Jacques e Diderot tornaram-se amigos no período de seu retorno a Paris. Por sua narrativa, percebe-se que admirava o amigo e preocupou-se seriamente quando este foi preso. Foi também por meio da amizade com Diderot que logrou espaço entre os editores e pôde iniciar sua carreira como escritor. Aliás, Jean-Jacques apresentou outros dois amigos a Diderot: Grimm e Condillac. Durante os jantares em que conversavam sobre suas ideias e sentimentos, Rousseau elaborou o plano de uma novela que seria escrita a quatro mãos com seu amigo, o Persifleur. O projeto não foi para frente, mas foi a ocasião na qual conheceu outro amigo de Diderot: d’Alembert. Os dois, a essas alturas, já tinham preparado o primeiro volume da Enciclopédia e o convidaram para escrever o verbete sobre Música, pelo qual nada recebeu. A publicação da Carta sobre os cegos (1749), de Diderot, desagradou alguns nomes poderosos da época, e ele foi preso na torre de Vincennes, ficando incomunicável. Nessa obra, Diderot tece algumas considerações filosóficas sobre a perspectiva do materialismo. Partindo da obra do matemático e cientista inglês Nicholas Saunderson (1682-1739), Diderot começa a questionar verdades e valores metafísicos que parecem ser universais, mas não fariam sentido para os cegos, assim como, por exemplo, o pudor, a comiseração, pois sofremos muito mais pelos outros quando os vemos em seu sofrimento do que quando ouvimos falar. Jean-Jacques escreveu a algumas pessoas importantes que havia conhecido na casa da Madame Dupin, como a Madame Pompadour. Evidentemente, suas cartas não surtiram efeito. Algum tempo depois, foi concedido a Diderot o direito de ficar no castelo e no bosque de Vincennes, e não mais na masmorra. Com isso, pôde passar a receber visitas e Jean-Jacques não deixou de fazê-lo. Vejamos como ele descreve o momento em que pôde rever o amigo: Voltando a Paris, tive a agradável notícia de que Diderot tinha saído da prisão e que lhe haviam dado o castelo e o parque de Vincennes como prisão, sob palavra, com permissão de ver os amigos. Quanto me custou não poder correr imediatamente para vê-lo! Mas retido por dois ou três dias em casa de Madame Dupin, devido a cuidados indispensáveis, depois de três ou quatro séculos de impaciência voei para os braços de meu amigo. Inexprimível momento, Diderot não estava só: d’Alembert e o tesoureiro da SantaCapela estavam com ele. Ao entrar, só o vi a ele: dei apenas um salto e um grito; colei meu rosto ao dele, apertei-o estreitamente sem lhe falar, a não ser com minhas lágrimas e meus soluços; sentia-me sufocado pela ternura e pela alegria (1965, p. 374). A partir desse dia, frequentou Vincennes para visitar seu amigo. Essa foi a ocasião em que ocorreu o famoso episódio da iluminação de Vincennes. O castelo fica a mais ou menos dez quilômetros de Paris. Rousseau não tinha recursos para ir de condução, então ia a pé, descansando pelo caminho e lendo nessas pausas. Certa vez, não levou um livro, mas o jornal Mercure de France, no qual apareceu a notícia sobre o 26 concurso da Academia de Dijon. Os candidatos deveriam redigir um ensaio sobre o tema: Se o progresso das ciências e das artes tinha contribuído para corromper ou aprimorar os costumes. Ele acrescenta que divisou outro universo, tornou-se outro homem após a leitura. Os detalhes da iluminação estão narrados numa das cartas a Malesherbes: Senti a cabeça tonta, como se fosse embriaguez. Uma palpitação violenta... não mais podendo respirar ao caminhar, deixei-me cair sob uma árvore da avenida e ali fiquei meia hora em tamanha agitação que, ao me levantar, diviso toda a frente de minha roupa molhada de lágrimas, sem ter sentido que eu as derramava (segunda Carta, 1965, p. 375). Diderot foi o primeiro a ouvir as ideias de Jean-Jacques para o seu Discurso sobre as ciências e as artes. Gostou, incentivou o amigo a escrevê-las e depois fez uma leitura crítica para ajudá-lo a melhorar. Rousseau enviou seu manuscrito para a Academia de Dijon e esqueceu-se do assunto. No ano seguinte, 1750, veio o anúncio de sua premiação: a obra obtivera o primeiro lugar. Finalmente passamos de JeanJacques a Rousseau; teve o reconhecimento que procurava e recebeu um prêmio em dinheiro, razoavelmente bom. Não foi com a música como ele esperava, mas com a filosofia. Sobre o seu primeiro Discurso, ele mesmo foi severo crítico mais tarde: Que será a celebridade? Eis a obra infeliz a que devo a minha. É certo que essa peça, que me valeu um prêmio e me deu um nome, será, no máximo, medíocre e, ouso acrescentar, uma das menores deste repositório. Que abismo de misérias não teria evitado o autor, se esta primeira obra tivesse sido recebida como a merecia! Mas era preciso que um favor inicial injusto me trouxesse, aos poucos, uma severidade que ainda é mais injusta (1973, p. 338). O comentador José Oscar Marques, em sua tradução da Carta sobre a música francesa, observa que o prêmio concedido pela Academia de Dijon, por si mesmo, não poderia causar tanto estardalhaço, pois era uma instituição “provinciana e recente”, não poderia “trazer tamanha notoriedade se não fosse um aspecto paradoxal, habilmente explorado pelos periódicos da capital: Rousseau, amigo de Diderot e colaborador da Enciclopédia, havia escrito um ensaio que contradizia em todos os pontos o ideário que sustentava aquele monumental empreendimento” (2005, p. 1). Esse prêmio ainda não foi suficiente para livrá-lo de ter alguma ocupação para sobreviver, mas ser copista de partituras não lhe causava desprazer. Diderot providenciou a publicação de seu Discurso sobre as ciências e as artes, ou, simplesmente, seu primeiro Discurso. Depois da publicação, ele passou a receber cartas de críticos cujas respostas demandavam muito tempo. Uma tarefa que, aos poucos, tornou-se penosa, porém, não mais do que as visitas que lhe roubavam o tempo até mesmo para continuar pensando e escrevendo. Segundo Rousseau, seu pequeno quarto passou a ser visitado constantemente por gente da sociedade que o queria ter em seus salões para jantares e festas. Como ele se recusasse, tornou-se um prêmio cada vez mais caro, e todos disputavam sua presença, pois a curiosidade era 27 saber como vivia aquele homem, em sua pobreza e independência, que ousara escrever ideias tão fortes no seu Discurso. O fato é que Rousseau, de tanto recusar convites, foi ganhando fama de misantropo. No ano de 1751 foi passar alguns dias na casa de um amigo, fora de Paris, a fim de se recuperar de uma das suas crises de dor nos rins. Ali, teve uma espécie de nova iluminação e, numa manhã, compôs o início da sua ópera O Adivinho da aldeia. Voltou a Paris e em três semanas terminou todo o trabalho. Evidentemente, queria ouvi-la representada, mas não tinha vontade de ir à Ópera oferecê-la. Como não podia mandar representá-la às suas expensas, cedeu às exigências do destino. O senhor Duclos gostou do trabalho e atendeu ao pedido de Rousseau: que seu fracasso com as Musas galantes não influenciasse os músicos e o público negativamente em relação ao Adivinho da aldeia. A peça foi ensaiada e encenada anonimamente. Somente depois da aclamação geral é que foi revelado o nome do compositor. Tal era a qualidade da obra que houve uma disputa entre Duclos e o senhor Cury. Este queria levar a ópera para ser representada na corte, em Fontainebleu, e Duclos queria que ela estreasse em Paris. A disputa foi bastante acirrada e acabaram concedendo o privilégio à autoridade. Com grande galhardia, Rousseau foi a Fontainebleu para a estreia de sua ópera. Todavia, o autor não gostou da representação de sua peça e voltou ao seu desânimo natural, embora o sucesso fosse cada vez maior. Assim foi que outro episódio marcou sua vida. No dia seguinte à apresentação, o senhor Cury procurou Rousseau dizendo que ele deveria apresentar-se ao rei, e que acreditava tratar-se de uma pensão que sua majestade queria conceder a Rousseau pessoalmente. Ora, a princípio, para quem estava procurando uma forma de se sustentar fazendo o que mais gostava – que era justamente compor –, pareceria ser o final da jornada, o objetivo teria sido atingido, mas não para o nosso filósofo. Rousseau, com medo de que suas dores o fizessem passar um vexame diante de todos, teve uma noite tormentosa. Imaginava-se diante do rei, teria que dizer algo que fosse elogioso e verdadeiro, mas como preparar algo para dizer ao rei? Como ele diz, “sua maldita timidez” poderia traí-lo: Para preparar, de antemão, uma resposta feliz, seria preciso prever exatamente o que ele podia dizer-me; e eu tinha certeza de que não encontraria em sua presença uma só palavra das que havia preparado. O que seria de mim naquele momento, sob os olhos de toda a corte, se escapasse em minha perturbação algumas das minhas asneiras habituais? Aquele perigo assustou-me, amedrontou-me, fez-me estremecer a ponto de resolver, a qualquer risco, não me expor a ele (1965, p. 406). Rousseau foi embora, não se apresentou ao rei! Os amigos e os inimigos tomaram sua atitude como de um orgulho e vaidade extremas. Diderot censurou-o duramente por recusar apresentar-se ao rei e a aceitar a pensão. Eu mesmo ouvi mais de uma vez dos colegas rousseauistas que ele recusara a pensão para garantir a independência política e de pensamento. Porém, sempre li e reli esse trecho das Confissões, e 28 entendo sua recusa muito mais como consequência de uma timidez quase doentia, ou até mesmo de uma autoestima baixíssima na linguagem de hoje, que o fez não se achar digno de postar-se diante de um rei. O fato é que o Adivinho da aldeia também não lhe proporcionou independência financeira, mas projetou seu nome na sociedade parisiense como alguém ligado às belas artes, e isso era o bastante para abrir-lhe espaço junto ao restrito mundo do mercado editorial. As consequências da celebridade que o cercaram foram os inúmeros convites e as recusas obstinadas. O episódio da recusa da pensão levou seus amigos a questionar seus métodos, e a amizade com Diderot foi se abalando. Rousseau achava que deixara claro que era timidez e vontade de se recolher – mais para frente, nas Confissões, dirá que suas obras nascem do seu coração e não do talento da pena –, e os amigos acharam que era pedantismo e misantropia. Para ele, outro fator que degenerou suas amizades foi certa inveja de seu talento: Quanto a mim, penso que meus pretensos amigos teriam podido perdoar-me o fazer livros, e livros excelentes, porque aquela glória não lhes era desconhecida; porém, nunca puderam perdoar-me o ter composto uma ópera, nem os sucessos brilhantes que tal obra teve, porque nenhum deles se sentia em condições de emparelhar comigo nem podia aspirar às mesmas honras. Só Duclos, acima dessa inveja, pareceu demonstrar um aumento de amizade por mim e apresentou-me em casa de mademoiselle Quinault, onde fui alvo de tantas atenções, cortesias, carícias, quanto pouco encontrara dessas coisas em casa de M. d’Holbach (1965, p. 415). Rousseau aproveitou a relativa independência e viajou com Thérèse de volta a Genebra. Ali reviu alguns amigos e fez contatos que futuramente lhe seriam de grande valia, quando de seu processo em Genebra. Rousseau achou que era o momento de retomar a religião de sua pátria, isto é, o calvinismo que abjurara quando chegara ainda adolescente em Turim. Esse episódio foi um dos problemas centrais quando de seu processo em Genebra, pois seus adversários questionaram a validade de sua volta ao credo calvinista. Um dos debates interessantes a esse respeito é que Rousseau afirma que sua proximidade com os filósofos, especialmente os Enciclopedistas, não o afastou da religião e de suas convicções, ao contrário, lhe deu ainda mais convicções e o levou a reler a Bíblia mais algumas vezes. Nesse ínterim, foi visitar Madame d’Épinay, que o surpreendeu com um presente que ele não esperava. Ela ordenou que construíssem para ele uma casa, em sua propriedade, num lugar que o próprio Rousseau admirava: uma paisagem absolutamente bucólica, para que ele não precisasse mais deixá-la. Assim que pôde, Rousseau se instalou em sua casa em l’Ermitage e ali meditou suas obras capitais: Julie ou a Nova Heloísa, Emílio e Contrato Social. Nesse período, Rousseau encontrara a paz que desejava no campo, longe das cidades pelas quais ele não nutria paixões; chega a registrar o dia em que deixou de habitá-la: dia 9 de abril de 1756. Tinha estabilidade financeira suficiente para se estabelecer sem depender de auxílios ou pensões. Além dos recursos obtidos com suas obras publicadas, sua ópera e sua peça, Narciso ou o amante de si mesmo, lhe deram recursos mais significativos. 29 Todavia, continuava o trabalho de copista de partituras, que, segundo ele, não era um trabalho lucrativo, mas era certo e bastava para oferecer-lhe independência e sustento. Adivinhe, amigo leitor, o que aconteceu? Novamente cercado por intrigas e confusões, Rousseau acabou se vendo na constrangedora situação de ter de se mudar de sua casa em l’Ermitage, depois de romper com Madame d’Épinay. Ofendido com uma troca de correspondências mais ácida, por conta de vários desentendimentos, mudou-se às pressas e foi residir em uma casa bem mais modesta, onde tinha ao menos mais independência. Algum tempo depois, Monsieur e Madame Luxemburgo, vendo a situação precária da casa onde foi residir, ofereceram-lhe estadia em um edifício que ficava em suas terras, ao qual chamavam de “pequeno castelo”. O ano era de 1759, ele já havia terminado Julie ou a Nova Heloísa e estava concluindo o Emílio, inspirado pela paisagem bucólica que a casa oferecia. Foi nesse edifício solitário que me deram à escolha um dos quatro apartamentos completos que ele contém, além do res do chão composto duma sala de baile, duma sala de bilhar e duma cozinha. Fiquei com o menor e o mais simples, em cima da cozinha, que eu também tinha. Era duma limpeza de encantar; a mobília era branca e azul. Foi naquela solidão profunda e deliciosa, no meio dos bosques e das águas, ouvindo o concerto dos pássaros de toda espécie e sentindo o perfume da flor de laranjeira, que compus num contínuo êxtase o quinto livro do Émile, cujo colorido tão fresco devo, em grande parte, à viva impressão do local em que o escrevia (1965, p. 554). Com d’Alembert Rousseau teve poucas relações pessoais, geralmente ligadas às publicações, em primeiro lugar, de seus verbetes na Enciclopédia e, depois, em relação a um dos episódios mais interessantes sobre livros e política. D’Alembert escreveu o verbete Genebra na Enciclopédia, com o objetivo de favorecer o estabelecimento do teatro nessa cidade. Foi o próprio Diderot que incentivou Rousseau a escrever uma longa carta, que virou uma publicação independente, questionando aquilo que d’Alembert havia dito, pois envolvia não somente o teatro, mas também questões relativas à religião. Rousseau compôs sua Carta a d’Alembert, que circulou pela Europa e causou grande agitação, angariando muitos partidários da posição de Rousseau, que não era favorável à instalação do teatro. Sobre essa carta há duas questões que chamam a atenção. A primeira delas é sobre o teatro em Genebra. D’Alembert defendeu, no verbete, que, se Genebra permitisse a instalação de um teatro, ganharia muito com a arrecadação que esse tipo de casa de espetáculos pode oferecer, e a Europa ganharia também, pois, graças ao rigor dos costumes em Genebra, saberia que os artistas (os quais, na época, eram chamados de comediantes) poderiam ser pessoas de bem e não devassos. Resumamos três aspectos principais da carta. Em primeiro lugar, Rousseau admite que o teatro é um entretenimento e que o homem precisa deles, mas o teatro não é uma forma de diversão natural, e sim artificial, como tantas outras. Dessa forma, poderá ser bom para determinado povo, para as cidades, mas não é verdade que o seja para todos. Enfim, o teatro não é bom ou mau em si, mas em relação aos usos e costumes de cada povo. Em segundo lugar, 30 para Rousseau, o teatro não possui a função educativa que d’Alembert alega, pois, para agradar, deve acentuar as inclinações dos povos e não contrariá-las: “Um povo feroz e ardente quer sangue, combates, paixões atrozes. Um povo voluptuoso quer música e danças. Um povo galante quer amor e polidez. Um povo brincalhão quer gracejos e coisas ridículas” (1993, p. 41). Sobre o teatro, não deixa de chamar a atenção um interessante paralelo com as ciências. Rousseau insiste, mais de uma vez, que o espetáculo que o teatro oferece é em um lugar fechado, iluminado artificialmente, e que os povos simples preferem espetáculos a céu aberto. Neste, prevalece a transparência, naqueles, o obstáculo. Esse gosto por lugares abertos também o levou a definir que tipo de ciências mais gostava de estudar, e a vitória da botânica foi questão de tempo. Como sabemos, ele estudou medicina, anatomia, química e física. Assim, por experiência própria, lembra em seus Devaneios do caminhante solitário que os laboratórios de química e física são ambientes fechados em que, em meio a fornos e cadinhos, respira-se a fumaça de vapores sufocantes; nos laboratórios de anatomia, o espetáculo é de cadáveres em decomposição, com suas carnes moles e vapores pestilenciais. “Dou minha palavra que não é lá que J. J. irá procurar seus divertimentos. Brilhantes flores, coloridos prados, sombras frescas, regatos, bosquezinhos, verdura, vinde purificar minha imaginação maculada por todos esses hediondos objetos” (1986, p. 97). A outra questão não é relativa ao teatro, mas à religião de Genebra. D’Alembert afirmou em seu texto: “Para resumir, muitos pastores de Genebra têm como única religião um socinianismo perfeito, rejeitando tudo o que chamamos de ‘mistérios’, e imaginando que o primeiro princípio de uma verdadeira religião é não propor nada que se choque com a razão” (1993, p. 157). Ora, Rousseau não admite essa afirmação – que de fato é bem estranha. O socinianismo ao qual d’Alembert se refere é uma das “religiões racionais” mais conhecidas. Foi fundada por Lélio Sozzini ou Socino e se caracteriza por ser antitrinitária, rejeitar os mistérios, a doutrina do pecado original e considerar que o batismo é meramente simbólico, nada tendo a ver com a salvação. Essa corrente religiosa teve continuidade por Fausto Paolo Sozzini, sobrinho de Lélio, que se fixou na Polônia. Ora, como vemos, a religião sociniana está de fato muito distante da religião calvinista, na qual os mistérios são aceitos e o batismo tem uma função mais do que simbólica. Enfim, é muito estranho, de fato, d’Alembert ter confundido essas duas religiões. Quanto a Voltaire, suas relações nunca foram de amizade. Voltaire era um autor mais do que consagrado quando Rousseau ainda era um desconhecido. Seu primeiro contato foi quando, mesmo diante do fracasso das Musas galantes, Rousseau foi chamado para concluir a ópera de Voltaire e Rameau. Até aí, houve cordialidade, mas Voltaire não lhe devotava qualquer atenção especial. Depois, apareceram seus comentários críticos a Rousseau, a respeito das obras que este publicara, em especial 31 o Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. O maior problema entre eles se deu por conta da questão do teatro em Genebra. Voltaire era o maior defensor da causa e tinha muitas influências em Genebra que, mais tarde, fizeram a vida de Jean-Jacques ser bem difícil durante o processo contra suas obras e ele próprio. Além disso, as rusgas entre os dois ficaram registradas em um episódio muito interessante. Em 1755, houve um grande terremoto em Lisboa que provocou a morte de milhares de pessoas. Voltaire, impressionado com o tamanho do desastre, compôs e publicou o texto Poema sobre o desastre de Lisboa ou o exame deste axioma: Tudo está bem, cujo teor principal é o questionamento sobre a suposta bondade divina. Rousseau escreveu-lhe uma carta em resposta que circulou pela Europa, intitulada Carta a Voltaire sobre a Providência e foi publicada mais tarde em meio a certa confusão, pois nem Rousseau, nem Voltaire haviam autorizado a publicação dessa carta. Eis, enfim, a conclusão, da parte de Rousseau sobre o que pensava de Voltaire: Não gosto de sua pessoa, senhor; fez-me males que poderiam molestar-me muito, a mim, um seu discípulo e um entusiasta seu. O senhor perdeu Genebra pelo prêmio do asilo que ali recebeu; o senhor afastou de mim os meus concidadãos, pelo prêmio dos aplausos que eu lhe prodigalizei entre eles; [...] é o senhor que me faz morrer em terra estrangeira, privado de todos os consolos que os moribundos merecem, e lançado, com toda honra, no monturo [...] Eu o odeio, enfim, porque o senhor assim o quis [...] Se em sua pessoa só posso prestar honras ao seu talento, a culpa não é minha. Nunca faltarei ao respeito que é devido à sua inteligência, nem à conduta que esse respeito exige. Adeus, senhor (1965, p. 575). No Poema, vemos Voltaire criticar os filósofos otimistas que têm alvos certos: o filósofo inglês Alexander Pope (1688-1744) e o alemão Gottfried Wilhelm Von Leibniz (1646-1716). Por outro lado, Voltaire também põe em questão o problema da teodiceia, ou seja, da origem do mal no mundo. Como explicar que um Deus onisciente e bom possa admitir um desastre dessa grandeza? Ó infelizes mortais! Ó deplorável terra! Ó agregado horrendo que a todos os mortais encerra! Exercício eterno que inúteis dores mantém! Filósofos iludidos que bradais: “Tudo está bem!”; Acorrei, contemplai estas ruínas malfadadas, Estes escombros, estes despojos, estas cinzas desgraçadas, [...] Direis vós: “Eis das eternas leis o cumprimento, Que de um Deus livre e bom requer o discernimento?” Direis vós, perante tal amontoado de vítimas: “Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes?” Que crime, que falta cometeram estes infantes Sobre o seio materno esmagados e sangrantes? Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios Que Londres, que Paris, mergulhados nas delícias? Lisboa está arruinada e dança-se em Paris (VOLTAIRE, 2006). Voltaire, não se engane o leitor, não é ateu. Acredita na existência de um Deus de razão, mas o poema leva ao impasse porque o aborda do ponto de vista teológico 32 (bondade e onisciência de Deus) e metafísico (a ordem do mundo). Rousseau mudará o enfoque, escapará das questões metafísicas sobre a ordem no mundo, admitindo a bondade e a onisciência de Deus. O problema não é filosófico, mas histórico: Sem abandonar o vosso assunto de Lisboa, deveis convir, por exemplo, que a natureza não havia absolutamente ajuntado ali vinte mil casas de seis a sete andares, e que, se os habitantes dessa grande cidade estivessem espalhados mais igualmente e mais levemente alojados, o estrago teria sido muito menor e, talvez, nulo. Todos teriam fugido ao primeiro abalo, e no dia seguinte teriam sido vistos a vinte léguas de lá, tão alegres como se nada tivesse acontecido; mas foi preciso ficar, teimar em permanecer em volta das casas, expor-se a novos tremores, porque o que se deixa vale mais do que aquilo que se pode levar. Rousseau admirava Voltaire, mas não podia deixar de responder a um poema que não faz jus à Providência divina, que, para ele, nada tinha a ver com o desastre, pois este, como vimos, não foi causado pelo terremoto, mas pela cidade e pela vida das pessoas tão ligadas aos bens materiais. Quanto a Grimm, as rusgas também foram grandes. Grimm veio da Alemanha em 1748, e rapidamente se inseriu no meio artístico parisiense. Seu primeiro amigo e aquele que o apresentou ao círculo, especialmente a Diderot, foi Rousseau, que não se cansou de dizer, várias vezes, que Grimm não o pagou na mesma moeda, que jamais apresentou a Rousseau os amigos que fez quando “já andava com as próprias pernas” no meio artístico e literário. O maior conflito, no entanto, foi, sem dúvida alguma, o imbróglio de l’Ermitage. A Madame d’Épinay, que havia recebido Rousseau, foi amante de Grimm e, para Rousseau, este a envenenou contra si, até que ela rompeu relações com ele. Trocaram cartas bastante ácidas e não mais se falaram. Quanto a Madame d’Épinay, trata-se de uma mulher que, no século XVIII, ousou pensar por si mesma e escrever. Em especial, interessou-se pelo tema da educação e, nos momentos em que Rousseau esteve com ela, em l’Ermitage, tiveram mútua colaboração sobre esse assunto. Segundo Badinter: Como seu principal interesse dissesse respeito à educação de seus filhos, não parava de questionar a seu redor sobre esse tema. Descontente com o fato de que sua família tivesse abafado seu primeiro sentimento maternal, impedindo-a de amamentar e a retirando à presença de seus bebês, Madame d’Épinay fez apelo a seus amigos Duclos, Rousseau e Grimm, para aprender a arte pedagógica (2003, p. 207). A respeito de Diderot, já vimos o quão importante ele foi pessoal e profissionalmente para Rousseau. Esteve presente e foi o primeiro a conhecer as ideias das quais surgiu o Discurso sobre as ciências e as artes. Nos momentos difíceis de convívio com Madame d’Épinay, Grimm e outros, manteve a estima e a confiança no amigo. No entanto, Rousseau desconfiou que Diderot, voluntária ou involuntariamente, levou ao conhecimento de todos confissões que lhe haviam sido feitas pessoalmente, o que levou a sua indignação: “Tu também, Diderot! Exclamei. Indigno amigo!” Procurando um meio para anunciar o rompimento de forma diplomática, Rousseau inspirou-se na ruptura de Montesquieu com o padre 33 Tournemine: o autor do Espírito das Leis declarou publicamente a ruptura para evitar que as maledicências, de ambas as partes, tivessem algum crédito. Como fazê-lo? Ora, o texto da Carta a d’Alembert estava pronto, inseriu no prefácio uma pequena alusão ao caso, tomada de empréstimo ao Eclesiástico3 e poupando o nome do amigo com quem ele rompia. A expressão é a seguinte: “Eu tinha um Aristarco severo e judicioso, não mais o tenho, não quero ter outro, mas sinto contínuas saudades dele, e ele me falta muito mais ao coração do que aos meus escritos” (1993, p. 31). O efeito dessa declaração pública foi devastador para Rousseau. Todos souberam de sua ruptura com Diderot, mas acharam o golpe desleal e, novamente, ele foi considerado arrogante e mal-intencionado. Nesse rompimento com Diderot, em que novamente foi mal compreendido, talvez pudesse ter se lembrado de um episódio pelo qual havia passado muitos anos antes e que é narrado no Emílio. Estando em uma casa como convidado, ouviu as lições do preceptor de um dos filhos; não concordava com o que dizia, mas manteve-se quieto. Logo, todos concordavam com o mestre; Jean-Jacques sentiu vontade de expor sua opinião, que era contrária à de todos, mas nesse momento, uma mulher, que estava quieta até então, voltou-se para ele e lhe disse ao pé do ouvido: “Cala-te, JeanJacques, eles não te compreenderão!” (ROUSSEAU, 1992, p. 102). Tivesse carregado essa lição consigo, teria se poupado de outros episódios semelhantes. O leitor deve estar se perguntando, agora, “afinal de contas, qual confissão lhe fora segredada, que Diderot espalhou, causando tanta indignação de Rousseau?” Para responder a essa pergunta, vamos voltar um pouco no tempo e abordar um tema interessante da vida de Rousseau, detalhadamente descrito em suas Confissões: Sophie d’Houdentot. Além de sua importância por ser pivô da ruptura entre os dois filósofos, Sophie oferece parte significativa do comportamento das duas principais personagens femininas de Rousseau: sua homônima no livro V do Emílio e Julie, heroína da Nova Heloísa. Ambas serão mais bem analisadas na segunda parte desta obra. Foi Sophie o primeiro e único amor de toda a sua vida! O amor que sentia por Madame de Warens e por Thérèse o levava a um sentimento calmo, tranquilo. Por Sophie experimentou o amor em toda a sua fúria: palpitações, frêmitos, vertigens! Esse amor o deixou tão cego que não percebeu, à sua volta, aproximar-se uma tempestade de sentimentos negativos como ciúmes e inveja; quando sentiu os primeiros respingos, permaneceu em sua atitude, confiante de que a transparência de seu coração e a inocência de seus sentimentos bastariam para aparar os golpes que se armavam. Quando a viu pela primeira vez, ela ainda não estava casada e nada de mais houve entre eles. Somente depois de algum tempo a paixão despertou, pelo convívio em alguns encontros em l’Ermitage. O marido e o amante Saint-Lambert estavam em uma campanha militar e Sophie foi residir perto de sua cunhada, Madame d’Épinay. 34 A amizade firmou-se e logo as visitas e os passeios pelo campo foram se tornando frequentes. Certa vez, Sophie, que, pela descrição do próprio Rousseau, não era muito bonita, mas era encantadora, foi visitá-lo a cavalo, vestida de homem. Ele estranhou a necessidade da mascarada, mas nesse mesmo momento percebeu que o amor nascera. A partir dali, procurou forças para declarar-se, até que um dia, em uma paisagem bucólica, tomou coragem. Numa noite, passeando em um belo jardim à luz do luar, ao som de uma cascata artificial, sentados na relva, debaixo de uma acácia coberta de flores, ousou declarar seu amor. Entre as palavras doces, suas lágrimas caíam abundantemente e a faziam chorar também. Por motivos diferentes. Ela dizia entre soluços que não havia outro homem mais digno de ser amado, mas que seu coração não saberia amar duas vezes. Quanto mais ela recusava seu amor, mais ele a amava por suas virtudes. Enfim, ficou desse modo: ele caindo de amores por ela e ela por Saint-Lambert. Pelo que podemos entender, o problema desses encontros entre os dois é que se fizeram “debaixo do nariz” de Madame d’Épinay que, pelo visto, não gostou de ver seu protegido esquecer de seus deveres para com ela, reduzindo-lhe as visitas e os cuidados para dedicar-se à cunhada. Badinter nos dá uma pista sobre os sentimentos de Madame d’Épinay por Rousseau: Madame d’Épinay amou muito Rousseau e tudo fez para provar-lhe seu sentimento. Se é verdade que ela soube tirar proveito dessa relação de amizade, é certo que ele nunca lhe dedicou sentimentos tão ternos quanto os que nutria por ele (BADINTER, 2003, p. 91). Grimm aproveitou-se da situação e logo ocupou o lugar de preferido. Numa trama novelística, Madame d’Épinay tentou obter as cartas dos supostos amantes – pressionando Thérèse a entregá-las – e provar a Saint-Lambert que o homem em quem ele confiou para cuidar de sua amante o traíra. No meio da confusão, Rousseau desabafou com seu grande amigo Diderot sobre os sentimentos e as tramas em que estava sendo envolvido. Diderot, por sua vez, foi se aconselhar sobre o que acontecia, adivinhe com quem: Saint-Lambert! Dessa forma, ele teve a certeza das tentativas de sedução. A partir daí as rusgas ficaram tão evidentes que Rousseau, mesmo em pleno inverno e adoentado, encontrou outra casa e mudou-se às pressas da casa de Madame d’Épinay. O desdobrar da história foi o rompimento definitivo com Sophie, que lhe pediu as cartas de volta e garantiu que queimara as dele. Thèrése foi também envolvida nos conflitos pessoais de Rousseau. Segundo ele, Diderot e Grimm fizeram várias tentativas de separá-la dele e, em meio ao conflito que envolvera Madame d’Houdentot, ela foi pressionada a obter as cartas entre Rousseau e sua amada. Ele, no entanto, achou que o segredo que Thérèse guardou dessas situações nas quais foi envolvida foram motivos para “magoarem seu coração”. Mesmo assim, ele jamais se queixou dela e, alguns anos depois, a desposou para garantir-lhe o sustento em sua ausência, mesmo tendo prometido que não o faria. 35 Aliás, não houve promessa de casamento, mesmo! Comparando seu romance com Thérèse com o de Diderot e sua Nanette, Rousseau afirma: Ele tinha a sua Nanette, assim como eu tinha minha Thérèse; era mais uma semelhança entre nós. Mas a diferença era que minha Thérèse, pessoa tão agradável fisicamente quanto sua Nanette, era de gênio doce e amável, talhada para prender um homem honrado; ao passo que Nanette, de mau gênio e briguenta, nada possuía para descontar sua má educação aos olhos dos outros. Todavia ele a desposou. Foi coisa muito justa, já que lhe havia prometido fazê-lo. Quanto a mim, que nada tinha prometido de semelhante, não quis tratar de imitá-lo (1965, p. 370-371). Falar sobre Thérèse nos leva ao tema mais delicado e complexo da vida de Rousseau: seus filhos. O que dizer a esse respeito, que o próprio Rousseau já não tenha dito? O fato é que o autor de Emílio ou da Educação, mestre em educação dos filhos para Madame d’Épinay e outras damas, abandonou seus cinco filhos. Segundo ele, havia discordância entre a opinião dos pais dos rejeitados. Enquanto ele tomou a resolução de deixá-los, Thérèse, talvez muito imbuída do espírito da época, submissa ao companheiro e pai de seus filhos, apesar de não concordar com esse ato, “obedecia chorando” (1965, p. 370). Conforme Martins (2009), Rousseau abandonou o primeiro filho em 1746, o segundo em 1748, dois em 1751 e outro ainda em 1752, recorrendo a uma instituição social da época, o Enfants-Trouvés ou a “roda dos enjeitados”. Trata-se de um recurso para que os genitores das crianças não as abandonassem à morte. Surgiu na Itália, durante a Idade Média, foi criada justamente porque era alto o número de recém-nascidos encontrados mortos. Assim, a Igreja Católica desenvolveu a possibilidade de uma entrega anônima das crianças para adoção. O mecanismo conhecido como “roda dos enjeitados” ou ainda “dos desvalidos”, “dos expostos” e outros nomes, era um cilindro giratório com um compartimento no qual se depositava a criança; girando-o, ele se fechava e não se via quem entregou a criança. Tocava-se uma campainha para avisar que um recém-nascido fora entregue. Lousada (1965) e Martins (2009) observam que o abandono dos dois primeiros foi consequência de uma concepção de vida: Rousseau vivia em uma roda de amigos bastante liberais na casa de Madame la Selle, em Paris. “Isso me seduziu; formei meu modo de pensar de acordo com o que via dominar entre pessoas tão gentis e no fundo tão honradas; e a mim mesmo disse: Já que este é o costume da terra, posso segui-lo, porque nela vivo” (1965, p. 368). Outra hipótese era deixar os filhos sob os cuidados da família de Thérèse, mas ele descartou, pois não se dava bem com seus familiares, acreditava que a mãe os mimaria muito e a família faria deles “monstros”. Quando o terceiro filho nasceu, em 1751, Rousseau já era famoso, especialmente por causa de seu primeiro Discurso. Como ele mesmo diz, enquanto meditava sobre os deveres dos homens, foi obrigado a meditar sobre os seus, pois Thérèse engravidou pela terceira vez e o obrigou a pensar em qual decisão seria a mais acertada. Nunca, num só instante de sua vida, Jean-Jacques pôde ser um homem sem 36 sentimentos, sem entranhas, um pai desnaturado. “Pude enganar-me, mas não ficar empedernido” (1965, p. 381). Assim, resolveu-se que o melhor seria deixar as crianças à adoção, pois ele mesmo não tinha recursos suficientes para tratar delas e não poderia acompanhar a educação. Rousseau, ao destinar os filhos a ser operários e camponeses – fim mais comum daqueles que cresciam nos asilos –, e não aventureiros ou “cavaleiros de indústria”, julgava: “...agi como cidadão e como pai, e considerava-me como um membro da república de Platão. Mais de uma vez, desde então, os gemidos de meu coração me disseram que me havia enganado; mas longe de minha razão me dizer o mesmo” (1965, p. 383). Rousseau confessou esse seu segredo a poucas pessoas: Madame Dupin, Chenonceaux e Madame Francueil, que gozavam de sua inteira confiança. Rousseau teve certeza de que seu segredo fora revelado por Madame d’Épinay, Grimm e Diderot, depois da ruptura com eles. Jamais os perdoou por tal traição. Várias vezes reconheceu sua culpa, mas não teve jamais o desejo de prejudicar ninguém, ao contrário dos amigos que divulgaram seu segredo com o objetivo de prejudicá-lo. Na carta à Madame Francueil (1751), Rousseau argumenta sobre as razões de suas decisões, adiantando parte das ideias que desenvolverá mais tarde no segundo Discurso ou também conhecido como Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. “Não se deve fazer filhos quando não se pode alimentá-los”. Perdoe-me, Madame, a natureza quer que sejam feitos, pois a terra produz o suficiente para alimentar todo mundo; mas é o estado dos ricos, é o seu estado que rouba ao meu o pão dos meus filhos. A natureza quer também que sua subsistência seja garantida, foi o que fiz; se não existisse para eles um asilo, eu cumpriria meu dever e decidiria eu mesmo morrer de fome, mas não deixaria de alimentá-los (1988, p. 134). Quando publicou o Emílio (1762), Rousseau ainda não ousou declarar publicamente que destino dera aos seus filhos. Somente o fez no texto que nos serve de guia para esta primeira parte. Mas em sua obra sobre a educação não deixou de tocar no tema do “dever dos pais” e ali inseriu algumas observações que bem demonstravam seus sentimentos. Para ele, a educação dos filhos é um dever dos pais. A verdadeira ama é a mãe, assim como o verdadeiro preceptor é o pai, mas alegando os negócios, as funções, os deveres, os compromissos se esquivam do mais importante deles. Rousseau insere uma longa nota de rodapé no livro I do Emílio, descrevendo que Catão, o censor, educou o filho desde o berço; que, conforme Suetônio, Augusto encarregou-se de ensinar a escrita e a natação aos próprios netos. Ora, questiona, estes eram homens medíocres demais para entender as grandes questões que absorvem os homens de seu tempo e que não os deixam cumprir a mais importante de todas, a educação dos próprios filhos? Quando descreve uma família, procura demonstrar que esta, quando unida, forma espíritos muito amáveis. Então, critica o costume de sua época, segundo o qual os pais devem enviar seus filhos para serem criados em pensões, conventos e colégios, levar para “alhures o amor à casa paterna, ou melhor, a esta levarão o hábito de não se 37 apegarem a nada” (1992, p. 25). No seu caso, aponta nos Devaneios do caminhante solitário – obra que ficou incompleta –, uma das razões mais fortes para achar que seus filhos estariam melhor no Enfants-Trouvés do que com ele: Não estando em condições de educá-los pessoalmente, ter-me-ia sido preciso, em minha situação, que a mãe os criasse, o que os tornaria mimados e educados por sua família, que deles teria feito monstros. Ainda estremeço só em pensar (Oitavo Passeio, 1965, p. 383). O argumento mais importante, porém, vem no parágrafo logo a seguir. Observemos que é dividido em três temas: uma resposta aos seus acusadores, uma sentença em que parece se redimir do que escrevera a Madame Francueil e, por fim, quase a expressão pública de seus atos e dos sentimentos que estes provocavam em Rousseau. Um pai, quando engendra e alimenta seus filhos, não faz nisso senão o terço de sua tarefa. Deve homens a sua espécie, deve à sociedade homens sociáveis; deve cidadãos ao Estado. Todo homem que pode pagar essa dívida tríplice e não o faz é culpado, e mais culpado ainda, talvez, quando a paga em parte. Quem não pode pagar os deveres de pai, não tem o direito de ser pai. Não há pobreza, nem tarefas, nem respeito humano que o dispensem de nutrir seus filhos e de educá-los ele próprio. Leitores, podeis acreditar em mim: prediz que quem quer que seja tenha entranhas e negligencie tão santos deveres derramará por sua causa lágrimas amargas e nunca se consolará (1992, p. 25). Observe que nesse único parágrafo há diversos elementos, cuja análise se faz absolutamente necessária. Em primeiro lugar, responde aos amigos que o acusaram de não cumprir seus deveres por não ter cuidado dos próprios filhos. Dividindo a tarefa em três demonstra que cumpriu apenas a terça parte dela, mas que a maioria dos homens não as cumpre todas, por isso não teriam o direito de acusá-lo de negligência. A outra parte que chama a atenção é aquela na qual parece discordar do que havia escrito para Madame de Francueil, cujo trecho reproduzimos algumas páginas atrás. Na carta o vemos dizer que, de certa forma, sua pobreza o impediu de cuidar dos filhos, mas no trecho que lemos acima vemos que ele mudou de opinião: não há qualquer desculpa para que um pai não se deixe nutrir e educar os próprios filhos oferecendo mais do que homens à espécie, mas homens sociáveis e bons cidadãos. Por fim, a última parte do parágrafo não está mais no campo das desculpas ou justificações. Vemos Rousseau fazer uma declaração que é comovente. Lembremos que ele não havia assumido publicamente o abandono dos filhos, mas eis que deu todas as indicações de que o teria feito e que, por isso mesmo, sabe que não cumprir os “santos deveres” significa carregar esse peso para o resto da vida: “[...] derramará por sua causa lágrimas amargas e nunca mais se consolará” (1992, p. 25). 3 “Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, não desesperes, porque o regresso é possível; ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Salvo se se tratar de injúrias, afrontas, insolências, revelação de um segredo ou golpes à traição; em todos esses casos fugirá de ti o teu amigo” (22, 26-27). 38 Capítulo 4 Os últimos anos Deixamos Rousseau a bordo do navio, partindo para a Inglaterra, a convite de Hume. Já chegando, alojou-se em uma casa excelente, numa região campestre chamada Wootton, pertencente ao amigo de Hume, Mr. Davenport. Rousseau escreveu a Hume expressando seus agradecimentos pela acolhida e pelo apoio que o amigo lhe dera, material e espiritualmente, naqueles tempos difíceis que vivia. Porém, houve mais um imbróglio em sua vida. Ao que consta, um amigo de Hume, Mr. Horace Walpole, publicou uma carta na qual se fazia passar pelo Rei Frederico da Prússia e convidava Rousseau a residir naquele país. Rousseau tomou conhecimento da carta e achou que Hume era o autor da farsa e que seu objetivo era ridicularizá-lo. Foi embora às pressas da Inglaterra em 1766. Hume, quando ficou sabendo de tudo, ofendeu-se com Rousseau e compôs o seu “Um conciso e genuíno relato da disputa entre o Sr. Hume e o Sr. Rousseau”. Era o fim de mais uma amizade, era mais uma mudança de endereço. Rousseau continua mudando de endereço até o final, sempre envolvido em conflitos. Não obstante a vida pessoal intensamente perturbada, seus últimos anos renderam obras de alto valor literário e filosófico. Retorna a Paris sob o nome de Renou, depois volta a assinar como Rousseau; em 1768, casa-se com Thérèse. Nesse ano, finalmente, consegue publicar seu Dicionário de música, arte com que, como vimos, até os seus 35 anos contava ganhar fama em Paris. Em 1770, conclui as Confissões, que lia nos salões parisienses não sem certo escândalo; novamente a censura provocada por solicitações de Madame d’Épinay o fez calar. No entanto, ao final do texto afirma que fez a leitura à condessa d’Egmont, ao senhor príncipe Pignatelli, à marquesa de Mesmes e ao marquês de Juigné. Escreveu em 1771 uma de suas obras políticas – à qual voltaremos no estudo do Contrato Social –, intitulada Considerações sobre o governo da Polônia e sua reforma projetada, a pedido do conde Wielhorski, um dos nobres poloneses que organizavam uma revolta contra o governo do Rei Stanislas Poniatowski, que era subalterno aos interesses de Catarina II da Rússia. Em 1775, conclui o trabalho também autobiográfico Rousseau juge de JeanJacques: Dialogues. Quis colocar esta obra sob a proteção de Deus no altar-mor da Catedral de Notre-Dame, mas foi impedido de fazê-lo, porque os portões do altar estavam fechados. Esse episódio, segundo narra Rousseau, foi sua penúltima tentativa de ver seu nome inocentado de todas as acusações que lhe imputavam, ou melhor, se 39 não seu nome, ao menos seu coração. Ele ainda sonhava, de alguma forma, com o convívio pacífico com seus contemporâneos. Mas o incidente das grades do altar, fechadas, o deixou tão revoltado que escreveu um panfleto: A todo francês que ainda ama a justiça e a verdade, que distribuiu aos passantes em frente à Catedral de NotreDame sem conseguir a atenção de ninguém. Essa tentativa desesperada e a acolhida fria do desprezo o fizeram perceber que deveria deixar a esperança de voltar ao convívio da sociedade. Como afirmou Cassirer, a vida e a obra de Rousseau estão profundamente imbricadas. Tentar desfazer esses elos nos impedirá de compreender completamente a obra. A gênese de seus trabalhos, por mais teóricos e abstratos que sejam, está sempre vinculada às experiências de vida pelas quais passou e pelas questões de seu tempo, para as quais acreditava poder oferecer respostas. Vimos Jean-Jacques, como ele diz nas Confissões, em sua inteireza, sem nada esconder, nem de suas fraquezas, nem de suas convicções; vimo-lo aventurar-se sem dinheiro e sem qualquer recurso pelo campo; viver entre os homens da sociedade; bater-se contra biltres que ofendiam uma pobre camareira; ser processado e perseguido. Enfim, vimos um homem que, como todos nós, existiu nesta terra com todos os seus infortúnios e com suas benesses. Nos dois últimos anos de sua vida, viveu recluso com Thérèse, trabalhando em seus estudos de botânica; colhendo, estudando e catalogando plantas para seu Dicionário de Botânica. Decidiu escrever aquela que seria uma de suas obras mais belas: os Devaneios do caminhante solitário, que ficou inconclusa. Nas primeiras linhas deixa transparecer sua situação: “Eis-me, portanto, sozinho na terra, tendo apenas a mim mesmo como irmão, próximo, amigo, companhia. O mais sociável e o mais afetuoso dos humanos dela foi proscrito por um acordo unânime” (1986, p. 23). Para ele, os inimigos, ao tentarem destruí-lo completamente, ofereceram-lhe a ocasião para voltar à tranquilidade: retirando-lhe todas as esperanças de voltar ao convívio dos homens, não lhe deixaram mais nada além de ficar só; e nessa solidão, o coração purificado no “cadinho da adversidade”, encontrando a tranquilidade que sempre buscara. Rousseau encerrou seus dias com a maior felicidade que podia sentir naquele momento. Estava próximo à natureza, estudando as plantas; em companhia de Thérèse. Por suas opções e pelos acidentes que lhe ocorreram, talvez não tenha desfrutado daquela que era a maior felicidade por ele mesmo definida no Discurso sobre a desigualdade: “O hábito de viver junto fez com que nascessem os mais doces sentimentos que são conhecidos do homem, como o amor conjugal e o amor paterno”. Esse paradoxo, contudo, não nos parece ter sido elaborado por Rousseau, mas parece ser uma situação da existência humana, que não se pode prever. Eis como terminou a aventura que foi a vida de Jean-Jacques desde que deixou Genebra. Lembremos do que ele registrou nas Confissões quando deu seus primeiros 40 passos para uma vida independente: “Minha ambição se limitava a um só castelo; favorito do soberano e da Madame, namorado da jovem, amigo do irmão e protetor dos vizinhos, ficava contente; não me era preciso mais nada” (1965, p. 58). Não estava em um castelo, não tinha amigos, não pôde proteger os vizinhos – se bem que tentou, senão com a espada, ao menos com seus livros –, nem casou-se com sua princesa verdadeiramente amada. Todavia, não é dessa forma que encerraremos esta primeira parte. Em geral, os estudiosos de seu pensamento e de sua vida nos apresentam um Rousseau melodramático, melancólico, alguém que, ao final da vida ainda estava à procura da felicidade, remoendo, em seus últimos escritos, suas amarguras. Como todo mundo, teve momentos de tristeza, desespero, mas também de felicidade. É com um episódio assim, vivido nos últimos meses de sua vida, que encerro esta parte biográfica: Um domingo, fomos, minha mulher e eu, almoçar na porta Maillot. Após o almoço, atravessamos o bosque de Boulogne até Muette; lá, sentamos na relva, à sombra, esperando que o sol baixasse, para voltarmos, em seguida, tranquilamente, por Passy. Umas vinte meninas, conduzidas por uma espécie de Religiosa, vieram, algumas para se sentar, outras para se divertir, bastante perto de nós. Durante seus jogos, passou um vendedor de oublies, com seu mostrador, procurando clientes. Vi que as meninas cobiçavam as oublies, e duas ou três entre elas que evidentemente possuíam alguns liards, pediram permissão para jogar. Enquanto a Governanta hesitava e argumentava, chamei o vendedor e lhe disse: fazei com que todas essas donzelas tirem à sorte, cada uma por sua vez e eu vos pagarei o total. Essas palavras produziram em todo o grupo uma alegria que teria mais do que pago minha bolsa, se a tivesse usado só para isso (1986, p. 121). Esse episódio, sim, descreve verdadeiramente Rousseau: a tranquilidade ao lado de Thérèse; a verdadeira felicidade que, para ser obtida, não requer mais do que alguns liards; o contato com a natureza e, acima de tudo, o convívio com as crianças a quem ele amou a vida inteira. Mudou-se para o Ermenoville em maio de 1778 e faleceu pouco mais de um mês depois. Foi enterrado na ilha de Peupliers, e seus restos mortais foram transferidos ao Panteon em 11 de outubro de 1794, ao som das árias do Advinho da aldeia. Thérèse casou-se com Jean-Henri Bally em 1779, e com ele viveu até sua morte, em Le Plessis-Belleville, em 1801. 41 Parte 2 42 Introdução As principais obras de Rousseau foram escritas entre 1750 e 1761. Portanto, num período de onze anos saem de sua pena: o primeiro (1750) e o segundo (1754) Discursos; Julie ou a Nova Heloísa (1760); Emílio ou da Educação e ainda Do contrato social (ambos de 1762). Há pequenos textos anteriores a essa produção que estão profundamente ligados aos mesmos princípios, como, por exemplo, os verbetes da Enciclopédia “Economia política” e “Música”. Outras obras sucederam-se àquelas capitais, como resposta à condenação de Genebra: Cartas escritas da montanha; as Considerações sobre o governo da Polônia, além das autobiografias já citadas. A escolha dessas quatro obras deveu-se à sua importância decisiva para o pensamento de Rousseau; importância destacada pelo próprio autor que, nas Confissões, declara: “Tudo o que há de atrevido no Contrato social já surgira antes no Discours sur l’Inégalité; tudo o que há de audacioso em Émile já o era em Julie. Ora, essas afirmativas audaciosas não excitaram nenhum escândalo contra as duas obras, logo, não foram elas que o excitaram contra as duas últimas” (ROUSSEAU, 1965, p. 435). No entanto, para realizar nossa análise, vamos fragmentar nosso exercício em dois blocos. O primeiro será composto pelo Discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1754) e o Do contrato social (1762); o segundo bloco será composto por Julie ou a Nova Heloísa (1761) e pelo Emílio ou da Educação (1762). 43 Capítulo 5 O discurso sobre a desigualdade Esse discurso foi escrito por Rousseau em 1753, motivado por outro concurso da Academia de Dijon, cujo tema era: Qual é a origem da desigualdade entre os homens, e ela é autorizada pela lei natural? Apesar de ter enviado o texto para os juízes do concurso, tinha certeza de que, dessa vez, não seria premiado. De todo modo, havia obtido a celebridade e sua resposta à questão interessava ao público. Isso o motivou a publicar o discurso em 1754. Os editores foram felizes: a obra provocou grande polêmica e Rousseau, novamente, foi alvo de críticas dos seus inimigos, ora mais graves, ora mais irônicas. Do ponto de vista da história da filosofia, nessa obra Rousseau adentrou o debate sobre o problema da teodiceia, isto é, como explicar a origem do mal no mundo. Em especial, saber se o homem é bom ou mau por natureza. O dilema em questão é: se o homem é mau por natureza, como explicar que Deus, sendo sumamente bom e poderoso, pôs o mal no coração do homem? Por outro lado, se Deus não fez isso, e o homem nasceu bom por natureza, como explicar a origem do mal? Rousseau retomará os mesmos princípios da Carta a Voltaire: o mal que os homens vivem é somente consequência de suas próprias criações, portanto, a desigualdade – provavelmente, o maior de todos os males – nada tem a ver com a obra de Deus. Assim como os maus sentimentos que temos: ciúmes, raiva, ira, medo nada têm a ver com a obra de Deus, mas com a dos próprios homens. Essa obra merece um lugar especial na história da filosofia, porque apresenta certas peculiaridades. Em primeiro lugar, o prefácio, dedicado à República de Genebra, repleto de implicações políticas; depois, destaca-se a concepção do homem natural, de forma original a dos seus antecessores, e a passagem mais conhecida, aquela na qual Rousseau define a origem da desigualdade entre os homens na propriedade privada. Do ponto de vista metodológico, a obra é interessante pela forma como Rousseau articulou diversas fontes para descrever o homem em estado de natureza. As narrativas de viajantes europeus na América, África e Ásia forneceram importantes informações, pois foi possível comparar os modos e os costumes dos europeus aos de outros povos, permitindo vislumbrar a diferença entre o que estava por trás das máscaras da educação e do hábito daquilo que é próprio da natureza humana. Dentre outras, destacaram-se a obra do padre dominicano JeanBaptiste du Tertre (1610-1687), História geral das Antilhas habitadas pelos franceses (1671); a de Georges Louis Leclerc, o conde de Buffon, principal autor e 44 organizador da História natural geral e particular, publicada entre 1749 e 1804. A descrição das fontes nos leva imediatamente ao ponto principal da primeira parte da obra: em nenhum momento Rousseau confunde os povos nativos da América ou da África com o “homem em estado de natureza”. Tais povos podem estar mais próximos da natureza que os europeus, mas não nos dão o exato registro da natureza humana. O próprio Montaigne, por mais lúcidas que fossem suas reflexões em seus Ensaios, não se salvou da armadilha que já enredara outros contemporâneos de Rousseau. Montaigne pecava em sua análise, pois, ao descrever os horrores do canibalismo, acreditava que o mal estivesse na natureza humana. A dedicatória é um grande elogio à República de Genebra, que teria superado, inclusive, os exemplos paradigmáticos de Atenas e Roma. Elogia os magistrados, os cidadãos, os burgueses e compreende que ali se encontra a “maior liberdade possível”, uma vez que as virtudes individuais são iguais às virtudes civis. Em especial, elogia as “amáveis e virtuosas cidadãs” que, com seus bons modos, são a origem da virtude dos cidadãos; assim como as mulheres de Esparta governavam os homens, porque pariam homens, as de Genebra governavam os genebrinos. Muitos intérpretes afirmam que Rousseau exagerou nos louvores à sua cidade natal, criando uma Genebra mítica. Depois da condenação do autor e das obras em 1762, será que ele manteve o mesmo tom elogioso? Suas afirmações nas Cartas escritas da montanha viriam contradizer o prefácio do segundo Discurso? Acreditamos que não. Nas Cartas, há distinção entre “o Estado legítimo de Genebra”, suas leis e suas instituições sociais do “Estado atual”, ou seja, como, a despeito das leis, o Estado é governado. Portanto, criticar o governo de Genebra nas Cartas não é o mesmo que criticar as leis de sua terra natal; seus argumentos são desenvolvidos, justamente, para que Genebra volte ao império das leis e não dos governantes. O prefácio é uma obra muito interessante. Ali demonstra a importância de seu objeto: “O mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos humanos pareceme ser o do homem, e ouso afirmar que a simples inscrição do templo de Delfos continha um preceito mais importante e mais difícil que todos os grossos livros dos moralistas” (ROUSSEAU, 1973, p. 234). A inscrição acima referida é a que Sócrates adota como sua máxima: Conhece-te a ti mesmo. Para conhecer o homem da natureza, é preciso distinguir o que é da natureza humana e o que foi acrescentado pela educação;4 distinguir o natural do artificial. Essa tarefa não é exatamente científica, porque os testemunhos da história são “incertos”, assim como os dos viajantes. Então, o máximo que se propõe a fazer é reduzir a questão ao seu “verdadeiro estado”, em vez de propor a resposta definitiva a ela. Como será possível ver o homem tal qual a natureza o fez depois que tantas intervenções do próprio homem se sobrepõem à sua obra? Rousseau retoma a metáfora da estátua do deus Glauco, que se encontra no livro X da República de Platão, e insere pequenas mudanças que o levam ao seu próprio objeto de reflexão: 45 Como a estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as intempéries tinham desfigurado de tal modo que se assemelhava mais a um animal feroz do que a um deus, a alma humana, alterada no seio da sociedade por milhares de causas sempre renovadas, pela aquisição de uma multidão de conhecimentos e de erros, pelas mudanças que se dão na constituição dos corpos e pelo choque contínuo das paixões, por assim dizer mudou de aparência a ponto de tornar-se quase irreconhecível e, em lugar de um ser agindo sempre por princípios certos e invariáveis, em lugar dessa simplicidade celeste e majestosa com a qual seu autor a tinha marcado, não se encontra senão o contraste disforme entre a paixão que crê raciocinar e o entendimento delirante (ROUSSEAU, 1973, p. 233). Podemos observar aqui dois elementos fundamentais da primeira parte do segundo Discurso. O primeiro elemento se refere aos “princípios certos e invariáveis” que podem se referir aos “instintos” que os homens possuem, semelhantes ao dos outros animais; os animais vivem somente a partir desses princípios e o fazem muito bem. Por outro lado, também é da natureza humana aquilo que a diferencia dos outros animais, as paixões, mas elas não necessariamente conduzem às paixões que vemos nos homens da sociedade: ciúmes, inveja, ira, amor aos bens materiais etc. Estas não são naturais. Assim, veremos Rousseau, mais para frente, definir o que são, para ele, as paixões naturais humanas. Abordando especificamente o tema do concurso, afirma que há dois tipos de desigualdade: uma natural e outra moral ou política. A primeira é caracterizada pela diferença de idade, saúde, forças do corpo, bem como pelas “qualidades do espírito e da alma”. A outra é caracterizada pelos privilégios que a sociedade concede a alguns: riqueza, honrarias e poder. A tese da obra é a de que essas duas fontes de desigualdade nada têm em comum; as desigualdades sociais não encontram sua origem na natureza ou na desigualdade natural. O fato de existirem servos e senhores, pobres e ricos, não deriva do fato de haver pessoas fortes e fracas, mais ou menos dotadas de “espírito”. Enfim, a desigualdade civil e moral é inteiramente obra humana; a natureza humana não prepara um indivíduo para ser escravo e outro senhor, como acreditavam Platão, Aristóteles e outros filósofos. Rousseau irá analisar o homem natural a partir do corpo e também dos aspectos metafísicos e morais. A natureza dotou o homem de condições suficientes para sobreviver em meio a outros animais: se não é o mais forte, possui habilidades suficientes para se defender e caçar. Cada homem, vivendo isoladamente, poderia prover sua própria subsistência sem precisar contar com o auxílio de outrem. Dessa forma, não haveria necessidade de acumular bens; nem de enfrentar conflitos que colocassem em risco sua existência: se um animal mais forte, inclusive outro homem, o ameaça, ele poderá resistir até o ponto que interesse para sua sobrevivência, não lutaria “até a morte” por um pedaço de carne ou por um abrigo. Vive em completa independência e essa é a garantia de sua paz. Do ponto de vista moral e metafísico, as características são as seguintes. Os outros animais não conseguem desviar-se do que a natureza lhes impõe, a perfeição de seu estado é derivada desse limite. O homem, por sua vez, é livre e, na maior parte das 46 vezes, não obedece à natureza; indo contra ela, colhe prejuízos. Se essa liberdade humana é facilmente observada, não parece ser, por outro lado, fácil apontar sua origem. Como explicar que um animal da natureza foi dotado, por ela mesma, da capacidade de não lhe seguir os impulsos? Para Rousseau, há uma característica natural e exclusiva do ser humano que pode justificar o fato de ser capaz de superar os limites da própria natureza: a perfectibilidade. Mas, ainda quando as dificuldades que cercam todas essas questões deixassem por um instante de causar discussão sobre diferença entre o homem e o animal, haveria outra qualidade muito específica que os distinguiria e a respeito da qual não pode haver contestação – é a faculdade de aperfeiçoar-se, faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e se encontra, entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo; o animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda vida, e sua espécie, no fim de milhares de anos, o que era no primeiro desses milhares (ROUSSEAU, 1973, p. 249). Portanto, Rousseau discorda da ideia de que a razão ou a linguagem é que são os elementos de diferenciação entre os homens e os animais. Na sociedade essa diferença é evidente, mas ela também tem uma origem que é a perfectibilidade. O uso da razão pressupõe o desenvolvimento de muitas faculdades humanas, assim como a linguagem. Aqui podemos fazer também uma crítica à interpretação de Marx sobre o mesmo problema. O autor de O Capital indica como elemento diferenciador entre os homens e os animais o trabalho, mas este, tal como a razão e a linguagem, é fruto de uma série de progressos e não da possibilidade de surgirem esses progressos. Até mesmo poderíamos dizer que o trabalho, na perspectiva de Marx, surgiu somente depois que a razão e a linguagem estavam muito desenvolvidas. Rousseau utiliza raciocínios paradoxais para chamar a atenção do leitor; esses raciocínios deixam hiatos entre as premissas e a conclusão, de tal modo que chocam a razão. Ora, esses hiatos devem ser preenchidos pelo próprio leitor, que é levado a retomar o princípio do texto, o que torna a obra objeto de cuidadosa leitura. O primeiro é “Por que só o homem é suscetível de se tornar imbecil?” (p. 249), e o segundo: “o animal que raciocina é um animal depravado?”. Quanto ao primeiro paradoxo, temos o seguinte: o homem é o único animal que pode escapar às exigências da natureza, isso lhe dá condições de decidir o que fazer, ao contrário dos animais, que seguem necessariamente o instinto. Dessa forma, ao ter liberdade, muitas vezes escolhe o pior para si e seus semelhantes (“tornar-se imbecil”) assim temos: o homem é um ser natural – possui liberdade de escolha –, pode escolher entre o que é melhor e o que é pior para ele – frequentemente escolhe o pior. O segundo paradoxo apresenta o mesmo sentido e se explica da seguinte forma. O animal que raciocina é diferente dos outros animais que podem até ter ideias, mas não raciocínios complexos; seu raciocínio o leva a ter poder de escolher o que é melhor para si e seus semelhantes. Frequentemente, levado por uma multidão de vícios, acaba escolhendo o que é pior. Por isso, só o homem tem a capacidade de se tornar “depravado e imbecil”. Rousseau não está dizendo que essa é a nossa única opção 47 enquanto homens. Afinal de contas, como o homem passou da condição de ser inteiramente natural, só e independente, a viver em sociedade? Há uma longa série de acontecimentos que conjecturam sobre essa passagem. Até aqui, Rousseau dedicou-se a demonstrar como ela foi possível pela própria natureza humana. Trata-se de uma série de acidentes geográficos que levaram o ser humano a progredir. Insistimos, novamente, os outros animais também estavam sujeitos aos mesmos acidentes, por que não progrediram? Porque não possuíam a perfectibilidade. Rousseau concebe no homem em estado de natureza duas paixões naturais: o amor de si e a piedade natural, observáveis também em outros animais. Em estado de natureza, o homem seria um ser amoral. Quando Rousseau afirma que o homem é bom por natureza, não quer dizer que ele possua os princípios das virtudes sociais que conhecemos. Estas, tais quais os vícios, são sociais. Assim, a sua bondade deriva, antes de mais nada, de não haver qualquer princípio de “maldade”. Quando Hobbes afirma que o homem é egoísta, e Pascal, que ele é tímido, não estão falando de paixões do homem em estado de natureza, mas do homem em sociedade; tais paixões não existem na natureza. O amor de si o leva a preservar-se, a piedade natural, à comiseração com outro ser que sofre. O amor de si, desenvolvendo-se na sociedade, torna-se, ao se degenerar, amor próprio;5 a piedade natural, por sua vez, é a fonte de todas as virtudes sociais, e, moderando o amor de si, concorre para a preservação da espécie. O homem em estado de natureza continuaria a sentir sua existência, preocupandose em preservar-se – como todos os outros animais –, se não fosse pelo fato de a perfectibilidade lhe permitir desenvolver suas paixões e comparar-se com outros animais. Seu sentimento foi de superioridade e orgulho de si e, a partir daí, comparou-se com seus semelhantes. Aqui, Rousseau responde a um problema legado por Aristóteles. Para esse filósofo, o homem é naturalmente sociável, mas Rousseau, discordando da tese, quer conjecturar como a sociabilidade também é fruto de princípios que lhe são anteriores. Os homens fizeram suas primeiras associações para atingir um fim comum: a caça, por exemplo. Uma vez atingido o objetivo, a sociedade se desfazia e não havia mais compromisso mútuo. Aliás, para ele, assim também os homens se reproduziam: uma vez o casal associado, e satisfeito o desejo, separavam-se e não se estabelecia qualquer compromisso moral. Somente aos poucos, os homens foram desenvolvendo o sentimento da sociabilidade e, comparando-se com outros homens, adquirindo os princípios de compromissos que não estão inscritos na natureza. Foi preciso saltar “uma multidão de séculos” para que o homem desse estado de natureza começasse a se aperfeiçoar e desenvolver sentimentos: “os primeiros progressos do coração resultaram numa situação nova que reunia, numa habitação comum, maridos e mulheres, os pais e os filhos. O hábito de viver juntos fez com que 48 nascessem os mais doces sentimentos que são conhecidos do homem: o amor conjugal e o amor paterno” (ROUSSEAU, 1973, p. 268). Então, chegamos à nossa primeira conclusão: o primeiro passo para passarmos de seres independentes para a sociedade foi a formação das famílias, a partir dos sentimentos. Depois vieram as primeiras comunidades: “Os homens habituaram-se a reunir-se diante das cabanas ou em torno de uma árvore grande; o canto e a dança, verdadeiros filhos do amor e do lazer, tornaram-se a distração, ou melhor, a ocupação dos homens e das mulheres ociosos e agrupados” (ROUSSEAU, 1973, p. 269). Assim, as comunidades foram crescendo juntamente com o afeto mútuo, mas também com sentimentos um tanto negativos, pois surgiram comparações como o mais belo, o mais forte, o que cantava melhor e assim, inveja, desprezo e vergonha começaram a brotar no coração humano. Chegamos ao momento em que, conforme a linha de raciocínio do segundo Discurso, seria o ápice da existência humana: a formação de pequenas comunidades autossuficientes, nas quais todas as necessidades eram providas pelo trabalho comum, e não havia nada que um homem não pudesse fazer sozinho. O critério é, portanto, o da independência, seja do homem ou das comunidades, nas quais não havia divisão entre ricos e pobres: Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou com cerdas suas roupas de peles, a enfeitar-se com plumas e conchas, a pintar o corpo com várias cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, a cortar, com pedras agudas, algumas canoas de pescador ou alguns instrumentos grosseiros de música – em uma palavra: enquanto só se dedicaram a obras que um único homem podia criar e a artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, viveram tão livres, sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza, e continuaram a gozar entre si das doçuras de um comércio independente (ROUSSEAU, 1973, p. 270-271). Vemos, então, que, mesmo que consideremos uma “queda” na história humana, de um modelo ontológico superior para um inferior, não se trataria do momento inicial da humanidade, pois ali os homens se encontram no mesmo estado dos outros animais: em completa dependência da natureza; nem dos momentos posteriores em que os homens, iniciando seu desenvolvimento, ainda vivem em completa independência uns dos outros, sem formar famílias. Mas é a partir do momento em que estas comunidades se estabelecem que se inicia a possível queda. A sequência do texto é significativa, como veremos. A desigualdade social nasce no instante em que se perde a independência: [...] mas, desde o instante em que um homem sentiu necessidade de socorro de outro, desde que se percebeu ser útil a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis, que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas [...] (ROUSSEAU, 1973, p. 271). Eis a origem da desigualdade! Aqui, pela estrutura do texto, já entramos na segunda parte, mas fizemos uma leitura que evita o estilo de Rousseau e seguimos 49 “cronologicamente” sua explicação. Rousseau, retoricamente, aponta a propriedade privada como “origem”, mas ele mesmo admite que, para chegar a essa ideia, a humanidade já teria progredido bastante no caminho da desigualdade. Assim, afirma que, enquanto para o poeta, o ouro e a prata produziram uma grande revolução, gerando a desigualdade, para ele foram a metalurgia e a agricultura. Quanto mais o gênero humano crescia, mais alimentos eram necessários, porém, para que a agricultura pudesse ser mais produtiva, precisaram de melhores ferramentas; logo, havia homens dedicando-se somente a uma arte ou outra. A agricultura levou à partilha das terras. Para Rousseau, a ideia de propriedade nasce da ideia de trabalho: cada agricultor reivindica o fruto daquilo que cultivou na terra, logo, dá-lhe direito sobre a gleba em que trabalhou, enquanto ali está o produto do seu trabalho; renovando-se essa posse todo ano, logo surge a ideia de propriedade. Agora sim, podemos – a partir desse “recorte” da obra de Rousseau – entender como a propriedade é a mãe da desigualdade: O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: “Defendei-vos de ouvir esse impostor; estaríeis perdidos se esquecerdes de que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém!” Grande é a possibilidade, porém, de que as coisas já então tivessem chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores que só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou repentinamente no espírito humano (ROUSSEAU, 1973, p. 265). O outro estágio da desigualdade foi o estabelecimento do falso pacto ou o pacto social do rico, pelo qual os mais ricos, para manter o que possuíam, induziram os mais pobres a defender seu interesse, imaginando que defendiam os interesses de todos: Unamo-nos para defender os fracos da opressão, conter os ambiciosos e assegurar a cada um a posse daquilo que lhe pertence; instituamos regulamentos de justiça e de paz, aos quais todos sejam obrigados a conformar-se, que não abram exceção para ninguém e que, submetendo igualmente a deveres mútuos o poderoso e o fraco, reparem-se de certo modo os caprichos da fortuna. Em uma palavra, em lugar de voltar nossas forças contra nós mesmos, reunamo-nos num poder supremo que nos governe e defenda todos os membros da associação, expulse os inimigos comuns e nos mantenha em concórdia eterna (ROUSSEAU, 1973, p. 275). Rousseau em nada poupa o estabelecimento da sociedade civil como uma forma de legitimar a desigualdade entre ricos e pobres; ela já existia “de fato”, mas não “de direito”. Como vimos, ao longo de toda a segunda parte do Discurso sobre a desigualdade, demonstra como, das primeiras comunidades, surgem as primeiras relações de trabalho que começam a diferenciar pobres de ricos. Se as sociedades se limitassem a uma situação em que todos teriam o necessário e trabalhassem de comum acordo, sem haver a necessidade de um explorar o trabalho do outro, então não teríamos necessidade do estabelecimento do Estado. 50 Reações ao Discurso sobre a desigualdade Rousseau enfrentou duras críticas ao seu discurso. O Mercure de France publicou, em 1775, uma carta assinada pelo senhor Philopolis (pseudônimo do genebrino Charles Bonnet). O termo escolhido ilustra a leitura mais comum dessa obra: pode ser entendido como “defensor da civilização”, pois o termo “polis” não remete somente à cidade-estado, mas ao modo de vida nas cidades: “policiado”, sinônimo de civilizado. Ora, tal termo quer opor-se ao segundo Discurso que, para muitos, atacou a civilização, “defendendo” um retorno à vida natural. A resposta ao senhor Philopolis nos serve de guia para ler o próprio Discurso sobre a desigualdade. Em primeiro lugar, insiste que, via de regra, ao definir a natureza humana, muitos filósofos atribuíram a ela características que só poderiam ter vindo da sociedade, sendo, portanto, fruto dos hábitos e da educação. Os filósofos observaram os homens civilizados e deduziram de seu comportamento a natureza humana e, por que não dizer, de certa forma deduziram que o próprio Estado é natural. Rousseau demonstra como, de certa forma, Aristóteles havia influenciado decisivamente a antropologia filosófica e a filosofia política: ao dizer que o homem é um “animal político”, conclui-se que o Estado é, portanto, natural. Outra reação bastante negativa foi a de Voltaire. Ele recebeu um exemplar do Discurso sobre a desigualdade e fez a seguinte observação: Recebi, senhor, vosso novo livro contra o gênero humano. Obrigado. Nunca se empregou tanta sutileza no sentido de nos bestializar; dá vontade de andar de quatro, quando acabamos de ler o seu livro. Não obstante, como perdi tal hábito há mais de sessenta anos, desgraçadamente sinto ser impossível recuperálo, e deixo essa postura natural aos que são mais dignos dela do que o senhor e eu (VOLTAIRE, 2011, p. 183-184). Apesar da ironia espirituosa e de provocar risos até mesmo nos estudiosos de Rousseau, a crítica de Voltaire não atinge o cerne do segundo Discurso, pois o autor do Cândido parte do mesmo princípio de outros leitores de Rousseau, ou seja, o princípio de que o segundo Discurso é uma espécie de elogio ao estado de natureza e que Rousseau está propondo o abandono do estado de civilização. Por que não dizer, até mesmo do contrato social? Ao que parece, alguns anos depois, numa peça de teatro, um personagem entrava engatinhando. Ao perguntarem quem era ele, dizia: sou o homem natural de Rousseau! Conclusão À guisa de conclusão desta apresentação do segundo Discurso, poderíamos dizer que essa obra, em virtude dos paradoxos e da retórica de Rousseau, provocou uma série de polêmicas, e ainda hoje provoca, até mesmo para os estudiosos do seu pensamento. Muitos intérpretes consideram que, para Rousseau, a humanidade vive uma “história em declínio”. Tal concepção, vista sob o ângulo dessa obra, é 51 adequada, pois é na sociedade que surgem as relações servis de trabalho, a exploração do homem pelo homem, as sociedades políticas que nada mais fazem do que defender os interesses dos ricos etc. Assim, apontam um “pessimismo histórico” ao lado de um “otimismo antropológico”, ou seja, apesar da história da humanidade ser um declínio, a alma humana manteve-se íntegra. Não há dúvida de que uma visão como a de Rousseau sobre a história humana é profundamente negativa. Pois o que é, afinal, esse longo processo de evolução senão a gênese de nossos vícios e dos nossos males, e a nossa história senão um movimento de queda, tal como o relato bíblico? Expulso do paraíso, o homem está condenado a ser o lobo do homem. Todo esse pessimismo histórico, pelo menos, salva o homem e sua natureza essencial [...] ao pessimismo histórico contrapõe-se um otimismo antropológico (FORTES, 1989, p. 45). Havemos de considerar, porém, que essa obra tem um determinado objetivo e que pode não ser a última palavra de Rousseau a respeito do tema, nem relativamente à história nem ao contrato social. A interpretação da “história em declínio”, portanto, não é a única possível. Observemos que, por exemplo, várias nações são descritas por Rousseau como sociedades em que se viveu com liberdade, destacando-se Esparta, Roma (republicana) e sua própria Genebra. Então, ao lado do “otimismo antropológico” haveria também um “otimismo político”. Em tais exemplos, os cidadãos expulsaram os tiranos e salvaram a nação da morte, criando um Estado tão livre quanto possa ser. Há ainda outro aspecto a ser levado em conta: o início do Contrato social. Nessa obra encontramos algumas passagens que auxiliam a elucidação de alguns conceitos do segundo Discurso. No início do capítulo 1 do Contrato Social lê-se: “O homem nasce livre e, por toda parte encontra-se a ferros [...] Como adveio tal mudança? Ignoro-o. Que poderá legitimá-la? Creio poder resolver esta questão” (ROUSSEAU, 1973, p. 28). Como bem observa o comentário de Machado na edição de Os Pensadores, Rousseau não ignora como ocorreu essa mudança, ela está descrita no Discurso sobre a desigualdade, mas ele não quer voltar ao tema. Seu objetivo é analisar a seguinte situação: o retorno ao ápice da sociedade humana não é mais possível, só o que podemos esperar é viver em sociedades organizadas politicamente, dessa forma, sob leis, governo etc. Assim, como essa é a condição atual, “os homens como são e as leis tais quais podem ser”, pode-se encontrar um modo de legitimar a vida em sociedade, tornando os homens “tão livres quanto possam ser”. Por fim, há ainda uma passagem mais contundente no início do Contrato que nos remete diretamente ao segundo Discurso. Trata-se do capítulo do estado civil: A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que fruem da natureza, ganha outras de igual monta: suas faculdades se exercem e se 52 desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda a sua alma se eleva a tal ponto que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem frequentemente a uma condição inferir àquela donde saiu, deveria sem cessar bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente e um homem (1973, p. 42, os grifos são nossos). Sem dúvida alguma, Rousseau não vê a vida nas cidades, dos homens “policiados” ou “civilizados”, como modelo ideal, ao contrário, para ele a vida nas cidades prejudica tanto o corpo quanto a alma. O campo é o modelo paradigmático que adota e ele mesmo preferiu, como vimos na primeira parte deste livro, viver mais próximo à natureza do que às cidades e seus homens. Vimos que o ápice do gênero humano foi a vida das comunidades nas quais ainda reinava a independência de cada um e somente os laços afetivos mantinham todos unidos. No entanto, em nenhum momento vemos a proposta de retorno à vida simples, como se propusesse que se destruíssem as cidades ou algo parecido, nem tampouco, por outro lado, um pessimismo histórico. É uma obra teórica, por isso, são várias as interpretações possíveis, mas acho interessante encerrar esta apresentação com as palavras do autor no prefácio: “[...] não constitui empreendimento trivial separar o que há de original e de artificial na natureza atual do homem, e conhecer com exatidão um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá” (ROUSSEAU, 1973, p. 324). CONTINUAR A PENSAR Quando Rousseau escreveu o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, afirmou que há dois tipos de desigualdade: a natural e a artificial ou da sociedade. Para Rousseau, a primeira não justifica, de forma alguma, a segunda. Você acha que nos tempos de hoje, século XXI, a resposta de Rousseau ainda vale? Por quê? 4 Aqui devemos fazer uma distinção da linguagem de Rousseau para a dos nossos dias. Hoje diríamos tranquilamente: saber distinguir o que é da natureza humana e o que é da cultura. Rousseau não utiliza a ideia de cultura da mesma forma que nós, mesmo porque é um dos inspiradores da antropologia ou das “ciências do homem”, nas palavras de Durkheim. Assim, quando ele se refere ao que chamaríamos hoje de “cultura” de cada povo, ele usa a expressão “usos”, “modos” ou “costumes”. Outra expressão que exprime bem seu pensamento é a que se encontra no Emílio: “Amanham-se as plantas pela cultura e o homem pela educação”. Por isso, utilizaremos aqui o termo “educação”, e não “cultura”. 5 Na linguagem geral da psicologia de hoje, diferenciam-se estes princípios mais ou menos da seguinte forma: por egoísmo entende-se algo como o “amor de si” e por egocentrismo, o amor próprio, pois o altruísmo levado ao extremo seria um atentado contra a própria existência. 53 Capítulo 6 O contrato social Com certeza, essa é a obra mais famosa de Rousseau e, consequentemente, a que mais se prestou a interpretações equivocadas. Há dezenas de edições do Contrato social, algumas mais simples, somente com o texto; outras mais complexas, incluindo comentários críticos. Está presente nos livros didáticos para o Ensino Médio e em todos os cursos de graduação em Filosofia. Rousseau havia concebido a ideia de um livro sobre a filosofia política antes do Contrato intitulado Instituições políticas. Os originais foram destruídos pelo autor, mas sobraram algumas cópias que foram utilizadas pelos estudiosos para compreender melhor seus conceitos. Destaca-se o estudo crítico da coleção das obras completas da editora Plêiade, indicada nas referências bibliográficas. Antes de apresentar os principais conceitos do Contrato, colocaremos em destaque o que os estudiosos chamam de “chaves de leitura”. Elas são importantes para que diversos aspectos sutis de interpretação sejam compreendidos, o que não elimina, evidentemente, alguns debates acerca da obra de Rousseau. Em primeiro lugar, observamos que, conforme os projetos de Rousseau, o Emílio deveria ser publicado alguns meses antes do Contrato, o que prepararia o público para esta obra. Inseriu um resumo do Contrato no livro V, quando Emílio conta com aproximadamente vinte anos e irá viajar pelo mundo para conhecer a realidade política de outros Estados. Para tanto, viajar somente não adiantaria nada, é preciso observar, analisar e comparar as diferentes realidades, para que possa julgar sua própria terra e tornar-se melhor cidadão. No Emílio, Rousseau afirma que o direito político é uma ciência que ainda estava por nascer. Para ele, nem Hugo Grotius (1583-1645) nem Thomas Hobbes (15881679) teriam conseguido compreender as exigências desse tema; quanto a Montesquieu (1689-1755), por quem ele guarda profundo respeito, afirma que também não conseguiu divisar o direito político, sua obra O espírito das leis (1748) trataria somente do direito positivo dos governos estabelecidos. Então, Rousseau apresenta seu método que define o sentido do Contrato: Antes de observar, é preciso observar regras para as observações; é preciso uma escala para as medidas que tomamos. Nossos princípios de direito político são essa escala. Nossas medidas são as leis políticas de cada país (ROUSSEAU, 1992, p. 553). Essa apresentação nos leva diretamente ao ponto: o Contrato social não é um 54 “manual de governo”, não se assemelha aos livros da história da Filosofia Política, porque quer escapar das circunstâncias e apresentar uma obra que analise os princípios do direito político para todas as sociedades humanas. É um projeto ousado, de cujo sucesso a posteridade é testemunha. No próprio Contrato há também uma declaração dos métodos que Rousseau pretende empregar para atingir esses objetivos. O que legitima a situação atual dos homens, isto é, como ou quanto podemos ser livres, mesmo vivendo sob as leis do Estado? Para tanto, é preciso tomar os “homens como são e as leis como podem ser” (ROUSSEAU, 1973, p. 27). Entro na matéria sem demonstrar a importância de meu assunto. Perguntar-me-ão se sou príncipe ou legislador, para escrever sobre política. Respondo que não, e que por isso escrevo sobre política. Se fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo, dizendo o que deve ser feito; haveria de fazê-lo, ou calarme (ROUSSEAU, 1973). Ora, Rousseau deixa claro que seu objetivo não é propor um “manual de governo”, como, de certo modo, podemos compreender O Príncipe de Maquiavel. Não se trata de orientar a melhor forma de manter o Estado e o governo, e sim quais são os princípios que podem tornar legítima a situação em que todos se encontram: submetidos às leis do Estado. No original do Contrato, Rousseau discute essa situação a partir da seguinte metáfora: os homens, hoje, não podem mais retornar ao estado de natureza, de absoluta independência, porque, desde o nosso nascimento, estamos vinculados a um Estado; como os “compostos químicos” que não podem mais ser separados, uma vez adentrando o estado civil, não há mais retorno. Por isso, afirmará no capítulo do direito de vida e morte que, de certo modo, nossa vida biológica é submetida à vida política, um “dom do Estado”. Tese que, no século XX, será muito debatida pelos teóricos da ética e filosofia política. Nosso objetivo não é apresentar um resumo dos quatro livros do Contrato, pois seria uma tarefa exaustiva e de pouco proveito para o leitor. Há bons resumos nas edições críticas. Gostaríamos de apresentar alguns conceitos-chave que permitirão uma visão analítica da obra. O pacto social É preciso abstrair a concepção desse conceito para compreender a proposição de Rousseau. Hume, por exemplo, sempre questionou-o a partir do ponto de vista de que o tal pacto original nunca aconteceu de fato. Rousseau sabia muito bem disso e sobre essa questão havia adiantado a resposta nas linhas iniciais do primeiro capítulo do livro I: “O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Ignoro-o. Que poderá legitimá-la? Creio poder resolver esta questão” (ROUSSEAU, 1973, p. 28). Não se trata de fazer uma pesquisa histórica, mas abstrata, para, indo além da história das constituições, encontrar os fundamentos do poder político, aquilo que legitima o poder do Estado. 55 Thomas Hobbes, em seu Leviatã, propõe a ideia de que um povo nasce quando um grupo de pessoas dispersas (multitude) pactua entre si, combinando criar um poder comum que a todos governe. Uma vez estabelecido, esse povo cede todos os seus direitos a um soberano, que poderá ser um homem ou uma assembleia que terá o direito de governar a todos. Portanto, para Hobbes há somente um pacto: o de cada um com todos; o soberano não pactua com ninguém! Ele permanece em absoluta independência em relação ao corpo de cidadãos que lhe cedem os direitos. Samuel Pufendorf (1632-1694), discordando de Thomas Hobbes, propõe a tese do duplo pacto. O primeiro é aquele que faz com que uma multidão se torne um povo, é o pacto de união (pactum unionis) e, depois desse, o pacto firmado entre o povo e o soberano, que é o pacto de submissão (pactum subjuctionis). Pufendorf não gostava, portanto, da ideia de que o povo entregava-se a um soberano que não tinha qualquer compromisso com ele, por isso, destaca a necessidade de um segundo pacto. A solução de Rousseau, em relação à de seus antecessores, é original. Para ele, há somente um pacto: aquele pelo qual o povo foi instituído. Ora, a princípio, parece concordar com Hobbes, mas aqui há uma diferença: ao instituir-se como povo, constitui-se imediatamente como soberano: o povo é o próprio soberano. Aqui cabe diferenciar, cuidadosamente, a noção de soberano e de governo. O soberano é aquele a quem cabe legislar; o governo é assumido por homens, integrantes do pacto, a quem cabe zelar pelo cumprimento das leis, mas sem nenhum direito legislativo! Desses esclarecimentos, e confirmando o capítulo XVI, resulta que o ato que institui o governo não é de modo algum um contrato, mas uma lei; que os depositários do poder executivo não são absolutamente senhores do povo, mas seus funcionários; que ele pode nomeá-los ou destituí-los quando lhe aprouver; que para eles não cabe absolutamente contratar, mas obedecer; e que, incumbindo-se das funções que o Estado lhes impõe, não fazem senão desempenhar seu dever de cidadãos, sem ter, de modo algum, o direito de discutir as condições (ROUSSEAU, 1973, p. 119). Essa, sem dúvida, é uma das passagens que fazem com que Rousseau seja considerado um defensor da democracia: afinal, o governo não tem qualquer direito de discutir as condições com as quais governará, deve apenas cumprir o que lhe é determinado pelas leis, isto é, pelo que o próprio povo designou. Como dissemos, trata-se de entender essas ideias do ponto de vista abstrato, e não das circunstâncias reais: os governos, via de regra, tentam tomar o poder para si mesmos, querendo ter liberdade de governar a seu bel-prazer, mas isso não invalida o princípio geral. Soberano A soberania apresenta duas características fundamentais: ela é inalienável e indivisível. Da mesma forma que um indivíduo não pode dar-se como escravo a outro, pois tal ato seria nulo, um povo não pode dar-se a um senhor, como queria o filósofo Hugo Grotius em seu Direito de paz e guerra (1625). Se um povo limitar-se a obedecer a um chefe deixará de ser “povo” justamente porque sua principal 56 característica é a liberdade, que ele perderia caso fosse legítimo esse ato. Cada indivíduo, como vimos, ao adentrar o pacto social, deixa a liberdade natural e ganha a liberdade civil. Na hipótese de alguém abrir mão dessa liberdade, voltaria ao estado de natureza e não lhe restaria qualquer direito civil. Trata-se da figura jurídica do homo sacer, isto é, “entregue aos deuses”, pois dos homens não lhe cabe mais nenhuma proteção das leis. Em geral, supõe-se que ainda estamos em condição de fazer essa opção, mas isso não é mais possível; como vimos acima, desde o nosso nascimento somos protegidos pelo Estado e dele fazemos parte. O indivíduo, no entanto, faz parte do corpo soberano sob duas perspectivas. Quando estamos reunidos em assembleia, decidindo as leis que deverão submeter a todos igualmente, somos cidadãos, portanto, ativos. Quando a assembleia se dissolve e voltamos à vida civil comum, somos súditos, portanto passivos diante da lei, mas absolutamente livres, porque submetidos às leis que nós mesmos ajudamos a elaborar e aprovar. Aqui, faremos uma breve digressão sobre duas passagens em obras diferentes. A primeira é relativa ao Emílio. Quando o preceptor pergunta a Emílio o que decide, depois de ter viajado o mundo e comparado seus diversos sistemas de legislação. O jovem – então com mais ou menos vinte e dois anos – é indagado sobre em que Estado pretende viver. Então ele responde: “Que me importa minha condição na terra? Que me importa onde esteja? Onde quer que haja homens estou com meus irmãos; onde quer que não os haja, estou em minha casa” (ROUSSEAU, 1992, p. 571). Tendo sido feito homem, mas não cidadão, Emílio estava preparado para sentir que era “irmão” de todo o gênero humano; mesmo sendo-o de fato, o preceptor o chama à ordem, para que perceba a dívida que tem para com a terra que o nutriu e protegeu até ali: Há sempre um governo e simulacros de leis sob os quais viveu tranquilo. Que importa se o contrato social não foi observado, desde que o interesse particular tenha sido protegido, como o fizera a vontade geral, desde que a violência pública o tenha garantido contra as violências particulares, desde que o mal que viu fazerem o tenha levado a amar o que era bem, desde que nossas próprias instituições o tenham feito conhecer e odiar suas próprias iniquidades? Ó, Emílio, onde está o homem de bem que nada deva ao seu país. Quem quer que seja, ele lhe deve o que há de mais precioso para o homem, a moralidade de suas ações e o amor à virtude. Nascido no fundo de um bosque, teria vivido mais feliz e mais livre; mas nada tendo a combater para seguir suas inclinações, teria sido bom sem mérito, não teria sido virtuoso, e agora ele o sabe ser apesar de suas paixões (ROUSSEAU, 1992, p. 572). Esse discurso do preceptor a Emílio atenua um pouco o tom mais inconformado que encontra-se no Economia política (1752), onde Rousseau afirma que, quando o contrato social não cumpre sua função, o indivíduo fica numa condição pior do que o estado de natureza, pois nessa condição não conta com o auxílio da sociedade para proteger-se, mas é livre para defender-se o quanto possa. No estado de sociedade, se não somos protegidos por todos, pela “violência pública” também não podemos defender-nos com nossas próprias forças. 57 Tais considerações necessitam, ainda, de outro conceito, igualmente abstrato e fundamental para o edifício conceitual do Contrato social: a noção de vontade geral. Vontade geral O pacto social deu existência ao povo; a lei é a manifestação de sua vontade. Aqui adentramos no conceito de vontade geral. Sua primeira característica é que ela jamais erra, ela é sempre certa e tende à utilidade pública. As deliberações do povo, porém, nem sempre são tão certas e, muitas vezes, o tempo prova que estavam erradas. Assim, como é possível entender que a vontade geral é sempre certa e a lei, que é a manifestação de sua vontade, pode, por vezes, estar errada? Trata-se de entender que a vontade geral não é uma lei específica, nem o conjunto de leis positivas que estejam em vigor, mas a própria possibilidade de fazer e derrubar leis. Quando o povo se reúne em assembleia para deliberar, isto já é a manifestação da vontade geral; independentemente do que se delibere em cada ocasião, o fato de se reunir e deliberar já é manifestação da soberania popular. O erro das leis pode advir do fato de o povo nem sempre saber divisar corretamente o que lhe é bom e o que não é. As facções ou os partidos tendem a fazer com que seus membros deliberem todos da mesma forma, fazendo confundir o que é melhor para um pequeno grupo, ou para os governantes, com o que é o bem geral. Os erros de julgamento ocorrem porque nos afastamos da situação ideal: que cada um julgue por si mesmo. O que se observa é que, lentamente, os grupos ou as facções das sociedades particulares deturpam o julgamento público. Uma sociedade torna-se cada vez mais escrava de seus representantes quando, em vez de cada um deliberar por si, vê-se que as facções ou partidos deliberam pelo povo, diminuindo a “voz” da vontade geral, e a situação se agrava quando um desses grupos domina os demais. Aqui adentramos no problema dos governos. Governos Vimos no início da análise do Contrato social que o governo não assume, para Rousseau, em nenhum momento, o poder soberano. Também vimos que não há pacto entre o povo e o governo. O poder soberano é intransferível. Então, com que poder o governo comanda? Com o poder que a lei lhe concede; e somente detém o poder para fazer cumprir a lei e não para fazer leis. No entanto, há uma tendência inevitável de os governos tentarem controlar o poder soberano também. O remédio para isso seria a realização de assembleias periódicas necessariamente convocadas para deliberar os seguintes assuntos: se apraz ao soberano conservar essa forma de governo; se apraz ao povo deixar a administração com os atuais encarregados. Esse meio não evitará a decadência do Estado, afinal, sendo obra humana, não poderá mesmo ser eterna, contudo servirá para retardar se essas assembleias forem, de fato, realizadas e se as 58 facções ou partidos não calarem a vontade geral. Há um aspecto que foi assinalado acima que é importante discutir na história da filosofia política. Rousseau fala em “forma de governo”, posicionando-se ante um debate tradicional da área. Aristóteles, em sua Política, afirmou que havia três formas de governo boas: monarquia, aristocracia e forma constitucional. Em todos esses casos, a característica comum é que, sendo o governo de um só, de uma minoria ou da maioria, o objetivo é o bem comum de todos. As três formas degeneradas de governo são, respectivamente, a tirania, a oligarquia e a democracia. A tirania é o governo de um só que visa o bem somente do governante; a oligarquia é o governo de uma minoria que visa o bem próprio; a democracia é governo da maioria que não visa o bem comum. Thomas Hobbes ironizou essa análise de Aristóteles dizendo que os homens chamam de tirania a monarquia na qual não são privilegiados; de oligarquia, a aristocracia da qual não obtém nenhum ganho, reduzindo o problema da teoria geral para as circunstâncias. Rousseau, por sua vez, mais próximo de Aristóteles do que de Hobbes, concorda que o Soberano pode estabelecer três formas legítimas de governo. A primeira forma é quando confia o governo a todos ou à maioria, trata-se, portanto, da democracia. Observamos aqui que, para Rousseau, esse conceito tem um significado positivo, ao passo que, para Aristóteles, negativo. Quando o Soberano confia o governo a um pequeno número de cidadãos, trata-se da aristocracia, e quando a um só, monarquia. Todos os três tendem a degenerar. Evidentemente, a partir da perspectiva de Rousseau, a democracia é a forma na qual somos mais livres, porque somos partícipes do Soberano e temos a possibilidade de participar, também, do governo. Contudo, não é em todas as situações que o governo poderá ser democrático, é preciso levar em conta outras circunstâncias que ajudam a definir qual é a melhor forma de governo em cada caso. Para desenvolver esse assunto, Rousseau, apesar de algumas divergências, toma o Espírito das leis, de Montesquieu, como referência. Podemos dizer que ambos os filósofos estão na raiz do que os geógrafos chamarão, mais tarde, de determinismo geográfico. Rousseau afirma no capítulo VIII do livro III, Que qualquer forma de governo não convém a qualquer país: Não sendo a liberdade um fruto de todos os climas, não está ao alcance de todos os povos. Quanto mais se medita sobre esse princípio estabelecido por Montesquieu, tanto mais se sente sua verdade, e, quanto mais é contestado, tanto mais se oferecem ocasiões de firmá-lo com novas provas (ROUSSEAU, 1973, p. 100). Mais importante que os climas, porém, é a extensão do território e a complexidade da formação do povo. Quanto mais extenso um território, mais difícil fica reunir todo o povo em assembleias periódicas para que delibere; assim, as democracias são mais adequadas para povos com identidades culturais mais próximas e em territórios 59 pequenos, como Genebra e Córsega. Por outro lado, Estados como a França e a Inglaterra, cuja extensão é imensa, a forma aristocrática ou a monárquica são as mais indicadas. Evidentemente, se é menos livre na França do que em Genebra. A necessidade da representação política enfraquece o soberano, pois à medida que elegemos representantes para fazer as leis estamos nos tornando, no âmbito político, escravos dos nossos próprios representantes. Rousseau ironiza a pretensão dos ingleses de ser um povo livre, por ter uma forma mista de governo: a monarquia parlamentar, segundo a qual o rei não governa livremente, mas sob a constituição. Para ele, o essencial é que o povo não faz as leis, mas elege representantes que as façam por ele, o que significa uma restrição à liberdade. Religião civil O último capítulo do Contrato Social é também o maior e o que rendeu os maiores dissabores da perseguição política e religiosa. O próprio Rousseau, talvez, tenha antevisto o impacto que essa obra causaria, pois na primeira versão que enviou ao seu editor não constava esse capítulo. Foi encontrada sua primeira versão escrita nos versos das páginas sobre o Legislador, mostrando a profunda ligação entre esses temas. Além disso, apesar do cuidadoso resumo do Contrato no Emílio, não há referências à questão da religião civil. Ao inserir esse capítulo, estava tocando num tema que, no século XVIII, ainda era uma “ferida aberta”. As guerras de intolerância que mancharam a Europa de sangue nos séculos anteriores ainda faziam ecoar os gritos de horror que elas causaram; a intolerância entre católicos e protestantes era candente. Rousseau, em sua vida pessoal, foi protestante e católico, depois retornou ao seio do calvinismo, mas as censuras vieram dos dois grupos: foi censurado e condenado pelos católicos da França e pelos protestantes de Genebra. Afinal de contas, o que há nesse capítulo (e na Profissão de fé do Vigário de Saboia, que analisaremos mais para a frente) que pode ter provocado tanta fúria e desencadeado uma onda de perseguições contra o autor? O capítulo sobre a religião civil pode ser dividido em três partes: na primeira, analisa as religiões nacionais; na segunda, o fenômeno do cristianismo, e na terceira, propõe os dogmas da religião civil. Na primeira parte, conclui que a religião nacional era o modelo predominante na Antiguidade; cada povo tinha seus próprios deuses tutelares, inclusive o povo de Israel. O cristianismo, porém, provocou uma mudança que jamais deixou a política e as guerras serem como sempre foram. O fenômeno provocado pelo advento do cristianismo foi a expansão de uma religião para outros povos. Dessa forma surgiu, pela primeira vez, a possibilidade de cidadãos de um mesmo Estado não possuírem a mesma religião “oficial” e, por outro lado, cidadãos de Estados diferentes estarem unidos pelo culto da mesma divindade. 60 Alguns estudiosos lembram-se de que Roma viveu momentos de grande tolerância religiosa e que os cultos de deuses de diversas religiões eram praticados na capital do Império, inclusive por cidadãos romanos. Não seria esse um fenômeno semelhante ao do cristianismo? Parece-nos que não. Os cultos a Ísis, por exemplo, praticados por muitos romanos na capital do Império, se inserem num contexto no qual admitia-se a existência de deuses que não os da sua pátria e, até mesmo, pelo visto, valia a pena pedir benesses a eles. Isso não quer dizer que o romano que cultuava Ísis ou Mitra deixasse de cultuar os deuses da cidade e seus antepassados, apenas que acrescentava, no rol de suas crenças, deuses alheios. Com o cristianismo, a situação é radicalmente diferente: os primeiros cristãos renunciavam ao culto de outros deuses para adorarem somente aquele revelado pela Bíblia, e essa exclusividade fez diferença. O cidadão passou a ser dividido entre a obediência que devia ao padre e ao governo. Para Rousseau, essa divisão enfraqueceu o Estado. Quando analisa as três espécies de religião, chama a esta – que divide o cidadão entre dois senhores – de religião do “sacerdote”, uma espécie de direito misto religioso que em nada contribui para a solidez do Estado. As outras espécies de religião são a nacional, que, como vimos, era um modelo adequado para a Antiguidade, mas não tem mais lugar no mundo moderno, onde o cristianismo mudou completamente o ethos religioso e instaurou uma nova forma de sociedade. Por fim, resta a religião natural ou o teísmo. É uma religião do indivíduo, sem altares, ritos ou cultos, sem sacerdotes. Esta é, para Rousseau, a “pura e verdadeira religião do Evangelho”. Essa religião, boa, santa e sublime é muito boa porque é tolerante, mas seu efeito civil não é adequado para os propósitos do Soberano: Mas esta religião, não tendo nenhuma relação particular com o corpo político, deixa as leis unicamente com a força que tiram de si mesmas, sem acrescentar-lhes qualquer outra, e, desse modo, fica sem efeito um dos grandes elos da sociedade particular. Mais ainda, longe de ligar os corações dos cidadãos ao Estado, desprende-os, como de todas as coisas da terra. Não conheço nada mais contrário ao espírito social (ROUSSEAU, 1973, p. 147). Ora, essa é, literalmente, a religião descrita na Profissão de fé do Vigário de Saboia, e seu efeito foi aquele que vimos na decisão de Emílio: para ele, todos os homens da terra eram seus irmãos, então não se importava em qual Estado viveria. Seu preceptor o fez ver que tinha uma dívida com o Estado no qual nasceu. Portanto, apesar de “boa e santa”, essa religião não serve de modelo para a profissão de fé civil. Parece-nos interessante, porém, destacar uma sutil diferença entre o deísmo e o teísmo. Tal diferença é sutil, mas apresenta perspectivas bem diferentes. O deísmo é uma religião racional; a crença em Deus deriva das conclusões da própria razão: a ordem do Universo não pode ser decorrente do acaso. Há uma metáfora que define sua posição: é como se da explosão de uma gráfica pudesse nascer a Ilíada: um todo organizado e racional (e belo) não pode surgir do acaso. O deísta, porém, não crê na revelação, na eternidade da alma, portanto, no castigo futuro dos maus e na salvação 61 dos bons. É uma espécie de epicurismo moderno, tendo em Voltaire seu mais ilustre representante. Quanto ao teísmo, além de acreditar na existência de um Deus por questões de razão, crê também na eternidade da alma e seus corolários: o castigo dos maus e a recompensa aos bons. O cristianismo, como dissemos, não serve de modelo para a profissão de fé civil, e tentar fazer dessa religião o sustento das leis é criar uma contradição insolúvel. Para Rousseau, dois filósofos abordaram esse tema, mas propuseram soluções extremas que anulam uma à outra. O primeiro foi Pierre Bayle (1647-1706) que propôs – segundo Rousseau6 – que nenhuma religião seria útil ao corpo político. A outra proposta é a de Warbuton, que propõe o cristianismo como religião fundamental do Estado. Para ele, ambos estão equivocados. O primeiro, porque Estado e leis não podem subsistir sem religião; o segundo, porque propõe uma religião que não pode sustentar as leis. Também são ineficazes as artificiais, como as da Rússia e da Inglaterra, que quiseram unir novamente religião e Estado sob uma única coroa; para Rousseau, tornaram-se mais servidores dos sacerdotes do que seus líderes e, por outro lado, o fato de haver uma religião oficial não impedia que os súditos estabelecessem sua fé em outras religiões, gerando somente conflitos. Rousseau foi cristão e crê que o Evangelho foi revelado por Deus. Afirma isso em diversas obras. Quando analisa os homens que podem ser tomados como modelo de humanidade cita Licurgo, de Esparta; Catão, o Velho, de Roma; Sócrates, de Atenas, mas o modelo que está acima de todos os outros é Jesus Cristo. Em um texto publicado postumamente, intitulado Ficção ou peça alegórica sobre a revelação, descreve o processo de desvelamento da verdade: o simples filósofo não consegue revelar a verdade aos homens; Sócrates também não; por fim, somente Jesus consegue libertar os homens da cegueira da servidão aos falsos ídolos. Reafirmou sua fé em Cristo tanto ao arcebispo de Paris, Christophe de Beaumont, quanto aos seus conterrâneos de Genebra, nas Cartas escritas da Montanha. Todavia, apesar de cristão-teísta, acreditava na importância de seguir a religião dos pais. Ele mesmo renunciou ao calvinismo e tornou-se católico, mas insiste que era muito jovem e que a figura da Madame de Warens o impeliu ao catolicismo graças aos seus modos. Mais tarde volta a Genebra e oficialmente ao calvinismo, ação cuja legalidade foi contestada por seus adversários. Enfim, apesar de cristão, reconhecia a dificuldade dessa religião “santa e sublime” tornar-se religião oficial, pois isso prejudicava tanto o Estado quanto a própria religião. Resta, pois, a religião do homem ou o cristianismo, não o cristianismo de hoje, mas o do Evangelho, que é completamente diverso. Pois nessa religião santa, sublime, verdadeira, os homens, filhos do mesmo Deus, reconhecem-se todos como irmãos, e a sociedade que os une não se dissolve nem com a morte. Mas essa religião, não tendo nenhuma relação particular com o corpo político, deixa as leis unicamente com a força que tiram de si mesmas, sem acrescentar-lhes qualquer outra, e, desse modo, fica sem efeito um dos grandes elos da sociedade particular. Mais ainda, longe de ligar os corações dos cidadãos ao Estado, desprende-os, como de todas as coisas da terra. Não conheço nada mais contrário ao espírito social 62 (ROUSSEAU, 1973, p. 147-148). A expressão “espírito social” pode se prestar a algumas confusões, em especial acreditar que trata de virtudes sociais como a comiseração, a piedade, a justiça, a verdade e outras; essa expressão, em nosso entendimento, significa o mesmo que “espírito de cidadania”, pois Rousseau não está falando da sociedade geral do gênero humano, mas, como se pode ler no trecho citado, das sociedades particulares ou Estados. Por fim, adentramos na parte principal do capítulo: a definição do que seria a religião civil. Ela deverá evitar a confusão dos dois “mundos”; não lhe importa como se chega ao outro mundo, desde que os fiéis sejam bons cidadãos nessa vida terrena. Esses dogmas devem ser estabelecidos pelo soberano, ou seja, por lei. Não são dogmas religiosos, mas de “sentimentos de sociabilidade”, sem os quais é impossível ser cidadão ou súdito. Aqueles que não quiserem fazer essa “profissão de fé civil” poderão ser banidos do Estado como incapazes de sociabilidade. Chega a dizer que aqueles que fizerem o juramento desses dogmas e, depois, comportarem-se como se não acreditassem neles deveriam ser “punidos com a morte”, pois cometeram o pior dos crimes: mentira às leis! Rousseau define os dogmas positivos da religião civil do seguinte modo: Os dogmas da religião civil devem ser simples, em pequeno número, enunciados com precisão, sem explicações ou comentários. A existência da Divindade poderosa, inteligente, benfazeja, previdente e provisora; a vida futura, a felicidade dos justos; o castigo dos maus; a santidade do contrato social e das leis [...] (ROUSSEAU, 1973, p. 150). A análise desses dogmas nos indica os elementos principais do teísmo, mas com um acréscimo, por assim dizer, civil e político. Em especial a “santidade do contrato social e das leis”, que não derivam das reflexões sobre a religião, mas da política. Para Rousseau, é impossível ser bom cidadão se não acreditar que, de alguma forma, as leis são divinas. No capítulo do soberano, do livro I, afirma que o corpo político existe pela “santidade” (la saintenté du contrat) do contrato, não pode obrigar-se, mesmo com outrem. Na edição em português que utilizamos neste livro, a tradutora optou por usar a expressão “integridade”, ao invés de “santidade”, a nosso ver, um tanto equivocadamente. Curiosamente, Voltaire, tal como Rousseau, também não consegue conceber uma sociedade que não tenha uma religião oficial. Em seu Dicionário filosófico, propõe a criação de uma “religião de Estado” semelhante à de Rousseau no conteúdo, porém com algumas diferenças na forma, em especial porque Voltaire não propõe dogmas civis, mas insiste na necessidade de ritos públicos. De onde provém essa coincidência entre dois filósofos, cujas ideias, na maior parte das vezes, estiveram tão distantes? Do fato de que, para ambos, os ateus de seu tempo, em suas ferozes argumentações contra todo tipo de religião, acabaram por tornar-se tão intolerantes quanto os fanáticos religiosos; afirmavam que havia, na história da humanidade, três 63 impostores, em referência aos fundadores do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. O próprio Voltaire afirma que há um quarto impostor: o ateu. Voltando aos dogmas da religião civil, de Rousseau, o único dogma negativo da religião civil é o seguinte: Na minha opinião, enganam-se os que estabelecem uma distinção entre a intolerância civil e a teológica. Essas duas intolerâncias são inseparáveis. É impossível viver em paz com pessoas que se acredita réprobas [...] Atualmente, quando não existe mais e não pode mais existir qualquer religião nacional exclusiva, devem-se tolerar todas aquelas que toleram as demais, contanto que seus dogmas em nada contrariem os deveres do cidadão (ROUSSEAU, 1973, p. 150-151). O limite para admitir uma religião no corpo do Estado é que ela não seja intolerante, pois, como se pode deduzir do pensamento de Rousseau, a tolerância com o intolerante é uma contradição flagrante que põe em risco a segurança de toda a sociedade. Num Estado teocrático, a religião deve ser necessariamente exclusiva, mas isso não é mais possível, como vimos, depois do advento do cristianismo. Dessa forma, o dilema era bastante delicado: por um lado, nenhuma religião pode mais arvorar-se no direito de ser exclusiva, por outro, nenhum Estado conseguiria manter-se coeso, as leis amadas e respeitadas, se não tivesse, de alguma forma, uma religião que as sustentasse. A proposta da religião civil surge com o objetivo de resolver esse dilema, tão intenso no século XVIII. Podemos dizer que Rousseau estava ligado a uma concepção de Estado que exigia a religião como fundamento das leis. É o que ele declara no livro segundo do Contrato social, ao dizer que os pais das nações (os legisladores) tiveram que recorrer “à intervenção do céu e a honrar nos deuses sua própria sabedoria, a fim de que os povos, submetidos às leis do Estado, assim como às da natureza” (1973, p. 65) reconhecessem os mesmos poderes, portanto, os mesmos deuses ou deus, na formação do homem e da cidade. Rousseau encerra o Contrato social reafirmando o que havia dito no início: que sua obra apresenta uma originalidade em relação ao estabelecimento dos princípios do direito político. Sua dificuldade era, o tempo todo, andar “na corda bamba” que representa apoiar-se na História para refletir sobre seu tema, sem fazer de leis e fenômenos particulares desta ou daquela nação leis gerais, tentando encontrar somente os princípios que fazem parte da natureza do Estado. Ora, não se trata do mesmo método utilizado no Discurso sobre a desigualdade para identificar o que é natural e o que é artificial no homem? O Contrato social ou os princípios do direito político são, nessa perspectiva, uma tentativa de separar o que há de artificial e de natural nos Estados. A frase do que seria o prefácio do Contrato, e que já citamos algumas vezes, “tomar os homens como são e as leis como podem ser”, apresenta exatamente o elo entre essas duas obras: em ambos os casos, não se trata de impor a natureza à sociedade, mas distingui-las; não se trata de propor que o homem civil volte a ser homem natural (isso seria impossível, como vimos, e até mesmo – se fosse possível – indesejável), nem que as nações recuem àquele 64 momento, descrito no segundo Discurso, em que os homens viveram livres, sadios, bons e felizes em suas cabanas, pois, tendo ele passado, não é mais possível retornar. Para que, no entanto, distinguir o natural do artificial? Para que saber se o homem é bom por natureza ou não, se o que importa são os homens tais quais são? Talvez, quando o assunto for educar as crianças, fazê-lo de tal forma que as preparem para serem pessoas “livres, sadias, boas e felizes”, para tanto, é preciso saber o que é próprio da natureza e o que é próprio do homem, preparando o aluno para a vida em sociedade. Passemos, agora, à análise das obras Julie ou a Nova Heloísa e Emílio ou da Educação, que, diferentemente das duas anteriores, adotam, principalmente, o indivíduo como eixo em torno do qual os conceitos são formulados. CONTINUAR A PENSAR Ao escrever o Contrato Social, Rousseau resolveu um problema para o qual a filosofia política ainda não tinha uma resposta concreta: a separação entre governo e soberano. Segundo Rousseau, aqueles escolhidos para governar não têm direito ilimitado a tudo o que querem, pois devem submeter-se à vontade do soberano expressa pelas leis. O impeachment de Fernando Collor de Melo (1992) seria um exemplo da aplicação desse princípio? (p. 77) 6 Insistiremos na expressão “segundo Rousseau” quando se trata de apresentar as ideias de outros filósofos, porque, quando ele os cita, tem em vista construir sua teoria e não analisar, ao modo dos exegetas acadêmicos de hoje (inclusive este que vos escreve), com precisão os conceitos dos filósofos. Assim, os estudiosos de Bayle, Hobbes, Montesquieu e outros podem se incomodar com as expressões que usamos, mas estamos apresentando as interpretações de Rousseau, e não as nossas, sobre as obras dos filósofos que ele cita. 65 Capítulo 7 Julie ou a Nova Heloísa Rousseau vivia uma angústia existencial por volta do ano de 1755. Apesar de possuir uma alma sensível, ainda não tivera um amor de verdade, a despeito dos seus relacionamentos com Madame de Warens e Thérèse. Assim, resolveu expandir esses sentimentos na literatura, uma vez que a vida real não lhe oferecia ocasião. Nascem os primeiros esboços da Nova Heloísa. Faltavam-lhe, contudo, os sentimentos reais que emprestam veracidade aos personagens. Na primavera de 1757, Rousseau, apaixonado por Sophie d’Houdentot toma-a como modelo para sua Julie. Conforme Moretto, o livro foi um sucesso editorial e teve mais de cem edições ou contrafações. Rousseau opta por escrever seguindo o modelo de “romance epistolar”, estilo em moda no seu tempo: De fato, faziam sucesso na época de as Cartas persas, de Montesquieu (1721); Pamela e Clarisse Harlowe, de Richardson, traduzidas respectivamente em 1742 e 1751; as Cartas portuguesas, publicadas em 1669. Além disso, as Cartas de Abelardo e Heloísa, publicadas em 1697, tiveram uma grande influência na vida e na literatura do século XVIII (ROUSSEAU, 1994, p. 17). Lembremos que Rousseau apaixonou-se por Sophie; ela, porém, havia casado com o senhor d’Houdentot, para atender às conveniências sociais; tinha, porém, no coração, o jovem Saint-Lambert, seu amante, a quem decidiu manter-se fiel. No enredo da Nova Heloísa, o jovem preceptor Saint-Preux apaixona-se por sua aluna, Julie, mas esse amor é proibido pela família da moça que, sendo de origem nobre, não admite o seu casamento com um plebeu. Depois, a família a compromete com o Barão de Wolmar, criando mais um obstáculo para os dois amantes. Julie estava decidida a seguir os mesmos passos de Sophie d’Houdentot, no entanto, no dia do seu casamento, jura a si mesma que será fiel ao marido, mesmo amando Saint-Preux. Em suas idas e voltas de Clarens, o nome das terras do senhor de Wolmar, marido de Julie, Saint-Preux passa por diversas aventuras. A Madame de Wolmar confessa ao marido seus sentimentos e também seu juramento; ele, por sua vez, com sua bondade e inteligência, conquista-lhe o respeito. Dessa forma, quando a ocasião surge, o senhor de Wolmar oferece hospitalidade a Saint-Preux. Assim, o triângulo amoroso, pleno de virtudes, se estabelece, como Rousseau desejara na vida real. O senhor de Wolmar acreditava, porém, que poderia “curar” os jovens amantes e que o tempo transformaria em amizade o ardente amor. O romance tem um desfecho trágico. Julie mergulha no lago para salvar seu filho mais novo de um afogamento certo. Ela contrai uma pneumonia que a levará à morte. 66 Antes de morrer, a heroína escreve uma carta a Saint-Preux e o conclama a casar-se com uma amiga comum deles, Claire d’Orbes, então mãe e viúva; pede a ele que vá residir em Clarens e cuide da educação de seus filhos. Ao final, conforme Custódia Martins: “O romance termina com Claire, Saint-Preux e Wolmar a viverem juntos na mesma propriedade e unidos pela lembrança de Julie” (2009, p. 208). Julie, porém, diz a Saint-Preux que espera poder reunir-se com ele no céu, uma vez que sua virtude na terra a impediu; o tempo, a despeito do que pensava o virtuoso Barão de Wolmar, não conseguiu transformar o verdadeiro amor em amizade. Observa-se, nessa obra, sobretudo a antecipação de temas que serão desenvolvidos especialmente no Emílio. A oposição ética entre campo e cidade, os divertimentos da cidade, o luxo, entre muitos outros. Interessam-nos, sobretudo, dois deles: a educação e a profissão de fé de Julie. Quanto à educação, nota-se que o discurso de Julie está em perfeita harmonia com o do preceptor do Emílio; poder-se-ia argumentar que a proximidade temporal entre as obras justificaria, facilmente, o acordo entre elas, o que seria absolutamente correto. Contudo, lembremos que as obras de Rousseau se caracterizam por serem elaborados para fins muito claros e que, por vezes, inclusive quando tratam do mesmo tema, as ideias são diferentes por causa das circunstâncias. No Emílio, é um preceptor que se encarregará da educação; na Nova Heloísa, será a própria mãe. Apesar das diferenças que tais circunstâncias podem acarretar, os princípios continuam os mesmos: seguir a natureza. O trecho a seguir é da V parte, III carta: A natureza, continuou Júlia, quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos alterar essa ordem, produziremos frutos precoces que não terão nem maturidade nem sabor e não tardarão a corromper-se; teremos jovens doutores e velhas crianças. A infância tem maneiras de ver e de pensar, de sentir, que lhe são próprias. Nada é menos sensato do que a elas querer substituir as nossas e preferiria exigir que uma criança tivesse cinco pés de altura que ele tivesse julgamento aos dez anos (ROUSSEAU, 1994, p. 486). A respeito da religião, o próprio Rousseau chamou a atenção dos seus acusadores de que, na Nova Heloísa, a profissão de fé de Julie é de uma protestante, ao passo que a do Vigário de Saboia é a de um católico. Se os católicos da França, por exemplo, não haviam condenado a da Nova Heloísa, por que se incomodariam com a do Vigário? Ou os protestantes em Genebra, por que, ao julgarem o Emílio, não o compararam com a Nova Heloísa? Quando Julie está com suas últimas forças se esgotando, mantém a serenidade, mostrando não temer a morte. Vivi e morro na comunhão protestante que extrai sua única regra da Santa Escritura e da razão; meu coração sempre confirmou o que pronunciava minha boca e quando não tive por vossas luzes toda a docilidade necessária, talvez fosse esse um efeito de minha aversão por toda espécie de fingimento; não pude dizer que acreditava no que me era impossível acreditar, sempre procurei sinceramente o que estava de acordo com a glória de Deus e com a verdade. Pude enganar-me em minha procura, não tenho orgulho de pensar ter tido sempre razão; talvez tenha estado sempre errada, mas minha intenção foi sempre pura e sempre acreditei no que dizia acreditar. Era, nesse ponto, tudo o que dependia de mim. Se Deus não 67 esclareceu minha razão além desse ponto, ele é clemente e justo, poderia pedir-me contas de um dom que não me deu? (ROUSSEAU, 1994, p. 612-613). As palavras finais de sua profissão de fé são realmente muito belas; ela afirma que a clemência de Deus é maior do que qualquer culpa que pode ter. Sobre a sua morte, enternece o pastor e os presentes com uma frase que demonstra sua confiança: “Quem adormece no seio de um pai não está preocupado com o despertar” (ROUSSEAU, 1994, p. 612). Adiantando parte do próximo capítulo, acredito que seria interessante comparar a religião de Julie com a de Sofia. Enquanto a primeira tem uma profissão de fé protestante, Sofia parece ser mais próxima da religião natural: Sofia tem uma religião, mas uma religião baseada na razão, e simples, poucos dogmas e com menos práticas de devoção. Ou melhor, não conhecendo como prática essencial senão a moral, ela dedica sua vida inteira a servir Deus fazendo o bem (ROUSSEAU, 1992, p. 476). Assim, essas personagens femininas apresentam características próprias, mas remetem, de uma forma ou de outra, às mulheres que Rousseau amou: Thérèse, Madame de Warens e Sophie d’Houdentot. 68 Capítulo 8 Emílio ou da Educação O Emílio é pouco conhecido do público em geral, especialmente em relação ao Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e ao Do contrato social. No meio acadêmico, no entanto, principalmente nos cursos de Filosofia e Pedagogia, essa obra é bem conhecida. Tendo sido publicado no mesmo ano do Contrato e um ano após a Julie ou a Nova Heloísa, apresenta vários pontos em comum com essas obras. Na primeira parte deste livro, O Emílio trouxe a Rousseau grandes dissabores políticos; ele teve os sinais, “surdos ribombos” do que viria após sua publicação, mas não lhes prestou a devida atenção, justo ele que, no Ensaio sobre a origem das línguas, havia declarado que a linguagem de sinais é mais eficiente do que a falada. Seu amigo, Blaire, devolveu o original juntamente com o seguinte comentário: “eis um livro muito belo, mas do qual, dentro em pouco, se falará mais do que o autor desejaria” (1965, p. 574). Antes de explicar os fundamentos teóricos e a estrutura do livro, é preciso lembrar, rapidamente, de quais eram as opções de educação no tempo de Rousseau. Basicamente, havia os colégios – católicos e protestantes – que não diferiam muito em termos de método e concepção filosófica da educação. Em linhas gerais, nessas instituições predominava uma visão centrada no “conteúdo”, no processo de ensino, e não no de aprendizagem. Conhecia-se muito mal o desenvolvimento físico, emocional e intelectual das crianças e dos adolescentes. No início do Emílio, o autor deixa bem claro o que pensa dessas instituições, inclusive na nota de rodapé que reproduzimos juntamente com o trecho: Não encaro como uma instituição pública esses estabelecimentos ridículos a que chamam colégios. [Agora, a nota de rodapé:] Há, em muitas escolas, e sobretudo na Universidade de Paris, professores que amo, que muito estimo, e que acredito muito capazes de instruir a juventude, se não fossem forçados a obedecer aos usos estabelecidos. Exorto um deles a publicar o projeto de reforma que concebeu. Ser-se-á enfim tentado a curar o mal, ao ver que não é sem remédio (ROUSSEAU, 1992, p. 14). A outra opção era a educação doméstica, na qual os preceptores iam até a casa dos alunos; especialmente no campo, residiam na casa dos alunos a fim de acompanharem, em tempo integral, o desenvolvimento. Como vimos, Rousseau chegou a exercer essa função por algum tempo, mas abandonou-a por sentir-se sem talento para as exigências próprias. Mais uma suposta contradição? Veremos, adiante, como ele explica essa relação entre teoria e prática na educação. 69 O Emílio pode ser considerado um “romance de formação”, ou seja, um gênero literário que tem por objetivo, via de regra, acompanhar o desenvolvimento de uma pessoa desde o seu nascimento até a maturidade, refletindo sobre os processos que levam ao desenvolvimento da personalidade, da inteligência, das habilidades etc. Dessa forma, o mestre, ou preceptor, assume um papel tão relevante quanto o do educando. Como bem observa Maquiavel no Príncipe, o centauro Quíron – preceptor de Aquiles e Jasão, entre outros – é a síntese dessa arte, porque, compartilhando dessa dupla origem, conhece tanto a natureza quanto os homens. Várias são as fontes que inspiraram essa obra. Podemos destacar, sem dúvida alguma, A república de Platão, cuja influência analisaremos mais adiante; A política de Aristóteles, especialmente no que se refere à ideia de educação pública; Vidas Paralelas, de Plutarco, na qual colhe os exemplos do efeito da educação pública em Esparta, em especial na Vida de Licurgo. Entre os modernos, podemos destacar a obra de John Locke Sobre a educação, muitas vezes criticada por Rousseau; também As aventuras de Telêmaco, de François Salignac de La Mothe, ou simplesmente Fénelon. Este romance exerceu tal influência sobre a educação e sobre o papel do preceptor que o mestre do jovem Telêmaco, Mentor, tornou-se sinônimo de professor. Emílio empreenderá a viagem para conhecer as outras nações e homens, mas Rousseau, em vez de descrevê-las, diz: “Mas deixemos os leitores imaginarem nossas viagens, ou as fazerem com um Telêmaco na mão; e não lhes sugiramos aplicações aflitivas que o próprio autor afasta ou faz contra a vontade” (ROUSSEAU, 1992, p. 564). Comentamos, anteriormente, sua breve experiência como preceptor em 1740, na casa de Jean Bonnet de Mably. Apesar de não ser bem-sucedida, a experiência foi de grande valia para as ideias gerais sobre educação, registradas em seu Projeto para a educação do senhor de Sainte Marie. Esse tema foi motivo de muitos debates, inclusive com a Madame d’Épinay; no Emílio, afirma que foi convidado por alguém para ser preceptor de seu filho, mas, dessa vez, recusou a proposta, ou porque, se o seu método estivesse errado, seria uma educação falhada, ou porque, caso fosse bemsucedido, o filho do nobre senhor renunciaria ao título e não quereria mais ser príncipe. Os estudiosos do pensamento de Rousseau observam que até mesmo os primeiros originais do Emílio são de grande valia para a compreensão da obra. Dentre eles o Manuscrito Favre, no qual encontramos uma divisão que apresenta a divisão das “idades” do homem: até doze anos, é a idade da natureza; até quinze, a idade da razão; até vinte, a idade da força vital; até vinte e cinco, a idade da sabedoria; a partir daí, a bondade. Evidentemente, a função desse esquema não é ser rígido, mas orientar o período das transformações. No Emílio, a divisão será mais complexa. A obra é dividida em cinco livros, orientados, pelas diferentes características de cada uma das idades. Rousseau tentou registrar com máxima precisão suas 70 observações e indicou, no prefácio, que o seu princípio é “conhecer o aluno”. Essa máxima fará uma grande revolução nas ciências da educação nos séculos seguintes, em especial para o progresso da didática e da psicologia do desenvolvimento, considerando a seguinte questão: as crianças se acham em condições de aprender o que pretendemos ensinar-lhes? O Emílio é dividido em cinco livros, entre os quais encontramos três importantes intertextos: A profissão de fé do Vigário de Saboia; Sofia, ou a mulher; e Das viagens. Por fim, há uma continuação intitulada Emílio e Sofia ou os solitários, que analisaremos mais adiante. Para efeito didático, vamos apresentar um resumo dos cinco livros, começando pelo prefácio e pela introdução e, depois, uma análise de alguns temas que aparecem ao longo da obra: além dos conceitos fundamentais de educação da natureza e educação negativa, temas específicos como as educações moral, religiosa e feminina. No prefácio, encontramos a “chave de leitura” de todo o livro. Rousseau não pretende fazer um manual de educação. Da mesma forma que o Contrato social é uma “escala de medidas” da liberdade dos povos, podemos dizer que o Emílio é uma “escala de medidas” sobre a bondade original do homem: Assim uma educação pode ser praticável na Suíça e não o ser na França; outra pode sê-lo entre os burgueses e outra ainda entre os nobres. A facilidade maior ou menor da execução depende de mil circunstâncias impossíveis de se determinar a não ser através de uma aplicação particular do método a tal ou qual país, a tal ou qual condição social. Ora, não sendo essenciais ao meu assunto, todas essas aplicações particulares não se incluem no meu plano (ROUSSEAU, 1992, p. 7). É importante destacar, também, o ponto de vista de Rousseau, quando escreve essa obra. No Contrato social, declara que pode escrever sobre política, mesmo não sendo príncipe ou legislador, pois, se o fosse, deveria fazer política e não escrever sobre ela. No Emílio, não é o preceptor que escreve, mas o teórico, por isso: “Na impossibilidade de cumprir a tarefa mais útil, ousarei, ao menos, tentar a mais fácil: a exemplo de tantos outros, não porei a mão na massa, e sim na pena; e ao invés de fazer o que é preciso, esforçar-me-ei por dizê-lo” (ROUSSEAU, 1992, p. 27). Os cinco livros A introdução do Livro I abrange todos os outros. Trata das diferenças entre a educação pública e a educação doméstica; a primeira, com o objetivo de formar o cidadão; a segunda, o homem. Como não é mais possível a educação pública conforme os modelos que tem em vista, Esparta e Roma, então o melhor é que a educação doméstica forme o homem. Lembremo-nos, porém, que, ao final da obra, Emílio, fruto da educação natural, opta por ser cidadão da pátria na qual nasceu induzido por seu mestre. O tema da educação pública havia sido tratado no verbete Economia política e voltará a ser abordado nas Considerações sobre o governo da Polônia. Rousseau 71 considera que essa forma de educação é superior à doméstica, mas, como dissemos, não tem esperanças de vê-la renascer. Em todo caso, não sendo mais possível formar um cidadão, ainda é possível formar um homem por meio da educação da natureza. É importante observar, porém, que os princípios fundamentais da pedagogia rousseauísta, como a educação negativa, a educação moral, a educação do corpo, entre outras, estão presentes também na educação pública. Livro 1 Esse livro abrange o período que vai de zero a dois anos. Trata de assuntos cuja atualidade é espantosa: questões relativas à higiene das crianças, do choro, da alimentação, a água do banho, os primeiros brinquedos e, em especial, da amamentação. As mulheres da “sociedade” não costumavam amamentar seus filhos por razões estéticas, e seus médicos justificavam tal atitude alegando que a amamentação prejudicava a saúde das jovens damas, as quais, por sua vez, encenavam passar mal quando amamentavam seus filhos, demonstrando a todos que não tinham perdido o espírito materno, mas estavam impossibilitadas de fazê-lo por causa da saúde. Os hábitos ruins em relação às crianças eram (ou são?) vários. Rousseau observa que o choro é uma forma de a criança dominar as amas, pois mesmo antes de falar as crianças já aprendem; acorrer logo ao primeiro choro é uma forma de deixá-la mimada; observa, também, opostamente a esse, que muitas amas “penduravam” as crianças em pregos na parede (isso mesmo!), para que parassem de chorar. Ora, como ficavam sem ar, evidentemente paravam. Outro costume bastante ruim era o de “enfaixar” as crianças. Seus membros eram atados para que não fizessem movimentos bruscos e não se machucassem. Observando os outros animais, perguntase por que os filhotes de cães e gatos não se machucam, mesmo não sendo atados. Livro 2 Esse livro abrange o período entre dois e doze anos. Em linhas gerais, trata-se do período em que se deve priorizar as atividades físicas para o fortalecimento do corpo. A máxima que orienta essa ideia é a de que um corpo sadio é escravo da alma, ao passo que, quando é doentio, torna-se seu senhor. O aprendizado ou desenvolvimento do espírito deve ser feito em contato com as coisas; para tanto, deve-se estar em meio à natureza, nos bosques. Fazendo caminhadas se estará sempre em contato com objetos. Para Rousseau, nesse período, pode-se observar que a criança aprende uma série de coisas sozinha e nós, ao invés de cuidarmos de ensinar-lhes o que não podem aprender por conta própria, insistimos em dar-lhes lições que aprenderiam mais facilmente com as próprias coisas. Por isso, em vez de lições abstratas, o preceptor cria uma série de situações-problema, cuja solução está ao alcance de Emílio, não como conhecimento pronto, mas como fruto de associações do que ele já sabe. 72 Não se pode sacrificar o presente em razão de um futuro incerto; por que dar limites às crianças, que elas não entendem, tendo como objetivo prepará-las para um futuro que não conseguem vislumbrar? Educando-as sempre perto da natureza, do mundo real, evita-se um grande mal: o alargamento da imaginação! Essa proposição paradoxal é explicada a partir da definição de felicidade: essa é a igualdade entre poder e vontade; ou seja, entre forças e desejos. Aquele cujas necessidades ultrapassam as forças – elefante ou leão – é fraco; aquele cujas forças ultrapassam as necessidades é forte. A imaginação faz com que as necessidades aumentem rapidamente, sem que as forças consigam acompanhar essa velocidade. Livro 3 Esse livro abrange o período entre doze e quinze anos. Sua máxima é: a educação consiste mais em perder tempo do que ganhar. Martins (2009) observa que, chegando ao final do livro, Rousseau afirma que Emílio não avançou na quantidade de conhecimentos. Acrescentaríamos, em complemento, que avançou em qualidade, porque, pelo método aplicado, foi forçado a aprender pela própria razão, sempre a partir das próprias coisas; assim, aprendeu sempre pelo uso da própria razão, e não pela de outrem. Essa autonomia permitiu poucos avanços, mas grandes conquistas, eis a qualidade do aprendizado. O princípio da educação é o da utilidade. Emílio aprenderá a partir do seu interesse, e não do interesse do preceptor. Nessa idade, o adolescente interessasse-se mais em aprender aquilo que lhe parece útil, que ele pode dizer o para quê e o porquê das coisas. Evidentemente, como se pode observar ao longo de uma leitura atenta, o preceptor induz determinadas situações que excitam a curiosidade de Emílio, daí nasce seu interesse. Assim, Emílio iniciará o aprendizado de uma profissão que tenha o mesmo princípio, que seja útil e que “as coisas” ensinem mais do que o mestre. A profissão escolhida é a de marceneiro: por mais que lhe ensinem técnicas, é somente praticando que se aprende de fato. Há também uma passagem muito curiosa a respeito dos livros: “Detesto livros; só ensinam a falar do que não se sabe” (1992, p. 199). O único livro cuja leitura recomendaria é Robinson Crusoé. Trata-se de uma metáfora com o próprio desenvolvimento humano na fase em que Emílio se encontra. Nessa idade, ainda está só em seu mundo, por mais que se relacione com os outros homens, não saberá exatamente o que é relacionar-se. Assim, o livro torna-se interessante porque: Robinson Crusoé na sua ilha, sozinho, desprovido da assistência de seus semelhantes e dos instrumentos de todas as artes, provendo, contudo, a sua subsistência, a sua conservação, e alcançando até uma espécie de bem-estar, eis um objeto interessante para qualquer idade e que temos mil meios de tornar interessante às crianças (ROUSSEAU, 1992, p. 200). Os conhecimentos de Emílio, por fim, não são muitos, mas são “verdadeiramente seus”. Nisso reside a qualidade da educação, superando em muito o princípio, ainda 73 em voga, da quantidade. Livro 4 Esse livro abrange o período entre 15 e 20 anos. É nesse período que Emílio adentrará o mundo moral; é o seu segundo nascimento. Para Rousseau, nas cidades os jovens são levados a amadurecer muito rapidamente, e isso encobre completamente os ditames da natureza. Em sua opinião, um jovem, aos dezesseis anos, sabe o que é sofrer, “mal sabe, porém, que os outros sofrem” (ROUSSEAU, 1992, p. 248). Esse período, no qual os sentimentos “estão à flor da pele”, deve ser compreendido pelo preceptor como natural, e é a partir dele que deve mudar o modo como, até aqui, conduziu a educação do aprendiz. Rousseau descreve, desse modo, o início da adolescência: Assim como o mugido do mar precede de longe a tempestade, essa tormentosa revolução se anuncia pelo murmúrio das paixões nascentes; uma fermentação surda adverte da aproximação do perigo. Uma mudança de humor, exaltações frequentes, uma contínua agitação do espírito tornam o menino quase indisciplinável. Faz-se surdo à voz que o tornava dócil; é um leão na sua febre; desconhece seu guia, não quer mais ser governado (ROUSSEAU, 1992, p. 234). O que fazer? Para que ele entenda seus sentimentos, precisa comparar-se aos demais, porém, até agora, o jovem não conhecia verdadeiramente as outras pessoas; estava fechado em sua ilha, não física. Emílio não está isolado da sociedade, como se não tivesse qualquer contato com outras pessoas, mas não tinha condições de compreender a alteridade. Agora tem condições, e é fundamental que aprenda a conhecer os homens. É importante observar que Rousseau insiste que não se deve impedir que os jovens – e os homens – tenham paixões; elas são próprias da natureza humana. Afirma mesmo que um homem sem paixões seria um péssimo cidadão. Nossas paixões são os principais instrumentos de nossa conservação: é, portanto, empresa tão vã quanto ridícula querer destruí-las; é controlar a natureza, é reformar a obra de Deus. Se Deus dissesse ao homem que aniquilasse as paixões que lhe dá, Deus quereria e não quereria, estaria em contradição consigo mesmo. Nunca Deus deu tão insensata ordem, nada de semelhante está escrito no coração humano; e o que Deus quer que um homem faça não o faz dizer por outro homem; di-lo ele próprio, escreve-o no fundo do coração do homem (ROUSSEAU, 1992, p. 235). Trata-se, isto sim, de dirigir a estima e a afeição dos jovens para objetos que suscitem a sociabilidade. Rousseau retoma, então, os conceitos de piedade natural e amor de si, desenvolvidos no Discurso sobre a desigualdade, e os aplica ao Emílio, mostrando como, para os jovens da sociedade, o amor de si degenera-se em amor próprio. A partir de agora, olhando para seus semelhantes, começa a comparar-se com eles. No entanto, é preciso conhecer o coração humano e não os jovens por suas máscaras, pois, para isso, não precisa do mestre. Conhecendo o coração dos homens, poderá 74 entender a diferença entre o ser e o parecer. Para conhecer verdadeiramente os homens, é preciso vê-los agindo e não falando, pois as palavras, como o rosto, formam máscaras obstáculos. O preceptor quer tornar o coração humano transparente para Emílio. Para ver os homens agindo, é preciso estudá-los, primeiramente, na história, e não no livro dos filósofos. A partir daí, demonstra que os grandes nomes da história clássica escreveram belos livros, mas suas lições nem sempre são adequadas aos jovens. Uns interessam mais aos “velhos”, outros, ao espírito filosófico. O melhor dentre todos eles é Plutarco, em sua obra Vidas paralelas. Uma vez tendo conhecido os homens “de longe”, é hora de conhecê-los “de perto”. Eis Emílio apresentado à sociedade e em condições de reconhecer, nos jovens de sua idade, as máscaras. Percebendo qual é o comportamento deles, afasta-se dessa sociedade e procurará conhecer a si mesmo. Nesse momento, inicia o intertexto A profissão de fé do Vigário de Saboia, a educação moral e religiosa de Emílio, que veremos adiante. Depois, será apresentado a Paris, onde conhecerá os espetáculos, porém, com um conhecimento que o previne de ser envolvido pelas máscaras: saberá observar no comportamento dos homens seu verdadeiro caráter. Emílio estará livre do império das paixões. Livro 5 Esse livro abrange o período entre 20 e 25 anos. Basicamente, trata da educação de Sofia, que veremos adiante. Ao final desse longo intertexto, vemos Emílio conhecer a jovem Sofia e logo, novamente graças às artimanhas de seu preceptor, apaixonarem-se. Ele deixará que se envolvam bastante, para, depois, à moda romanesca, provocar uma separação que, longe de enfraquecer, irá fortalecer o amor entre ambos. Emílio viajará para conhecer outras sociedades e a natureza da política. Retornará dois anos depois e, enfim, poderá casar-se com Sofia. Rousseau observa que, no livro de Locke, o preceptor deixa o aluno quando ele se torna adulto; em seu livro, só o deixará depois de casado. Passemos, agora, para a análise de alguns temas que percorrem a obra e os intertextos, bem como à continuação intitulada Emílio e Sofia ou os solitários. A educação da natureza Esse é o tema central do Emílio, seus princípios percorrem toda a obra. A ideia central é que possuímos uma natureza e que a educação pode interferir em seu desenvolvimento, mas não impedi-lo de ocorrer. “Amanham-se as plantas pela cultura e os homens pela educação” (ROUSSEAU, 1992, p. 10). O debate em questão, e que ainda hoje perdura, é saber se o que somos é fruto exclusivamente da educação – dos hábitos – ou também da natureza. Rousseau 75 debateu com contemporâneos que acreditavam que nada tínhamos de natural, tudo era resultado da educação. Para ele, no entanto, há três mestres: a natureza, as coisas e os homens. Os três nos ensinam coisas: O desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens; e o ganho de nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas (ROUSSEAU, 1992, p. 11). Para que a educação seja bem-sucedida, é preciso observar a orientação da natureza e segui-la; educando conforme a natureza, ensinando aquilo que o aluno está em condições de aprender, o resultado será um aprendizado consistente. Para tanto, é preciso seguir outra máxima: a educação negativa. Ela consiste, precisamente, em nada fazer quando se trata de deixar a natureza orientar o caminho. Muitos intérpretes entendem a educação negativa como uma espécie de não intervenção absoluta, como se o bebê possuísse, em estado latente, todas as virtudes sociais. Na verdade, é preciso que todas as crianças sejam educadas, mas não se deve tentar fazer o papel da natureza e acelerar processos que ela somente com o tempo desenvolverá. A ideia de educação negativa está presente, também, nas Considerações sobre o governo da Polônia, quando Rousseau trata da educação pública, o que demonstra a importância desse conceito para a educação. Nossa educação tradicional, porém, ansiosa por colocar todos os conhecimentos que julgamos úteis na cabeça dos jovens, assim como os objetos de desejos em seus corações, muitas vezes quer modificar a própria natureza, reformá-la. Em mais uma diatribe contra os filósofos, Rousseau afirma: Dizem que muitas parteiras pretendem, com massagens na cabeça das crianças recém-nascidas, dar-lhe uma forma mais conveniente, e aceita-se isso! Nossas cabeças estariam erradas, se em obediência ao Autor de nosso ser; cumpre-nos modelá-las de fora pelas parteiras e, por dentro, pelos filósofos. Os caribes são metade mais felizes do que nós (ROUSSEAU, 1992, p. 17). Assim dizendo, insistimos, parece que a educação da natureza em Rousseau nada tem a acrescentar aos alunos, é como se nascessem sabendo tudo, mas não é disso que se trata. Abordaremos a seguir, com a brevidade necessária, alguns elementos da educação positiva, isto é, as lições e conteúdos que os homens ensinam às crianças, as quais, sem o ensino do que a tradição nos legou, talvez não se desenvolvessem pelas próprias forças. A educação intelectual Emílio aprenderá noções de botânica, astronomia, física, química; aprenderá a ler e escrever; os números e suas relações; geografia e história; filosofia; religião; literatura e outros conteúdos. A questão, portanto, é que nada lhe faltará dos conhecimentos escolares tradicionais; no entanto, a forma e o momento de ensino é 76 que serão significativamente distintos. A crítica de Rousseau não é contra o aprendizado das ciências e das humanidades – ele mesmo, como vimos na primeira parte deste livro, estudou largamente todos esses conteúdos –, mas o modo como são ensinadas pela educação tradicional. Os princípios que dirigirão a educação intelectual serão a utilidade e o aprendizado pelas coisas. Quanto à utilidade, trata-se de entender que as crianças e adolescentes não têm, por natureza, o desejo de aprender alguma coisa que não lhes pareça, de alguma forma, útil. Muitos educadores querem, justamente, que os jovens entendam que nem tudo o que se aprende tem utilidade imediata, mas futura; é preciso, então, que eles tenham a dimensão de tempo e compromissos sociais para os quais não estão preparados. Muitas vezes os mestres dizem aos adolescentes que, em cinco anos, aquela lição será útil, sem perceber que esse número de anos é, pelo menos, a metade do tempo que eles têm consciência de si. O aprendizado pelas coisas atende ao princípio pedagógico de que não se aprende – pelo menos de forma consistente – por palavras, pelos livros que são apenas a representação das coisas e não elas mesmas. O aprendizado por meio de representações fica limitado à memória, como é o caso da educação tradicional. De certa forma, para irmos mais longe, Agostinho havia adiantado esse problema em seu De magistro, quando observou que, pelas palavras, aprendemos somente palavras, e não as coisas que elas representam. Esses princípios também aparecem na concepção de educação pública em Rousseau, exposta nas Considerações. Ali, ele sugere aos poloneses que os pais que desejarem educar os filhos em casa poderão fazê-lo, que a instrução pode ser particular, mas a educação deverá ser pública e deverão comparecer aos jogos públicos, juntamente com as outras crianças. Entendemos, pois, como instrução o ensino dos conteúdos das disciplinas. Educação moral Assim como há uma educação positiva que ensina, na qualidade de terceiro mestre, os conteúdos intelectuais, evidentemente, contando com o auxílio dos outros dois, há também uma educação positiva dos valores morais. Ensina-se moral às crianças, não se pode pressupor que as noções de sociabilidade, como a verdade, a humildade, a comiseração sejam naturais; e muito menos ainda que os vícios – como a inveja, a ira, os ciúmes e outros – estejam no coração humano desde o nascimento. Vimos que, para Rousseau, há duas paixões naturais: a piedade natural e o amor de si; a criança nasce com esses dois princípios, mas somente o primeiro é ativo; a criança, porém, sente que existe, mas não o sabe. As virtudes sociais nascerão da piedade natural; os vícios do amor próprio, degeneração do amor de si. A crítica de Rousseau à educação tradicional não é o ensino de moral, mas sim 77 como e quando pretende ensinar moral às crianças. Diríamos que o tema da moral é recorrente em todo o Emílio. Desde os primeiros choros até a decisão de Emílio de residir no país em que nasceu, há elementos da educação moral. Há tantos exemplos que seria impossível fazer uma síntese deles. Por isso, vamos nos ater a dois casos. Locke, segundo Rousseau, insiste que se deve raciocinar com as crianças, mas será que esse é um bom caminho? Querer ensinar a moral por meio de raciocínios é uma tarefa vã, pois conhecer o bem e o mal, sentir as razões dos deveres do homem, não é da alçada de uma criança. A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens [...] a infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são próprias; nada menos sensato do que querer substituí-las pelas nossas (ROUSSEAU, 1992, p. 75). Exatamente o mesmo discurso vale para os jovens e adolescentes: querer ensinarlhes a “moral” por meio de longos discursos, que recorrem, portanto, a raciocínios, não é um bom método. O problema, no caso dessa idade, não é somente o raciocínio em si, mas as ilações que nele estão contidas, pois são repletas de noções de compromissos sociais, deveres, juramentos que a natureza não os preparou, ainda, para compreender. Não há um objeto, uma coisa mesma, somente noções abstratas. A esse respeito, Rousseau diz: “Não gosto das explicações em discurso; os jovens prestam pouca atenção e não as retêm. As coisas! As coisas! Nunca repetirei bastante que damos demasiada importância às palavras; com nossa educação tagarela, não fazemos senão tagarelas” (ROUSSEAU, 1992, p. 192). Sofia, ou a mulher. A educação feminina Abordemos, agora, o intertexto Sofia, ou a mulher, para, a partir dele, termos alguma ideia de como Rousseau concebe a educação feminina. Para Custódia Martins (2002), Rousseau concebe a necessidade de uma educação diferente para homens e mulheres porque são diferentes por natureza e o princípio da educação deve continuar o mesmo: seguir a natureza. No entanto, para Rousseau: Em tudo o que não se prende ao sexo, a mulher é homem: têm os mesmos órgãos, as mesmas necessidades, as mesmas faculdades; a máquina é construída da mesma maneira, as peças são as mesmas, o jogo de ambos é igual, o aspecto semelhante; e sob qualquer ângulo que os consideremos, só diferem por mais ou menos (ROUSSEAU, 1992, p. 423). Ora, se em tudo, ou quase tudo, são iguais, por que a educação deve ter peculiaridades para um e para outro? No que têm em comum, são iguais; no que têm de diferentes, são incomparáveis, e essa diferença se deve à natureza do sexo. A respeito das diferenças, destacam-se as seguintes: enquanto os homens são “ativos e fortes”, as mulheres são “passivas e fracas”. A mulher é feita para “agradar e ser subjugada” (1992, p. 424). Ora, a mulher, no entanto, deve usar sua natureza para dominar aquele que é mais forte; ao tornar-se agradável, mas associando a isso a 78 modéstia e o poder, inverte a situação e o fraco escraviza o forte. Mais adiante, no Emílio, dirá que as mulheres foram feitas para governar os homens, não como os homens governam. Quando querem governar sozinhas, à força, o lar é conduzido à desordem, mas quando usam o dom natural do “império da doçura”, “suas ordens são carinhos, suas ameaças são lágrimas. Ela deve reinar na casa como um ministro de Estado, fazendo com que comandem o que quer fazer” (ROUSSEAU, 1992, p. 489).7 Assim, no que tange ao relacionamento entre marido e mulher, ele, apesar de forte, é dominado pelos encantos e pela modéstia. A educação diferente não significa que caberá às mulheres aprender somente as tarefas do lar: Deduzir-se-á disso que deva ser educada na ignorância de tudo e adstrita unicamente às tarefas do lar? Fará o homem sua criada de sua companheira? [...] Para escravizá-la ainda mais, impedi-la-á de conhecer o que quer que seja? Fará dela uma verdadeira autômata? (ROUSSEAU, 1992, p. 432). Quanto à educação intelectual das mulheres, encontramos um Rousseau, pelo visto, mais conservador do que em todos os outros aspectos do seu pensamento: A procura de verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos axiomas nas ciências, tudo o que tende a generalizar ideias não é da competência das mulheres, seus estudos devem todos voltar-se para a prática; cabe a elas fazerem a aplicação dos princípios que o homem encontrou, e cabe a elas fazerem as observações que levam o homem ao estabelecimento de tais princípios [...] elas não têm bastante precisão e atenção para brilhar nas ciências exatas (ROUSSEAU, 1992, p. 465). Ainda que tais ideias sejam “estranhas” para o leitor de hoje, talvez o modelo que Rousseau tinha sob as vistas não facilitava outra apreciação do tema. Segundo Badinter, Madame du Châtelet estudou a física de Newton com grande talento, sua obra é essencialmente especulativa e metafísica; por outro lado, tinha uma personalidade forte e tratava a todos com muito rigor: Nisso, Émilie é de uma natureza tradicionalmente mais viril que feminina. O que não deixaram de notar os que a rodeavam. Voltaire é o primeiro a compará-la sempre a um grande homem. Ela lhe aparece com um ser andrógino que reúne a virtudes dos dois sexos. Mulher na aparência, homem pelo espírito (BADINTER, 2003, p. 87). O peso da opinião pública sobre as mulheres é maior do que sobre os homens. Para elas, não basta serem pudicas, é preciso que assim sejam vistas por todos. Para tanto, não basta serem dóceis, é preciso que aprendam a desenvolver um talento natural que lhes compensa a falta de força: a astúcia. São inúmeras as críticas à educação das mulheres de seu tempo, mas gostaríamos de colocar uma ainda mais em destaque: a ideia de alguns religiosos de que os divertimentos podem perverter as mulheres. Muitos educadores severos acreditavam estar encaminhando bem as meninas ensinando-lhes que uma mulher não deveria ter outro divertimento senão a oração e o trabalho, que, como afirma o autor do Emílio, são estranhos divertimentos para meninas de dez anos. Sobre essa educação Rousseau afirma: 79 Escravizando as mulheres honestas unicamente a deveres, tira-se do casamento tudo o que poderia tornálo agradável aos homens. Será de se espantar se a taciturnidade que veem reinar em casa os expulse de casa ou se sentem tão tentados a abraçar estado tão desagradável? À força de exagerar todos os deveres, o cristianismo os torna impraticáveis e vãos; à força de proibir às mulheres o canto, a dança, e todos os prazeres da sociedade, ele as torna insossas, rabugentas, insuportáveis em seu lar. Não há religião em que os casamentos estejam sujeitos a deveres tão severos, e nenhuma em que tão santo compromisso seja tão desprezado (ROUSSEAU, 1992, p. 444). Rousseau cria sua Sofia com todas as qualidades que são naturais das mulheres. Ela não é bonita, mas sua docilidade e seu jeito fazem com que vá se tornando bela à medida que o tempo passa, e essa impressão não mais se desfaz; ela encanta, sem ofuscar, e, conforme Rousseau, não se sabe dizer por quê. Enfim, ele e a mãe dela tramarão o encontro dos jovens. A profissão de fé do Vigário de Saboia. A educação religiosa. A educação religiosa de Emílio se encontra no intertexto A profissão de fé do Vigário de Saboia. Pelo seu teor, apresentando uma série de paradoxos, também atraiu a ira de muitos de seus acusadores. Os princípios das concepções de religião em Rousseau estão registrados nessa obra. Das obras anteriores, podemos destacar a Ficção ou peça alegórica sobre a revelação e a Carta a d’Alembert. Depois da publicação e das consequentes condenações, defendeu-se das acusações em Paris com a Carta a Christophe de Beaumont e das acusações em Genebra com as Cartas escritas da Montanha, mantendo os mesmos princípios expostos na Profissão de fé. Rousseau se opõe ao ensino de religião para crianças. Em uma de suas frases de efeito afirma que “toda criança que crê em Deus é idólatra”. O arcebispo de Paris, evidentemente, não gostou da expressão, mas, observando-a do ponto de vista da teoria de Rousseau, a ideia de Deus é abstrata; como as crianças e adolescentes devem aprender a partir das coisas, é uma tarefa impossível fazê-las compreender esse conceito, assim como as convenções sociais que dependem de uma série de relações para as quais elas ainda não estão preparadas. O momento do ensino dos princípios da religião deve ocorrer somente depois dos dezesseis anos; é preciso esperar o momento certo para que as questões ligadas à religião façam sentido para sua razão e seu coração; antes disso, todas elas serão inúteis ou terão o mesmo fim dos outros conteúdos da educação tradicional, resumirse-ão a meras palavras. Mesmo assim, essas lições não devem começar pelos dogmas misteriosos; a preferência é para os dogmas morais, que ensinam a preferir e fazer sempre o bem. Como o próprio Rousseau narra nas Confissões, as ideias do Vigário de Saboia nasceram de dois padres que Rousseau, na juventude, conheceu: “[...] e reunindo M. Gâtier com M. Gaime, fiz desses dois dignos padres o original do Vigário de Saboia. Orgulho-me da imitação não ter desonrado os modelos” (ROUSSEAU, 1965, p. 138). 80 É de se supor que, ao lado dos princípios expostos pelos seus mestres, ele acrescentou suas próprias reflexões sobre o assunto. A frase mais conhecida de Rousseau sobre sua fé encontra-se na Carta a Christophe Beaumont: “Sou cristão, senhor Arcebispo, e sinceramente cristão, segundo a doutrina do Evangelho. Sou cristão não como discípulo dos padres, mas como discípulo de Jesus Cristo” (2005, p. 72). A religião natural de Rousseau encaixa-se, como dissemos, no modelo do teísmo, mas, declarando-se cristão, diferencia-se daquele Deus de razão dos deístas. O teísmo cristão de Rousseau é uma forma que ele encontrou para escapar da angústia que sentia diante dos sistemas filosóficos, sempre tentando explicar o mundo, em eterna contradição entre eles mesmos: Vede em minha exposição unicamente a religião natural; é estranho que se faça necessária outra. De que maneira conhecerei essa necessidade? De que posso ser culpado servindo a Deus segundo as luzes que dá a meu espírito e segundo os sentimentos que inspira a meu coração? (1992, p. 344). Assim, para Rousseau, a filosofia não tem condições de descobrir a verdade. Só o que ela produz são sistemas, sempre defendidos pelo orgulho e pela vaidade. A metafísica aumenta as dúvidas, ao invés de superá-las. Uma das concepções religiosas da modernidade era a chamada “religião natural ou racional”, em oposição às “religiões reveladas”. Os filósofos partidários dessa concepção acreditavam que a religião fazia parte da natureza humana, acreditavam na existência de um Deus supremo, inteligente, arquiteto de todo o universo. A questão central está em torno de acreditar se esse Deus se revelou a um povo em especial. Para os deístas e teístas, Deus fala diretamente aos homens, sem precisar de intermediários, emissários ou representantes. A religião natural caracteriza-se por não ter necessidade de ritos e cultos, que são apenas elementos das religiões positivas. Em uma passagem contundente do Emílio afirma: O culto que Deus pede é o do coração, e este, quando sincero, é sempre uniforme. É de uma vaidade maluca imaginar que Deus se interesse tanto pela forma da vestimenta do padre, pela ordem das palavras que ele pronuncia, pelos gestos que faz no altar, por todas as suas genuflexões (1992, p. 345). Contudo, essa não é sua última palavra sobre os ritos. Os padres de quem ele aprendeu a lição continuaram no serviço da Igreja por acharem que ela exerce uma função social insubstituível, tanto pela religião natural quanto pelos sistemas filosóficos. Ele mesmo, quando retornou a Genebra, entendia a importância de participar dos cultos públicos; por isso, apesar da análise filosófica dos ritos, do ponto de vista da razão, na perspectiva da sociabilidade eles exercem uma função fundamental. Outro aspecto da religião natural em Rousseau é o papel da consciência. Os filósofos deístas apoiavam-se na razão, Rousseau forja o conceito de consciência, que se coloca ao lado dos sentimentos e da própria razão e deveria ser, na maior parte dos 81 casos, o guia das ações. A religião natural apoia-se, por um lado, na razão como critério de conhecimento e, por outro, no sentimento interior, menos de conhecimento e mais de orientação. Esse sentimento manifesta-se nos homens como consciência. Consciência! Consciência! Instinto divino, voz celeste e imortal; guia seguro de um ser ignorante e limitado, mas inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal, que tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações; sem ti nada sinto em mim que eleve acima dos bichos, a não ser o triste privilégio de me perder de erro em erro com a ajuda de um entendimento sem regra e de uma razão sem princípios (1992, p. 338). A fé e a razão são luzes que Deus dá aos homens e, por isso, não podem negar-se mutuamente. Talvez a consciência seja o elemento que torna possível o equilíbrio entre a razão e as paixões. Outra das grandes questões em torno da religião natural está na liberdade de pensamento e na livre interpretação da Bíblia. Ora, para Rousseau, seria um absurdo acreditar que Deus nos deu a razão para depois nos impedir de usá-la. No entanto, sua leitura da Bíblia é diferente daquelas dos amigos filósofos, que acabam por, de certo modo, ridicularizar algumas passagens do texto sagrado. Rousseau também confessa que não compreende várias passagens e que algumas chocam a razão, mas, nesse caso, prefere guardar um silêncio respeitoso a afirmar coisas sobre as quais nada entende. Sua definição do Evangelho arrancou elogios até mesmo de Christophe Beaumont. Diremos que a história do Evangelho foi inventada por prazer? Meu amigo, não é assim que se inventa; e os fatos de Sócrates, de que ninguém duvida, são menos atestados que os de Jesus Cristo. No fundo, é afastar a dificuldade sem a destruir. Seria mais inconcebível que vários homens de comum acordo tivessem fabricado esse livro, que o fato de um só ter fornecido o assunto. Nunca os autores judeus teriam encontrado nem esse tom nem essa moral; e o Evangelho tem traços de verdade tão grandes, tão impressionantes, tão perfeitamente inimitáveis que seu inventor seria mais espantoso do que o herói. Com tudo isso, esse mesmo Evangelho está cheio de coisas incríveis que ferem a razão e que um homem sensato não pode conceber nem admitir. Que fazer em meio a todas essas contradições? Ser sempre modestos e circunspetos, meu filho; respeitar em silêncio o que não se pode rejeitar nem compreender e humilhar-se diante do grande Ser, o único que sabe a verdade (1992, p. 362-363). Há uma série de elementos sobre a religião em Rousseau: o problema dos milagres, das profecias, o pecado original, entre outras. Infelizmente, tendo de abreviar nossa análise, escolheremos como último tema o papel de Cristo no pensamento de Rousseau. Por vezes, não é necessária qualquer referência à religião para elaborar suas concepções teóricas, por exemplo, sobre a política e a educação da natureza, mas, por vezes, a concepção religiosa, o teísmo cristão, faz-se fundamental para delimitar alguns conceitos. A antropologia de Rousseau não necessita das noções de pecado original; seus modelos se encontram em Esparta e Roma; há muitos homens do seu tempo para os quais ele não poupa elogios, pelo seu caráter, mas, em termos de “modelo paradigmático”, Cristo supera Licurgo, Sócrates, Catão e todos os outros. Eis um dos 82 parágrafos em que descreve essa comparação: Quando Platão pinta seu justo imaginário, coberto com todo o opróbrio do crime e digno de todos os prêmios da virtude, pinta traço por traço Jesus Cristo: a semelhança é tão impressionante que todos os Pais da Igreja a sentiram, e não é possível enganar-se. Que preconceitos, que cegueira é preciso ter para comparar o filho de Sofronisque ao filho de Maria! Que distância de um a outro! Sócrates, morrendo sem dor, sem agonia, sustentou facilmente até o fim de seu personagem; e se essa morte fácil não tivesse honrado sua vida, duvidar-se-ia que Sócrates, com todo seu espírito, fosse outra coisa que um sofista [...] Sim, se a vida e a morte de Sócrates são de um sábio, a vida e a morte de Jesus são de um Deus! (1992, p. 362). O Emílio ou da Educação é uma obra que, como pudemos observar nessa breve apresentação, apresenta uma série de concepções inovadoras, não somente no campo da educação, mas da antropologia, da religião, da ética e muitas outras. Talvez isso se deva ao fato de que não se trata de um livro sobre as ideias dos outros, mas as do próprio autor. Emílio e Sofia, ou os solitários Essa continuação foi escrita no ano de 1768. Trata-se de duas cartas de Emílio ao seu mestre, as quais ele não sabe se irá ler – ou se ainda está vivo – e que, talvez, ninguém leia. Conta suas desventuras dez anos depois de casado com Sofia, como tudo começou e os anos que se sucederam. Segundo o autor da introdução à edição brasileira, Walter C. Costa, o texto inacabado teria dois finais possíveis, sendo que diferem apenas em detalhes. Emílio e Sofia se reconciliariam e iriam viver numa ilha, o que nos lembra, evidentemente, a estada de Rousseau e Thérèse na ilha de SaintPierre. Conforme Custódia Martins, o texto foi escrito em 1768. Na primeira, e mais longa, carta, Emílio narra suas desventuras. Sofia ficou sorumbática depois da morte do pai, da mãe e, especialmente, da filha. Emílio tentava de tudo para reanimá-la e não obtinha sucesso. Entrementes, teve a oportunidade de ir a Paris para ver alguns negócios e ocorreu a ideia de levar Sofia. Ali começaram suas desgraças. Um pequeno trecho do Emílio assume um tom profético nessa história. Rousseau adiantava a peripécia que causaria todas as desgraças de seu aluno: fazer com que os jovens, educados dentro de padrões morais mais próximos da natureza, tivessem que ir morar em Paris, onde, tal como Emílio e Sofia, perder-se-iam entre os divertimentos e a solidão da cidade grande: Quantas jovens mulheres eu vi, trazidas à capital por maridos complacentes e com possibilidades de ficar, dissuadi-los elas próprias, partindo de bom grado para seus lugares de origem, dizendo com ternura na véspera da partida: “Ah! Voltemos para nossa cabana, nela se vive mais feliz do que nos palácios daqui” (ROUSSEAU, 1992, p. 466). A vida de divertimentos foi tirando dele o doce prazer do convívio com a família. 83 Emílio reconheceu, depois da desgraça instituída no seio de sua família, que foi o seu abandono e desprezo para com sua esposa que a levaram a fazer o que fez. Somandose o descuido de Emílio como marido, a influência dos modos de Paris e a filosofia licenciosa sobre os deveres matrimoniais, Sofia traiu Emílio e, como desgraça pouca é bobagem, engravidou do amante. Emílio, ainda ignorando a verdade, insistiu em recuperar o amor de sua esposa – que estava distante e fria –, quando ela confessoulhe tudo: “[...] e, fitando-me com um olhar que o desespero e a fúria tornavam assustador: ‘pare, Emile’, ela me disse, ‘e saiba que não sou mais nada para você. Um outro maculou sua cama, estou grávida, nunca mais em minha vida você irá me tocar’” (ROUSSEAU, 1994, p. 63). Emílio sai caminhando sem rumo. Chega a um vilarejo, onde, para prover seu sustento e esquecer suas mazelas, começa a trabalhar como artesão. Custódia Martins observa que, ao longo das páginas que se seguem, Emílio reflete sobre a educação que teve e percebe como ela lhe foi útil para ultrapassar todos os obstáculos que enfrentou depois da traumática separação. Quanto às questões de consciência, pensou em tudo: voltar para Sofia, pois seu coração assim pedia; vingar-se dela, mas como? Matando-a? Tirando-lhe o filho? Depois, em virtude de alguns acontecimentos, conclui que tirar o filho dela seria um castigo ainda maior para a própria criança: não se tira o filho de uma mãe. Quanto às lições práticas, foram de grande valia. Emílio aprendera o ofício de marceneiro e, não só pela habilidade, mas pelo hábito de trabalhar, adquiriu uma têmpera que lhe faria diferença nos acontecimentos vindouros. Emílio viajou por diversos lugares, sempre conseguindo trabalho para sobreviver e se destacando não só pela eficiência, mas também pelos modos. Tornou-se, assim, mais homem do que cidadão, pois o mundo era sua pátria. Iniciando a segunda carta, narra que, numa dessas aventuras, embarcou em um navio, mas o capitão, traindo a tripulação, entregou-os como escravos. Emílio aceitou o destino que se lhe impôs, e, na frente de seu captor, vingou-se do capitão degolando-o. A partir daí sua vida percorreu entre resistir à dureza dos trabalhos que lhe eram impostos e a firmeza de seu caráter; suportou o jugo da escravidão considerando que, em relação à natureza e ao modo de vida das cidades, não havia muita diferença. Ganhou a confiança de um dos seus senhores e fez nome. Até que, um dia, foi dado de presente ao “Dey de Argel”, isto é, o “rei”, tornando-se seu conselheiro. Tudo por causa da educação que recebeu. As lições não ficaram apenas gravadas em sua memória, mas em seu coração. 7 Chamo a atenção do leitor para um filme que aborda esse tema nessa mesma perspectiva. Trata-se de O casamento grego (EUA/2002 – direção de Joel Zwick e roteiro escrito pela atriz principal, Nia Vardalos). Em determinado momento a mãe da protagonista (Maria Portokalos) ensina à filha (Toula Portokalos) como a mulher deve conduzir os assuntos do lar (cito de memória, mas a ideia é exatamente a que descrevo): “O homem é a cabeça do lar; a mulher é o pescoço que vira a cabeça para onde quer que ela aponte”, assim, 84 habilmente, faz com que o marido (Gus Portokalos) decida exatamente aquilo que ela tinha em mente, não com gritos ou ordens, mas com doçura e um raciocínio bem rápido. 85 Epílogo Como encerramento deste livro não colocaria uma conclusão, pois não se tratou aqui propriamente do desenvolvimento de uma tese, mas da apresentação do pensamento de um filósofo, entremeando-lhe vida e obra. Há, pelo menos, duas formas de lermos a obra de Rousseau. A primeira, academicamente, analisando seus conceitos e procurando compreender como eles se articulam entre as obras; a segunda, procurando em suas reflexões possíveis soluções, princípios ou, ao menos, ideias para as questões de nosso tempo. Acredito que Rousseau ainda tenha muito a contribuir com a sociedade contemporânea, seja no âmbito da política, da educação, da tolerância religiosa e em áreas como a psicologia, antropologia e, por que não, na música? No entanto, é preciso observar que essas contribuições não são úteis se fizermos uma leitura dogmática de suas obras, isto é, se for para aproveitarmos seus conceitos para refletirmos sobre as questões da sociedade atual, é preciso, como ele mesmo afirmou no Emílio, considerar as circunstâncias para aplicar, quando for o caso, os princípios. Muitos conceitos de Rousseau estão ligados ao “oxigênio mental” de seu tempo, outros dialogam diretamente com estruturas e ideias que permanecem vivíssimas ainda em nossos dias. Esperando que a apreciação desse livro tenha sido útil para despertar o gosto pela leitura das obras de Rousseau, em particular, e da filosofia em geral, ou, ainda, que tenha simplesmente instigado o leitor um pouco mais na busca pelo conhecimento, despeço-me, colocando-me à disposição para continuar este diálogo sobre o filósofo genebrino. José Benedito de Almeida Júnior [email protected] 86 Referências ALMEIDA JÚNIOR, José Benedito de. Educação e política em Jean-Jacques Rousseau. Uberlândia: Editora da Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU), 2009. BADINTER, Elisabeth. Émilie, Émilie: a ambição feminina no século XVIII. Trad. Celeste Marcondes. São Paulo: Discurso Editorial; Duna Dueto; Paz e Terra, 2003. CASSIRER, E. Le Problème Jean-Jacques Rousseau. Trad. Marc B. de Launay. Prefácio de Jean Starobinski. Paris: Hachette, 1987. DOZOL, Marlene de Souza. Rousseau – educação: a máscara e o rosto. Petrópolis: Vozes, 2006. FENELON (François Salignac de la Mothe). As aventuras de Telêmaco, filho de Ulisses. Trad. Maria Helena C. V. Trylinski. São Paulo, Madras, 2006. FORTES, L. R. S. O bom selvagem. São Paulo: FTD, 1989. MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: HUCITEC, 2006. MARTINS, Custódia Alexandra Almeida. “A pedagogia de Jean-Jacques Rousseau : praxis, teoria e fundamentos”. Monografias de educação. Centro de Investigação em Educação. Universidade do Minho. Braga, 2009. NASCIMENTO, M. M. Opinião pública e revolução: aspectos do discurso político na França revolucionária. São Paulo: Nova Stella e EDUSP, 1989. MATOS, F. “A querela do teatro no século XVIII: Voltaire, Diderot e Rousseau”. O que nos faz pensar. Departamento de Filosofia, PUC/Rio de Janeiro, n. 25, agosto/2009. SOUZA, Maria das Graças de. Ilustração e história: o pensamento sobre a história no iluminismo francês. São Paulo: Discurso Editorial, 2001. STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. VOLTAIRE. Poema sobre o desastre de Lisboa. Trad. Vasco Graça Matos. Lisboa: Aletheia, 2006. VOLTAIRE. Cartas ilimunistas. Trad. e org. André Telles e Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. Obras de Rousseau utilizadas: ROUSSEAU, J.-J. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre a religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques e outros. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. ———————. Carta a d’Alembert. Tradução de Roberto Leal Ferreira. Campinas: UNICAMP, 1993. ———————. Carta à Madame de Francueil. Trad. Françoise Galler Magalhães Gomes. Perspectiva, CED. Florianópolis. 6 (11), 132-140. Jul./Dez., 1988. ———————. “Carta a Voltaire”. Tradução de Maria das Graças de Souza. In: Menezes, E. (org.) História e Providência: Bossuet, Vico e Rousseau: textos e estudos. Ilhéus: Editus, 2006. ———————. “Carta ao senhor de Franquières”. Carta a Christophe de Beaumont e outros escritos sobre a religião e a moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques e outros. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. ———————. Carta sobre a música francesa. Trad. José Oscar de Almeida Marques e Daniela de Fátima Garcia. Campinas. IFCH-Unicamp, 2005. (Textos Didáticos, 58.) ———————. Cartas Escritas da Montanha. Tradução de Maria C. P. Pissarra e Maria das Graças de Souza. São Paulo: EDUC; UNESP, 2006. ———————. Considerações sobre o governo da Polônia e sua Reforma Projetada. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Brasiliense, 1982. ———————. Os devaneios do caminhante solitário. Tradução: Fulvia Moretto. Brasília: Editora da Universidade de Brasília; São Paulo: Hucitec, 1995. ———————. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Coleção Os Pensadores. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 87 ———————. Do Contrato Social. Coleção Os Pensadores. Tradução de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973. ———————. Emile e Sophie ou os solitários. Trad. Françoise Galler. Florianópolis: Ed. Paraula, 1994. ———————. Emílio ou da Educação. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. ———————. “Ficção ou peça alegórica sobre a Revelação”. Tradução de José O. de A. Marques, Ana L. S. Camarani e Adalberto L. Vicente. In: Escritos sobre a religião e a moral. Campinas: IFCH/UNICAMP, Cadernos de Tradução n. 2, 2002. ———————. Júlia ou a Nova Heloísa. Tradução de Fúlvia Monteiro. São Paulo-Campinas: Hucitec – Ed. da Unicamp, 1994. ———————. Oeuvres Complètes. Paris: Seuil, 1971, 3 volumes. ———————.Oeuvres Complètes. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 1959-1995, 5 volumes. Houve um grande evento em Genebra, “Rpisseau pour tours”. No Brasil, foram realizados diversos eventos e publicações. Há um grupo de estudos do pensamento de Rousseau, cujos sítios na internet são: Rousseau studies: http://rousseaustudies.free.fr Société Jean-Jacques Rousseau: http://www.jjrousseau.org Grupo interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau: http://www.unicamp.br/~jmarques/gip/index.html Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), no qual há um grupo de trabalho intitulado: Rousseau e o Iluminismo: http://anpof.org.br/anpof/grupos/index.php?id=279 88 Coleção COMO LER FILOSOFIA Coordenação editorial: Claudenir Módolo e Claudiano Avelino dos Santos • Como ler a filosofia da mente, João de Fernandes Teixeira • Como ler um texto de filosofia, Antônio Joaquim Severino • Inteligência artificial, João de Fernandes Teixeira • Como ler a filosofia clínica? Prática da autonomia do pensamento, Monica Aiub • Um mestre no ofício: Tomás de Aquino, Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento • Uma introdução à República de Platão, Giovanni Casertano • Encontrar sentido na vida: Propostas filosóficas, Renold Blank • Como ler os pré-socráticos, Cristina de Souza Agostini • Filosofia do Cérebro, João de Fernandes Teixeira • Mestre Eckhart: Um mestre que falava do ponto de vista da eternidade, Matteo Raschietti • Como ler Jean-Jacques Rousseau, José Benedito de Almeida Júnior 89 Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos Coordenação de desenvolvimento digital: Erivaldo Dantas Assistente editorial: Jacqueline Mendes Fontes Revisão: Cícera Gabriela Sousa Martins, Tiago José Risi Leme, Manoel Gomes da Silva Filho Capa: Marcelo Campanhã Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Almeida Júnior, José Benedito de Como ler Jean-Jacques Rousseau / José Benedito de Almeida Júnior. — São Paulo: Paulus, 2013. — (Coleção Como ler filosofia) eISBN 978-85-349-3811-2 1. Filosofia francesa 2. Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778 - Crítica e interpretação 3. Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778 - Ponto de vista político e social I. Título. II. Série. 13-05208 CDD-194 Índices para catálogo sistemático: 1. Rousseau: Filosofia francesa 194 © PAULUS – 2013 Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 São Paulo (Brasil) Fax (11) 5579-3627 • Tel. (11) 5087-3700 www.paulus.com.br • [email protected] eISBN 978-85-349-3811-2 90 91 Scivias de Bingen, Hildegarda 9788534946025 776 páginas Compre agora e leia Scivias, a obra religiosa mais importante da santa e doutora da Igreja Hildegarda de Bingen, compõe-se de vinte e seis visões, que são primeiramente escritas de maneira literal, tal como ela as teve, sendo, a seguir, explicadas exegeticamente. Alguns dos tópicos presentes nas visões são a caridade de Cristo, a natureza do universo, o reino de Deus, a queda do ser humano, a santifi cação e o fi m do mundo. Ênfase especial é dada aos sacramentos do matrimônio e da eucaristia, em resposta à heresia cátara. Como grupo, as visões formam uma summa teológica da doutrina cristã. No fi nal de Scivias, encontram-se hinos de louvor e uma peça curta, provavelmente um rascunho primitivo de Ordo virtutum, a primeira obra de moral conhecida. Hildegarda é notável por ser capaz de unir "visão com doutrina, religião com ciência, júbilo carismático com indignação profética, e anseio por ordem social com a busca por justiça social". Este livro é especialmente significativo para historiadores e teólogas feministas. Elucida a vida das mulheres medievais, e é um exemplo impressionante de certa forma especial de espiritualidade cristã. Compre agora e leia 92 93 Santa Gemma Galgani - Diário Galgani, Gemma 9788534945714 248 páginas Compre agora e leia Primeiro, ao vê-la, causou-me um pouco de medo; fiz de tudo para me assegurar de que era verdadeiramente a Mãe de Jesus: deu-me sinal para me orientar. Depois de um momento, fiquei toda contente; mas foi tamanha a comoção que me senti muito pequena diante dela, e tamanho o contentamento que não pude pronunciar palavra, senão dizer, repetidamente, o nome de 'Mãe'. [...] Enquanto juntas conversávamos, e me tinha sempre pela mão, deixou-me; eu não queria que fosse, estava quase chorando, e então me disse: 'Minha filha, agora basta; Jesus pede-lhe este sacrifício, por ora convém que a deixe'. A sua palavra deixou-me em paz; repousei tranquilamente: 'Pois bem, o sacrifício foi feito'. Deixou-me. Quem poderia descrever em detalhes quão bela, quão querida é a Mãe celeste? Não, certamente não existe comparação. Quando terei a felicidade de vê-la novamente? Compre agora e leia 94 95 DOCAT Youcat, Fundação 9788534945059 320 páginas Compre agora e leia Dando continuidade ao projeto do YOUCAT, o presente livro apresenta a Doutrina Social da Igreja numa linguagem jovem. Esta obra conta ainda com prefácio do Papa Francisco, que manifesta o sonho de ter um milhão de jovens leitores da Doutrina Social da Igreja, convidando-os a ser Doutrina Social em movimento. Compre agora e leia 96 97 Bíblia Sagrada: Novo Testamento - Edição Pastoral Vv.Aa. 9788534945226 576 páginas Compre agora e leia A Bíblia Sagrada: Novo Testamento - Edição Pastoral oferece um texto acessível, principalmente às comunidades de base, círculos bíblicos, catequese e celebrações. Esta edição contém o Novo Testamento, com introdução para cada livro e notas explicativas, a proposta desta edição é renovar a vida cristã à luz da Palavra de Deus. Compre agora e leia 98 99 A origem da Bíblia McDonald, Lee Martin 9788534936583 264 páginas Compre agora e leia Este é um grandioso trabalho que oferece respostas e explica os caminhos percorridos pela Bíblia até os dias atuais. Em estilo acessível, o autor descreve como a Bíblia cristã teve seu início, desenvolveu-se e por fim, se fixou. Lee Martin McDonald analisa textos desde a Bíblia hebraica até a literatura patrística. Compre agora e leia 100 Índice Introdução Parte 1 4 8 Capítulo 1 - Condenado em Paris e Genebra Capítulo 2 - Infância e juventude Capítulo 3 - Enfim, a celebridade Capítulo 4 - Os últimos anos Parte 2 9 14 24 39 42 Capítulo 5 - O discurso sobre a desigualdade Reações ao Discurso sobre a desigualdade Conclusão Capítulo 6 - O contrato social O pacto social Soberano Vontade geral Governos Religião civil Capítulo 7 - Julie ou a Nova Heloísa Capítulo 8 - Emílio ou da Educação Os cinco livros Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 Livro 5 A educação da natureza A educação intelectual Educação moral Sofia, ou a mulher. A educação feminina A profissão de fé do Vigário de Saboia. A educação religiosa. Emílio e Sofia, ou os solitários Epílogo Referências 44 51 51 54 55 56 58 58 60 66 69 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 80 83 86 87 101