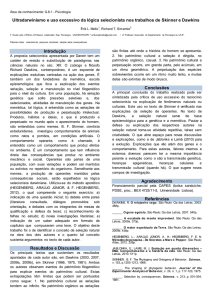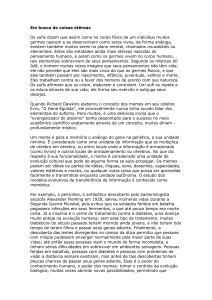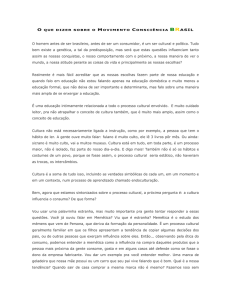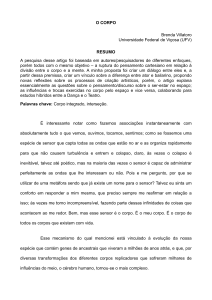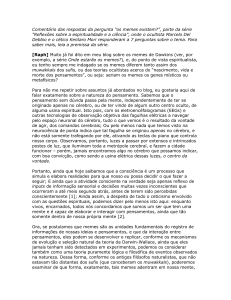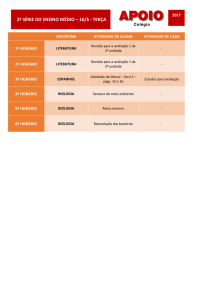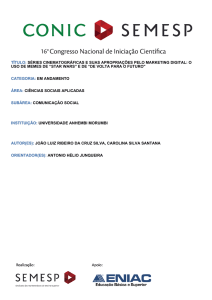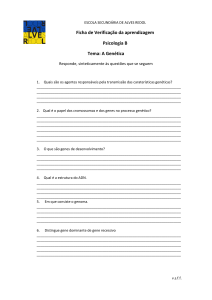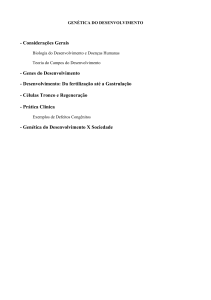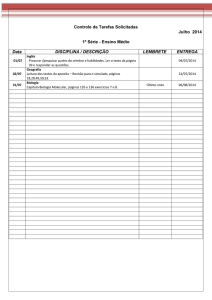Gustavo Leal Toledo
Controvérsias Meméticas: a ciência dos
memes e o darwinismo universal em
Dawkins, Dennett e Blackmore
TESE DE DOUTORADO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Rio de Janeiro, Março de 2009
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
Gustavo Leal Toledo
Controvérsias Meméticas: a ciência dos memes e o
darwinismo universal em Dawkins, Dennett e Blackmore
Tese de Doutorado
Tese apresentada como requisito parcial para obtenção
do grau de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação
em Filosofia do Departamento de Filosofia do Centro
de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio.
Orientador: Oswaldo Chateaubriand Filho
Volume I
Rio de Janeiro, março de 2009
Gustavo Leal Toledo
Controvérsias Meméticas: a ciência dos memes e o darwinismo
universal em Dawkins, Dennett e Blackmore
Tese apresentada como requisito parcial para obtenção
do grau de Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em
Filosofia do Departamento de Filosofia do Centro de
Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Aprovado
pela Comissão Examinadora abaixo assinada:
Prof. Oswaldo Chateaubriand Filho
Orientador
Departamento de Filosofia -PUC-Rio
Prof. Luiz Carlos Pinheiro Dias Pereira
Departamento de Filosofia - PUC-Rio
Prof. João de Fernandes Teixeira
Universidade Federal de São Carlos
Profa. Karla de Almeida Chediak
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Prof. Ricardo Francisco Waizbort
Fundação Oswaldo Cruz
Paulo Fernando Carneiro de Andrade
Coordenador Setorial do Centro de
Teologia e Ciências Humanas - PUC-Rio
Rio de Janeiro, 14 de março de 2009
Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou
parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e
do orientador.
Gustavo Leal Toledo
Graduou-se em Filosofia na UERJ (2002) com a monografia
“As Críticas a Filosofia Dualista da Mente”. Cursou mestrado
em Filosofia na PUC-Rio (2003-2005), obtendo título de
mestre com a dissertação “O Argumento dos Zumbis na
Filosofia da Mente: são zumbis físicos logicamente
possíveis?”. Fez o doutorado na mesma instituição, onde
obteve o título com a presente tese. Foi bolsista do CNPq nos
primeiros dois anos da tese e recebeu a Bolsa Nota 10 da
FAPERj nos últimos 2 anos. Participou e organizou diversos
congressos, seminários e simpósios nas mais variadas áreas da
Filosofia, tendo publicado no Brasil e no exterior. Atualmente é
professor Adjunto da UFSJ.
Ficha Catalográfica
Toledo, Gustavo Leal
Controvérsias meméticas: a ciência dos memes
e o darwinismo universal em Dawkins, Dennett e
Blackmore / Gustavo Leal Toledo; orientador:
Oswaldo Chateaubriand Filho. – 2009.
2 v. : il. ; 30 cm
Tese (Doutorado em Filosofia)–Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2009.
Inclui bibliografia
1. Filosofia – Teses. 2. Memes. 3. Memética. 4.
Darwinismo universal. 5. Filosofia da biologia. 6.
Cultura. 7. Filosofia da ciência. I. Dawkins, Richard.
II. Dennett, Daniel. III. Blackmore, Susan. IV.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Departamento de Filosofia. V. Título.
CDD: 100
Para minha esposa Luana, meus pais,
Elson e Regina, e meus memes.
Agradecimentos
Agradeço ao meu ex-orientador Sergio L. de C. Fernandes que me ensinou a ser o
que sou. Ele provavelmente não concordaria com nada nesta tese, mas mesmo
assim devo tudo o que está escrito aqui a ele.
Agradeço ao meu orientador Oswaldo Chateaubriand, que me abrigou quando
Sergio se aposentou e que tinha o direto de mudar todo o meu modo de trabalho,
mas decidiu respeitar e confiar em alguém que ele praticamente nem conhecia.
Aos professores da banca, pela leitura paciente de uma Tese que ficou com mais
do que o dobro do tamanho que ela teria originalmente.
A todos no Departamento de Filosofia da PUC-Rio, professores e funcionários,
pela atenção, esforço e cordialidade que sempre demonstraram.
À Luana Leal pela paciência, amor, carinho, pelas leituras e correções.
Aos meus pais, Elson e Regina, pelo total apoio na minha vida e pelas correções.
Aos meus amigos pelas dicas, pelo carinho e pelas conversas. Em especial à
Raquel Anna Sapunaru pelas leituras, e a Roger Oleniski, pelas leituras e
discussões.
Aos meus memes por terem feito todo o trabalho sem me importunar com o
processo
Agradeço ao Cnpq pela bolsa concedida durante dois anos, que possibilitou a
aquisição do material necessário para a pesquisa.
Agradeço à Faperj, pela bolsa do programa Bolsa Nota 10, concedida nos dois
últimos anos da Tese.
Definitivamente não agradeço ao meme da utilização de crases.
Resumo
Gustavo Leal Toledo; Oswaldo Chateaubriand Filho. Controvérsias
Meméticas: a ciência dos memes e o darwinismo universal em Dawkins,
Dennett e Blackmore. Rio de Janeiro, 2009. Tese de Doutorado –
Departamento de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
O conceito de memes surgiu em 1976 com Richard Dawkins como um
análogo cultural dos genes. Deveria ser possível estudar a cultura através do
processo de evolução por seleção natural de memes, ou seja, de comportamentos,
idéias e conceitos. O filósofo Daniel Dennett utilizou tal conceito como central em
sua teoria da consciência e pela primeira vez divulgou para o grande público a
possibilidade de uma ciência dos memes chamada "memética". A pesquisadora
Susan Blackmore, 1999, foi quem mais se aproximou de uma defesa completa de
tal teoria. No entanto, a memética sofreu pesadas críticas e ainda não se constituiu
como uma ciência, com métodos e uma base empírica bem definida. A presente
tese visa entrar nesta discussão, analisando todas as principais críticas que foram
feitas com o objetivo de analisar se a memética poderia de fato ser uma ciência e
também que tipo de ciência ela seria.
Palavras-chave
Memes, Memética, Darwinismo Universal, Filosofia da Biologia, Cultura,
Filosofia da Ciência, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Susan Blackmore
Abstract
Gustavo Leal Toledo; Oswaldo Chateaubriand. Memetic Controversies:
the science of memes and the Universal Darwinism of Dawkins, Dennett
and Blackmore. Rio de Janeiro, 2009. Phd Thesis – Departamento de
Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The concept of memes was created by Richard Dawkins in 1976 as an
analogue of genes. It suggests the possibility of studying culture through a process
of evolution through natural selection of memes, that is, of behaviors, ideas and
concepts. The concept became central for the philosopher Daniel Dennett, who
employed it in his theory of consciousness and made the possibility of a science of
memes called “memetics” known to the general public. Researcher Susan
Blackmore, 1999, came very close to a complete defense of such theory.
However, memetics was the target of heavy criticism, and could still not establish
itself as a science, with specific methods and a well-defined empirical base. The
present work aims to engage in this discussion, examining the main critics and
seeking to establish whether memetics could in fact be a science, and, if so, what
kind of science it would be.
Keywords
Memes, Memetic, Universal Darwinism, Philosophy of Biology, Culture,
Philosophy of Science, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Susan Blackmore.
Sumário
Introdução..................................................................................................13
1- Excursões pela Biologia Evolutiva........................................................26
1.1 - Um Esboço de uma Teoria.....................................................32
1.2 - O Esqueleto da Evolução: o darwinismo universal................42
1.3 - A Carne da Evolução..............................................................50
1.3.1 - Seleção Artificial e Seleção Inconsciente.................51
1.3.2 - Espécies-Anel e Poliploidia.......................................53
1.3.3 - Uniformitarianismo e Registro Fóssil........................56
1.3.4 - Homologias e Analogias...........................................58
1.4 - Darwin contra Lamarck?.........................................................61
1.5 - Evolução Epigenética: um pouco mais além dos genes........65
1.6 - Mendel contra Darwin?...........................................................71
1.7 - “Uma vez tendo galgado a escada mendeliana, é preciso
jogá-la fora”?...................................................................................75
1.8 - Evo-Devo................................................................................79
1.9 - Diversidade e Variação...........................................................82
1.10 - Cladismo: criando histórias...................................................90
1.11 - Juntos Somos Um................................................................96
1.12 - Quem Seleciona o Quê?....................................................102
1.12.1 - Seleção de Espécies............................................104
1.12.2 - Seleção de Grupo.................................................106
1.12.3 - Seleção de Parentesco.........................................107
1.12.4 - Seleção de Indivíduo............................................109
1.12.5 - Seleção de Genes................................................111
1.13 - O Fim do Passeio...............................................................115
2- Dawkins com Pitadas de Gould..........................................................116
3- Memes e Memética, um Início............................................................138
3.1 - Richard Dawkins e o Nascimento dos Memes.....................140
3.2 - Daniel Dennett e a Tentativa de Aborto da Memética..........157
3.3 - Susan Blackmore e a Descoberta do Óbvio.........................175
4 – Naturalizando o Comportamento e a Cultura....................................191
4.1 - Etologia.................................................................................193
4.2 - Fenótipo Estendido...............................................................195
4.3 - Sociobiologia........................................................................198
4.4 - Psicologia Evolutiva..............................................................203
4.5 - Ecologia Comportamental....................................................210
4.6 - Efeito Baldwin.......................................................................214
4.7 - Herança Epigenética............................................................218
4.8 - Darwinismo Social................................................................220
4.9 - Teorias da Co-evolução: Fedelman e Cavalli-Sforza,
Richerson e Boyd..........................................................................223
4.10 - Final....................................................................................238
5- Antropologia: amor e ódio...................................................................240
5.1 - Você Tem Sede de Quê?.....................................................246
5.2 - Cultura..................................................................................249
5.3 - Antropologia e Memética: um breve diálogo........................253
5.4 - Paleontologia: o nascimento do homem e do meme...........262
6 - Todos Juntos Somos Fortes..............................................................269
6.1 - Lingüística Histórica..............................................................271
6.2 - Quanto Mais, Melhor: economia, história, publicidade
e propaganda................................................................................288
7 - Tentando em Frente aos Neurônios-Espelho....................................292
8 - Imitação..............................................................................................302
8.1 - Quem Imita, Quando Imita, o Que Imita?.............................304
9 – Filosofia da Ciência, um Sobrevôo sobre o Labirinto: exceções,
palaetiologia e comunidade ...................................................................320
9.1 - Demarcando o Território.......................................................326
9.2 - Fazendo Ciência com o Enfoque em Biologia: o papel da
exceção .......................................................................................332
9.3 - O Pensamento Populacional................................................336
9.4 - Falsificando Popper..............................................................343
9.5 - Popper na Biologia...............................................................348
9.6 - Ciências Históricas...............................................................352
9.7 - Quanto Mais, Melhor!...........................................................358
9.8 - Uma Mão Corrige a outra: Willian Whewell e a
Palaetiologia.................................................................................361
10 - Uma Análise Crítica das Críticas......................................................367
10.1 - Dan Sperber e a Comunicação..........................................370
10.2 - Até Onde Vai a Analogia?..................................................381
10.3 - Problema da Unidade........................................................ 387
10.4 - Problema Ontológico..........................................................393
10.5 - Problema da Mistura...........................................................396
10.6 - Problema da Homologia.....................................................402
10.7 - Problema da Velocidade e da Fidelidade...........................405
10.8 - Problema do Genótipo e Fenótipo do Meme......................413
10.9 - Lamarckismo: ser ou não ser, eis a questão......................417
10.10 - Problema do Sujeito do Meme e da Criatividade.............420
Conclusão................................................................................................428
Bibliografia...............................................................................................439
Anexo I ...................................................................................................449
Lista de Ilustrações
Tabela 1: memes na internet...................................................................156
Tabela 2: genealogia de um poema........................................................227
Figura 1: história do algarismo romano para 50......................................280
Figura 2: história do algarismo romano para 500....................................280
Figura 3: história do algarismo romano para 1000..................................280
Figura 4: história dos algarismos árabes 5, 6, 7, 8 e 9............................281
Tabela 3: Lei de Grimm...........................................................................282
Tabela 4: palavras da glotocronologia.....................................................284
Quem pariu Mateus que o embale
Introdução
Saímos de casa para comprar uma calça porque precisamos estar bem
vestidos para o trabalho, mas por que é aquela calça que nos faz ficar bem
vestidos e não qualquer outra? Por que precisamos ficar bem vestidos no trabalho?
Por que precisamos usar calças? Ou pior, cuecas! Como é possível que coisas tão
fúteis como calças, brincos, caixas de som, grampeadores, piscinas, móbiles e
dicionários, viraram necessidades? Por que eles parecem tão vantajosos para nós,
mesmo quando ficamos deprimidos, angustiados, ansiosos se não conseguimos
adquiri-los? Por que comportamentos tão desnecessários como rezar, comprar,
jogar peteca, casar e defender teses de doutorado nos parecem ser a coisa mais
importante que podemos fazer com nossas vidas?
Compramos sem saber o verdadeiro motivo pelo qual compramos,
estudamos sem saber o verdadeiro motivo pelo qual estudamos. Todos nossos
costumes, nossas idéias, nossas crenças, todas as palavras que usamos até mesmo
para pensar, tirando raríssimas exceções, nos são anteriores e nos foram passadas
por outros. Mas mesmo assim elas nos parecem tão próximas, tão íntimas, que é
através delas que nos definimos e é por elas que vivemos e até mesmo morremos.
Passamos nossa vida inteira procurando um carro mais novo, uma casa melhor,
um título acadêmico, um campeonato. Somos nossa cultura e tudo indica que é ela
que está no controle. Mas simplesmente dizer que a cultura nos supera, que é
anterior e mais forte do que nós, uma super-estrutura, não é o suficiente, pois ela
muda, e muda constantemente. Novos comportamentos e novos produtos surgem
e também desaparecem todos os dias. Este processo de mudança parece ser
largamente devido ao ser humano. Quando tratada em seu desenvolvimento a
cultura parece dever tudo ao ser humano e ser submissa a ele. É ele que inventa,
divulga, vende, ensina, compra, aprende, ou então desiste de comprar ou esquece.
É neste momento que surge a questão que nos leva ao meme: como se dá o
processo de desenvolvimento e evolução da cultura?
Tratar este processo como sendo de responsabilidade dos homens, como se
eles é que decidissem o desenvolvimento da cultura, iria contra tudo o que
acabamos de ver: a cultura é anterior até mesmo à capacidade de pensar do
14
homem. Afinal de contas, não houve um homem que decidiu qual calça é mais
formal, que decidiu qual música nos soa melhor, qual deus devemos adorar. Os
costumes mudam, mas não mudam por uma decisão consciente, um decreto de um
sujeito livre. Mesmo naqueles poucos casos onde de fato houve um decreto, como
uma lei que obriga um determinado costume, ainda assim restam as perguntas: por
que aceitamos cumprir tal decreto? Poderíamos ignorá-lo, mesmo sofrendo as
conseqüências. Mas, principalmente, por que este homem decidiu decretar este
costume e não qualquer outro? Mesmo neste raro caso onde um traço cultural
muda, literalmente, por um decreto de alguém, ainda assim entendemos que este
traço lhe é anterior e, de certa maneira, superior.
O que nos faz escolher um programa de televisão e não o outro, um livro e
não o outro, uma calça e não a outra? A resposta imediata é “porque gostamos
mais deste do que do outro”. Mas isso não responde coisa alguma, pois a nossa
capacidade de gostar precisa, ela mesma, de uma explicação. O conceito de meme
surge aqui para dizer algo bem simples: a programação da televisão muda tendo
em vista uma melhor adequação ao nosso gosto. O que parece óbvio é, na
verdade, um modo novo de explicar a mudança cultural. Não somos nós o motor
das mudanças culturais, não decidimos de antemão o que vai mudar, o que será
aceito e o que será esquecido. A cultura muda. Um comportamento, um conceito,
uma idéia de uma pessoa nunca é idêntica ao de outra pessoa. A variação é a
regra. No entanto, a cultura é passada de pessoa para pessoa, herdamos nossa
cultura, incluindo suas variações. Dentre estas variações, eventualmente surgem
novas idéias, novos comportamentos, que se adequam melhor à nossa estrutura
cognitiva, que gostamos mais, achamos mais bonitos, mais interessantes, mais
úteis, mais agradáveis, mais fáceis de entender e de lembrar. Estas variações serão
mais facilmente passadas, enquanto variações ruins dificilmente se propagarão.
Tais variações poderão sofrer novas variações e assim por diante, até que um dia
elas estejam tão diferentes que será quase impossível saber de onde elas surgiram.
Isso significa que se queremos perguntar qual o motivo de um determinado traço
cultural, devemos responder dando a narrativa histórica de seu desenvolvimento,
que não será nada mais do que a história de como as variações que surgiram
durante seu desenvolvimento se mostraram mais adaptadas à mente de seus
propagadores. Tais traços culturais foram chamados de memes.
15
O conceito de “meme” foi criado por Richard Dawkins no último capítulo
de seu famoso livro O Gene Egoísta (1976). Um meme seria o análogo cultural do
gene, ou seja, idéias, conceitos, comportamentos que passariam de pessoa para
pessoa através da imitação e de outras formas de aprendizado social. Toda a
cultura, todos os comportamentos sociais, todas as idéias e teorias, todo
comportamento não geneticamente transmitido, tudo que uma pessoa pode imitar
ou aprender com uma outra pessoa é um meme. Na definição de Susan
Blackmore, considerada por Richard Dawkins e Daniel Dennett como a principal
defensora dos memes, “memes são instruções para realizar comportamentos,
armazenadas no cérebro (ou em outros objetos) e passadas adiante por imitação”
(Blackmore, 1999, p.17. Minha tradução1).
O principal “ambiente” dos memes seriam as mentes, em particular a mente
dos seres humanos, pois poucos animais são capazes de aprendizado cultural.
Ficaria em aberto a questão se os memes poderiam também estar em livros, cds,
computadores etc. ou se estes casos seriam somente o efeito dos memes que
habitam as mentes. Como há um número limitado de mentes e como em cada
mente há um espaço limitado, não só no que diz respeito ao controle do
comportamento, mas também no que diz respeito à memória, os memes
competiriam para “infectar” as mentes. Competição aqui significa somente que
alguns memes seriam mais eficazes em se instalar do que outros, ou seja, algumas
idéias seriam mais comuns do que outras. Estes memes seriam mais eficazes
porque estariam melhor adaptados ao seu ambiente, em outras palavras, dada a
mente de uma pessoa, alguns comportamentos, idéias e conceitos são mais
prováveis de se fixarem simplesmente porque eles se adaptam melhor àquela
pessoa do que os outros memes competidores. O que define a adaptação de um
meme a uma mente particular seriam as estruturas cognitivas desta pessoa, bem
como sua relação com os outros memes que já estão lá. Uma vez fixado, esta
pessoa se comportaria de modo a passar este meme para outros.
Durante todo este processo alguns memes podem sofrer modificações, que
podem torná-los ainda melhor adaptados à mente de outras pessoas e, portanto,
1
As citações em inglês foram traduzidas para o português com o intuito de permitir a leitura do
presente trabalho para um público maior. No entanto, foi feita uma tradução livre. Para aqueles
que lêem inglês, recomendamos que leiam as próprias citações em inglês que estão organizadas
por capítulo no Anexo I.
16
mais eficazes em se replicar. Os memes mais eficazes em fazer cópias de si
mesmos se tornarão mais comuns, os menos eficazes tenderão a desaparecer.
Eventualmente estes memes mais eficazes poderão sofrer novas mutações que os
tornem ainda mais eficazes. Este processo onde mutações tornam algo mais eficaz
de se replicar é o que se convencionou chamar de “seleção natural”. Já este outro
processo no qual as mutações vão se acumulando é o que se chama de “evolução”.
Teríamos, então, uma evolução dos memes por seleção natural assim como
acontece com os genes.
Deste modo, a cultura seria tratada como se desenvolvendo e evoluindo por
conta própria. A vontade, os desejos, as necessidades e as capacidades dos seres
humanos ao invés de comandarem o desenvolvimento e a mudança cultural
seriam o “pano de fundo”, o ambiente que cria a pressão seletiva para a cultura.
Nas palavras de Dawkins “o que não levamos em conta anteriormente é que uma
característica cultural poderá ter evoluído da maneira como o fez simplesmente
porque é vantajoso para ela própria” (Dawkins, 2001, p. 221) 2.
Ao contrário de ser uma proposta contra-intuitiva ela é, na verdade, bastante
comum. Em todos os ramos da arte, por exemplo, os artistas costumam tratar suas
criações como tendo vida própria e tratam a si mesmos como sendo o meio pelo
qual elas surgem. É comum que eles digam que não sabem como sua arte surge,
ela simplesmente surge e eles lhes dão vazão. Mas não precisamos ficar restritos
às artes. Em um mundo globalizado diariamente entramos em contato, seja
pessoalmente ou através de noticiários, com pessoas que seguem determinadas
culturas que nos parecem comandá-las. Religiões extremistas parecem estar mais
no comando do que a vontade pessoal, levando até ao suicídio, algumas vezes
coletivo. Nacionalismos levam ao ódio e à guerra. Até mesmo pessoas que
seguem religiões mais abertas parecem não saber o motivo pelo qual seguem
determinadas regras. Mas de maneira nenhuma devemos ficar restritos às
religiões. As propagandas que ocupam um imenso espaço em todos os meios de
comunicação não têm o intuito de informar ou desinformar algo sobre um
determinado produto, mas sim de determinar nosso comportamento. Elas não
estão lá em nosso benefício, mas em uma forte ligação do benefício do produto e
delas mesmas.
2
Os itálicos são do original e, no que se segue, os itálicos sempre serão do original.
17
A capacidade de explicar a mudança cultural através de histórias que
mostrem a adaptabilidade seqüencial e gradativa de um de seus traços às
estruturas cognitivas humanas é o que uma ciência dos memes deve fazer. Tal
ciência foi chamada de memética e mesmo antes de surgir já se encontra sobre
forte escrutínio. Escrutínio esse que, como veremos, é descabido por várias razões
diferentes.
Duas são as principais diferenças entre a memética e as outras abordagens da
cultura. Em primeiro lugar, uma ciência do estudo dos memes poderia se basear
nos métodos da genética, da biologia evolutiva e da epidemiologia para
desenvolver um verdadeiro programa rigoroso de pesquisa da cultura humana. Em
segundo lugar, a memética nos permite estudar o desenvolvimento da cultura sem
um questionável “sujeito da escolha” capaz de “decidir” que comportamento
seguir ou que idéia adotar. Tal sujeito seria, na melhor das hipóteses, só mais uma
parte do ambiente dos memes.
A memética seria uma ciência capaz de aplicar a perspectiva do meme. Tal
perspectiva é semelhante às narrativas históricas adaptacionistas comuns na
biologia evolutiva. Ao estudar um meme deve-se mostrar o que o torna um bom
replicador, ou seja, o que o faz adaptado a uma determinada mente. É nisto que a
memética se diferencia de outras teorias que normalmente são confundidas com
ela, a saber, o Darwinismo Social, a Sociobiologia, a Psicologia Evolutiva e o
chamado efeito Baldwin. No entanto, a única relação que a memética tem com
estas teorias é o fato de que todas elas estão incluídas dentro do panorama geral
do Darwinismo Universal, que visa aplicar a estrutura da seleção natural a outros
campos fora da biologia ou à biologia de outros planetas. Mas em muitos casos a
memética é até mesmo oposta a estas teorias! O fato é que o estudo dos memes
não pode ser considerado mais uma versão do determinismo genético, muito pelo
contrário, a memética é oposta ao determinismo genético justamente por mostrar
que muitos comportamentos são passados por transmissão cultural e não pelos
genes. A perspectiva do meme significa que são os memes, assim como os genes,
que querem3 ser passados e não as pessoas que os querem passar.
3
É claro que está sendo usado aqui o que Dennett chamaria de Postura Intencional: os memes e os
genes não querem realmente nada, apenas se reproduzem com maior ou menor eficácia, mas
podemos tratá-los como se quisessem. Durante todo este trabalho esta “postura” será utilizada, pois
18
Como era de se esperar, a memética sofreu várias críticas que a impediram
de se desenvolver, pois um estudioso desta área tem sempre que responder a uma
infinidade de questões para justificar o seu trabalho, ao invés de fazer como um
pesquisador comum e simplesmente trabalhar. Quase não há trabalho empírico
que se auto-intitule como memética e assim será enquanto os defensores desta
área acreditarem que há muito trabalho conceitual a fazer. Dentre as principais
críticas à memética podemos citar as seguintes.
Entre as críticas específicas, uma das mais comuns é que não sabemos a
ontologia dos memes, significando que não sabemos ainda do que eles são feitos,
qual é o seu substrato físico. Outra também bastante comum é que não sabemos
qual é o critério de unidade dos memes. Seria, por exemplo, uma música só um
meme ou um conjunto de memes? Outra crítica diretamente relacionada a esta é a
que diz que os memes se misturam de modo que os torna relevantemente diferente
dos genes. Também temos o problema de se a memética é realmente darwinista ou
é, na verdade, lamarckista. Uma das críticas mais importantes, e que causa boa
parte da repulsa ao conceito de meme, é sobre o papel do sujeito livre na evolução
cultural.
Além destas críticas, existem problemas levantados pelos próprios
defensores da memética ainda em busca de respostas. Há a discussão de se memes
podem ser passados só por imitação ou também por outras formas de aprendizado
social. Há o problema da velocidade da mudança cultural ser exageradamente
rápida de modo a comprometer a fidelidade da transmissão e, assim, impedir a
evolução. Há o problema de como distinguir se traços culturais semelhantes são
cópias um do outro ou desenvolvimentos independentes.
Há ainda críticas mais gerais, como a da cientificidade de uma disciplina
histórica da cultura. Pode a memética ser realmente uma ciência? Que tipo de
ciência ela seria? A memética teria uma base empírica ou é só uma análise
conceitual? Além disso, há o problema da relação da memética com as ciências
humanas que sentiram sua área invadida. Qual seria a relação da memética com
estas diversas áreas? Sem contar com o forte preconceito que tais áreas, mais
especificamente a antropologia, têm com qualquer tentativa darwinista de
trabalhar a cultura.
ela é mais simples e mais intuitiva, mas a linguagem mentalista para tratar de genes e memes não
deve ser tomada literalmente.
19
Focar em só uma crítica destas, mesmo em só um conjunto, seria permitir
que a memética permanecesse estagnada. Se bem entendidas, todas estas críticas
estão intimamente ligadas dentro da questão “como é possível uma ciência dos
memes?”. Não é possível nem mesmo chegar nesta questão mais geral sem
abordar algumas destas questões particulares que estão em seu caminho. Por este
motivo, o principal trabalho que deve ser feito é uma limpeza geral no terreno
conceitual para permitir que a memética respire e só então possa mostrar se tem
potencial ou não. A questão aqui não é que devemos resolver todos estes
problemas, mas apenas afastá-los o suficiente para que a pesquisa empírica seja
iniciada, e só aí poderemos analisar se a memética tem futuro como uma ciência
da cultura. Só será possível discutir se a memética é uma ciência ou não quando
ela tiver abandonado as questões conceituais, que serão analisadas aqui, e
começado a tratar de questões empíricas.
A presente tese visa apresentar a memética, levantando todas as suas
principais questões e, principalmente, inserindo-a dentro de um panorama mais
amplo ao qual ela pertence. Por este motivo grande parte do trabalho será
dedicado a apresentar temas que são importantes para a memética, seja porque
fazem parte de seu fundamento, seja porque deram motivações às críticas.
Como a memética pretende ser uma ciência darwinista da cultura, inseri-la
dentro de suas discussões exige uma abordagem multidisciplinar que vai desde a
biologia até a antropologia cultural, utilizando a capacidade crítica da filosofia
como única disciplina capaz de ligar pontos tão diversos em um todo coeso. Para
possibilitar uma boa compreensão da memética é preciso compreender bem
diversas outras teorias que serão, na medida do possível, explicadas aqui.
Para permitir toda esta longa caminhada, iniciaremos com um capítulo
dedicado exclusivamente à biologia. Infelizmente hoje, 150 anos após a
publicação da Origem das Espécies por Charles Darwin, ainda é preciso explicar a
teoria da evolução e pior, mostrar que ela está correta! Veremos que talvez o
motivo que faz tal teoria ser tão mal ensinada é a sua própria simplicidade
estrutural. Já o motivo que faz com que seja tão atacada é porque ela mostrou um
modo onde podemos ter projeto sem a necessidade de um projetista. Assim sendo,
tal capítulo se iniciará por uma breve análise abstrata e conceitual da teoria da
evolução por seleção natural, que pretende deixar mais clara não só a sua
simplicidade, mas também a própria base do que se convencionou chamar de
20
Darwinismo Universal. No entanto, dada a abragência deste tema só será possível
fazer uma análise mais geral.
Feito isso, será necessário mostrar, contra os críticos, que o darwinismo
não se resume a uma análise abstrata, mas que tem forte conteúdo empírico e que
já foi provado das mais diversas maneiras. Já de posse de conceitos da teoria da
evolução, poderemos analisar vários assuntos da biologia que nunca seriam
entendidos sem ela. Será apresentado um pouco da história da biologia, assim
como alguns desenvolvimentos recentes. Incluem-se aí análises de áreas como a
biologia evolutiva do desenvolvimento, conhecida como evo-devo, as teorias da
herança epigenética, alguns avanços da biologia molecular etc. Dado este
arcabouço teórico, poderemos tratar de questões mais gerais, como qual é a
unidade de seleção (genes, indivíduos, parentesco, grupo ou espécies)? Todas
estas questões são bastante complexas e exigem um aprofundamento que não será
dado aqui. Apenas nos interessará conhecer o suficiente para que possamos fazer
uma análise da memética e de suas críticas.
Uma vez de posse de alguns conceitos da biologia, será possível entrar em
questões que se fizeram bastante presentes no debate atual por causa da
popularidade de dois grande biólogos: Richard Dawkins e Stephen Jay Gould.
Este será o tópico do segundo capítulo. O fato é que eles travaram publicamente
um grande debate sobre determinadas questões internas da biologia. Acontece que
Gould gostava de retratar a si mesmo como crítico do darwinismo adaptacionista e
como oposto a Dawkins, então tal debate tomou proporções descabidas. Mas foi
Dawkins quem criou o conceito de meme e Gould era um crítico dos “exageros do
darwinismo” dentre os quais inclui o darwinismo universal que ele chamou,
pejorativamente, de ultradarwinismo. Mostraremos que, ao invés de tentar
escolher um lado, a melhor resposta à Gould é perceber que não há uma
verdadeira oposição aqui. O que Gould propõe é perfeitamente compreensível
dentro da ortodoxia darwinista. Deve ficar claro de antemão que Gould nunca foi
um crítico da teoria da evolução por seleção natural, ele apenas defendia que
alguns processos ainda não tinham tido a sua devida importância reconhecida, e
muitas vezes ele estava correto em relação a isso.
Cabe ressaltar que muitos dos problemas filosóficos levantados pela biologia
serão apresentados, mas não serão propriamente resolvidos, no máximo algumas
indicações serão dadas. O motivo é que a biologia serve aqui apenas como base
21
teórica para entendermos a memética e, principalmente, para responder algumas
críticas que foram direcionadas a esta. Por este motivo, embora boa parte do
presente trabalho se ocupe da biologia, ela não é o alvo do que está sendo buscado
aqui.
Só depois de uma melhor compreensão da teoria da evolução, e de algumas
questões mais específicas da biologia, será possível entender, no terceiro capítulo,
o conceito de meme, bem como entender como deveria proceder a memética.
Desde o surgimento do conceito de meme muito material foi publicado sobre este
assunto. Infelizmente, com a grande quantidade veio também a baixa qualidade.
Grande parte dos autores não parecem muito preocupados em entender a
memética e ficam somente maravilhados com a idéia dos seres humanos como
robôs comandados por memes perigosos. Há algo de fascinante na capacidade de
comandar a mente alheia. Para fugir desta gama de compreensões equivocadas, o
capítulo sobre memética focará somente nos seus três principais autores, que
servirão de referência para todos os outros: Richard Dawkins, que foi o criador do
conceito de meme; Daniel Dennett, que desenvolveu melhor este conceito, dandolhe toda sua fundamentação filosófica e discutindo pela primeira vez a memética;
e por último, Susan Blackmore, que em seu livro The Meme Machine (1999) fez a
análise mais desenvolvida que temos da memética até agora. Será feita uma
análise crítica de tais autores, mostrando que nem mesmo em Blackmore temos
uma memética bem desenvolvida. Outros autores que trataram sobre os memes
aparecerão em outros capítulos, mas só na medida em que forem necessários.
Nenhum deles faz, junto destes três, a base para o que está sendo trabalhado aqui,
com a possível exceção do filósofo da biologia David Hull, que também fez um
bom desenvolvimento sobre este tema.
Uma vez explicada a memética é comum que muita confusão surja,
principalmente entre críticos de outras abordagens darwinistas da cultura que
insistem, erroneamente, em assimilar a memética a algumas outras teorias que lhe
antecederam. Para deixar clara a completa novidade que é a memética em relação
a estas novas áreas, o quarto capítulo terá como tema distingui-las todas entre si.
As teorias que serão apresentadas são as seguintes: etologia, fenótipo estendido,
sociobiologia, psicologia evolutiva, ecologia comportamental, efeito Baldwin,
herança epigenética, darwinismo social e teorias da co-evolução entre genes e
cultura. Dada esta enorme lista fica claro que não será possível uma visão
22
aprofundada de seus problemas. Tais teorias serão apresentadas, mas visando
somente distingui-las da memética e nada mais. Ficará claro que a grande maioria
delas não é memética por tratar a cultura como geneticamente direcionada. No
entanto, como uma espécie de efeito colateral de distinguir estas teorias da
memética, ficará claro também que muitas delas podem contribuir de diversas
formas para o desenvolvimento desta. A psicologia evolutiva, por exemplo, nos
auxilia na compreensão do ambiente do meme. Já a ecologia comportamental está
fazendo testes rigorosos que mostram como a imitação pode subjugar o instinto no
comando de determinados comportamentos. Talvez o mais interessante será ver
que as teorias da co-evolução como propostas por Cavalli-Sforza e Feldman, e por
Richerson e Boyd, podem ser entendidas como sendo memética.
Tendo deixado claro o que a memética é e o que ela não é, será necessário
tratar de alguns conceitos e começar a levantar algumas críticas que ela tem que
responder. Dois dos conceitos mais importantes para a memética são imitação e
cultura, este último será tratado no quinto capítulo. Além de levantar a origem de
tal conceito, será necessário entrar na complicada tarefa de defini-lo. Como ele já
é tratado pela antropologia, e como a memética pretende estudar praticamente o
mesmo objeto que esta área estuda, este capítulo será dedicado a ela.
Analisaremos alguns poucos conceitos de cultura na busca por algum que possa
ser usado pela memética, também entraremos no embate que normalmente se dá
entre a antropologia e o darwinismo, procurando a sua origem e seus malentendidos. Feito isso, tentaremos amenizar tal debate procurando conceitos da
própria antropologia que tenham seus correlatos na memética ou que possam ser
usados nesta, com o intuito de iniciar um diálogo entre estas duas áreas.
Finalmente sairemos da antropologia cultural para tratar da antropologia física,
especificamente da paleontologia, pois o estudo da evolução do ser humano pode
nos mostrar como a cultura foi decisiva na história evolutiva que nos levou ao
Homo sapiens.
Uma vez apresentado o fato de que a memética se beneficia dos conceitos e
descobertas da antropologia, veremos que ela pode se beneficiar também de
muitas outras áreas do conhecimento, algumas mais antigas do que o próprio
darwinismo. Neste sentido, o sexto capítulo focará em uma área específica que é a
lingüística, mais propriamente a lingüística histórica, ou diacrônica. Veremos que
muitos dos trabalhos desta área, incluindo suas famosas leis da mudança
23
lingüística, e a sua datação pela glotocronologia, podem ser considerados como
muito similares ao que a memética pretende fazer. Neste sentido ela não só tem a
aprender com esta área, mas pode, no futuro, tratar a lingüística como sendo uma
parte de si mesma. Na verdade, não só a lingüística e a antropologia têm fortes
ligações com a memética, mas também a economia, a história, a sociologia, o
design e a publicidade e propaganda etc. A memética pode jogar um novo olhar
sobre todas estas áreas, mostrando que na verdade elas não são distintas e que
uma tem muito a se beneficiar da outra. Assim, a memética poderia encontrar aqui
não só estudos já desenvolvidos que poderiam ser entendidos à sua luz, mas
também a sua base empírica.
No entanto, quando se fala em base empírica da memética os críticos logo
lembram que não sabemos qual é o substrato físico dos memes. Veremos várias
respostas a este problema no último capítulo, mas antes mesmo disso será
apresentado, no sétimo capítulo, um dos mais recentes e revolucionários estudos
das neurociências: o sistema espelho. Tal sistema é formado pelos neurôniosespelho que, ao que tudo indica, são a base da nossa capacidade de imitar e de
compreender os outros. Deste modo, seriam de extrema relevância para o estudo
da memética. Os neurônios-espelho poderiam ser a mais nova base empírica da
memética e poderiam explicar porque alguns comportamentos são mais fáceis de
imitar do que outros.
De posse da estrutura neurológica da imitação será possível estudar, no
oitavo capítulo, este outro conceito tão fundamental para a memética. Além de
suas definições, entraremos nas questões mais propriamente meméticas.
Discutiremos principalmente quais são as diferentes formas de aprendizado e
quais animais são capazes de transmitir cultura. Além disso, uma das discussões
mais importantes para esta área é se os memes só podem ser passados por
imitação ou também por outras formas de aprendizado social.
Já de posse de determinado conhecimento nas mais diversas questões que
envolvem a memética, e a biologia, será finalmente possível tratar das questões
epistemológicas aqui envolvidas. Este será o alvo do nono capítulo, o qual
dependerá de uma boa compreensão de tudo o que foi passado nos capítulos
anteriores. O foco principal deste capítulo será perceber que as chamadas ciências
históricas não foram devidamente tratadas pela filosofia da ciência, que só tratou
detalhadamente das chamadas ciências físicas ou ciências da natureza. Para isso,
24
será questionado o conceito de normatividade na epistemologia, bem como o
pouquíssimo espaço que foi dado à biologia em suas análises da ciência em geral.
Tendo como óbvio que a biologia está hoje entre o que há de melhor nas ciências,
serão apresentadas várias de suas idiossincrasias em relação às ciências naturais,
principalmente o chamado Pensamento Populacional, que nos traz um modo
completamente novo de ver o papel do acaso, da probabilidade e estatística nas
ciências. Veremos que a biologia traz uma nova visão sobre o papel da exceção, o
que implica na dificuldade em utilizar a teoria de Karl Popper nesta área. Dado
como certo que as ciências históricas precisam de uma nova epistemologia para
ser compreendidas, veremos que elas trazem um novo modo de fazer ciência
baseado em narrativas históricas empiricamente fundamentadas e na união entre
diversas disciplinas diferentes. Tal novo modo é melhor compreendido pelo o que
o filósofo da ciência do séc. XIX, William Whewell, chamou de Palaetiologia.
No décimo e último capítulo, já tendo analisado os problemas mais gerais
que são levantados pela memética, e também já tendo uma visão melhor de como
a memética deveria funcionar e qual o seu lugar dentre as ciências, será
finalmente possível tratar de algumas críticas mais particulares que surgiram ao
longo dos anos. Todas as principais críticas que foram feitas contra a memética
serão levantadas aqui e serão analisadas, normalmente de várias maneiras. Serão
analisadas as boas críticas do antropólogo Dan Sperber, bem como várias outras
críticas que foram categorizadas como: críticas a unidade do meme, o problema da
analogia, o problema da ontologia do meme, o problema da mistura, a questão do
genótipo e fenótipo do meme, o problema da homologia na memética, a questão
do lamarckismo e, por último, a questão do sujeito do meme e da criatividade.
Algumas das análises apresentadas aqui foram indicadas em outros lugares, mas
não foram desenvolvidas, já outras são mais específicas do presente trabalho.
Deverá ficar claro que o problema aqui não é responder todas estas críticas, mas
questionar se elas realmente precisam ser respondidas.
No que se segue a maioria dos capítulos foram divididos em seções
temáticas para permitir uma leitura mais objetiva do texto. A ordem dos capítulos
escolhida foi pensada com o intuito de introduzir um leitor interessado, mas que
não conhece nada sobre o assunto. No entanto, os capítulos também foram
pensados para serem largamente independentes entre si, de modo que possam ser
lidos em qualquer ordem, ou mesmo pulando algum capítulo que não interesse.
25
Por este motivo, os conceitos ou idéias presentes em um capítulo, mas que foram
explicados em outro, normalmente contam com uma rápida explicação e com a
indicação de em que seção ele foi explicado melhor. Permite-se, assim, que o
leitor siga o seu caminho pessoal dentro do tema, levando em considerações que
há capítulos mais pesado e difíceis, como o primeiro, o quarto e o último, e
capítulos mais leves a fáceis, como o quinto, o sexto e o oitavo. Muitos temas
diferentes foram tratados, e o leitor pode, a partir de qualquer um deles, iniciar o
caminho que o levará aos outros.
Toda esta longa caminhada em dez passos permitirá ao leitor se inserir nas
principais discussões envolvendo a memética, não só no sentido restrito de quais
são os problemas da memética, mas também no sentido amplo de como ela se
enquadra dentro das ciências, qual a sua relação com a biologia e também com as
diversas ciências humanas e como ela deve proceder para iniciar o seu trabalho
empírico. Tratando tanto dos seus problemas internos quanto das suas relações
externas, o presente trabalho tem a pretensão de analisar filosoficamente uma
parte relevante das críticas que foram apresentadas contra a memética, além de
analisar algumas questões mais gerais que ela levanta. No entanto, ele não se
restringe a uma apresentação do tema, pois é antes de tudo uma defesa da
memética contra seus críticos e até mesmo contra seus defensores pessimistas.
1
Excursões pela Biologia Evolutiva
A filosofia é importante para a biologia porque suas excitantes conclusões não se
seguem apenas dos fatos. Ao mesmo tempo, a biologia é importante para a filosofia
porque essas excitantes conclusões dependem, na verdade, dos fatos biológicos.
Sterelny & Griffths, 1999, p. 5. Minha tradução.
A ligação da memética com a biologia é controversa, mas inquestionável.
Até que ponto as questões e as propostas levantadas a favor e contra a memética
dependem de uma dada interpretação da biologia é um tema que será abordado no
último capítulo do presente trabalho (seção 10.2). Por hora, faz-se necessário a
apresentação e a discussão de uma série de questões relacionadas com a biologia e
a filosofia da biologia que serão imprescindíveis para a compreensão dos temas
tratados. No que se segue não será feita uma separação rigorosa entre os fatos da
biologia como ciência e as interpretações da filosofia da biologia. Tentar fazer tal
separação não nos traria nenhum benefício significativo. Na biologia provavelmente até mais do que nas outras ciências ditas “duras” - esta separação é
ainda mais difícil de fazer por motivos que serão apresentados no nono capítulo
(seção 9.6).
A biologia é hoje uma área extremamente vasta. Até mesmo o estudo mais
restrito sobre a evolução é amplo o suficiente para que uma só pessoa não seja
capaz de compreender as suas inúmeras questões com a profundidade desejável. O
presente capítulo tratará exclusivamente dos temas da biologia evolutiva que
auxiliarão na compreensão da memética e, principalmente, na compreensão das
críticas feitas contra a memética. Por este motivo os temas tratados se encontrarão
irremediavelmente fragmentados. Fizemos um esforço para que, sempre que
possível, os assuntos abordados fossem ligados entre si, evitando a aparência de
um apanhado desconexo de teorias e fatos. No entanto, em alguns casos a ligação
entre duas teorias exigiria uma digressão desnecessária e improdutiva. Nestes
casos, um salto entre uma teoria e outra foi inevitável, mas com o desenvolver dos
27
temas nos próximos capítulos todos os assuntos apresentados aqui se mostrarão
úteis e serão indispensáveis para a compreensão dos argumentos que se seguirão.
Várias questões atuais da filosofia da biologia serão levantadas e
apresentadas, outras tantas serão ignoradas. O fato de algumas questões serem
ignoradas de maneira nenhuma implica que sua importância não é reconhecida.
Somente significa que elas não foram aqui consideradas relevantes para esclarecer
questões relacionadas à memética. Entre as questões ignoradas estão algumas das
mais importantes dentro da biologia como, por exemplo, da existência real ou
nominal das espécies, do surgimento do sexo, dos diferentes conceitos de espécie,
etc. Especificamente sobre esta última questão, o conceito de espécie utilizado
aqui será em grande parte o conceito mais comum entre os evolucionistas que é o
Conceito Biológico de Espécie (CBE). Nas palavras de seu criador, que não se
proclama como tal, este conceito pode ser resumido da seguinte maneira:
“Espécies são grupos de populações naturais intercruzantes permanecendo
reprodutivamente isoladas de outros grupos” (Mayr, 2006, p.29).
No entanto este conceito está longe de ser uma unanimidade e junto com
ele existem pelo menos cerca de 20 outros (cf. Wilson, 1999, p.78), sendo que ao
menos um deles será tratado mais longamente aqui, a saber, o conceito
filogenético de espécies proveniente do cladismo (seção 1.10). Outra questão
muito importante que será ignorada diz respeito as críticas feitas ao
evolucionismo como um todo que foram propostas, principalmente, por
movimentos religiosos e pelo Design Inteligente. Tais críticas normalmente se
baseiam em uma péssima compreensão da biologia e sobre tudo em um deplorável
conhecimento das questões levantadas pela filosofia da ciência. Por mais que se
tente dizer o contrário, não há hoje em dia nenhum questionamento sério sobre a
veracidade da evolução e da seleção natural.
No que se segue será apresentado algo que Sterelny e Griffiths chamaram
convenientemente de “visão recebida da biologia” (1999, p.22. Minha tradução),
ou seja, a visão mais comum e mais estudada do evolucionismo. Não é
exatamente uma visão que esteja linha por linha em algum manual canônico e sim
uma visão espalhada por inúmeros manuais e artigos tanto de biologia quanto de
filosofia da biologia. A própria importância do evolucionismo para a biologia
como um todo faz parte desta dita “visão recebida” e está muito bem representada
na famosa frase de Dobzhansky “nada em biologia faz sentido se não for à luz da
28
evolução”. É a perspectiva mais geral da evolução que une áreas como a
fisiologia, a taxonomia, a embriologia, a citologia, a genética, a sistemática, a
zoologia, a etologia, a ecologia e muitas outras. A grande influência que Darwin
teve foi, em grande parte, justamente devido ao fato de que pela primeira fez foi
possível ver como áreas separadas do estudo da vida estavam ligadas entre si.
Deste modo, a evolução pode ser considerada como o fio que costura todas as
demais áreas da biologia em um todo coeso.
Dizer que a biologia só faz sentido através da evolução não é o mesmo que
dizer que só é possível estudar biologia se você for primeiro um perito em
evolução. Para deixar isso mais claro Ernst Mayr faz a seguinte separação:
A biologia na realidade consiste em dois campos bem diferentes, a biologia
mecanicista (funcional) e a biologia histórica (Mayr, 2005, p.39).
A biologia funcional trata principalmente com a parte física e química dos
seres vivos e é neste sentido que ela é chamada de mecanicista. Embora tais seres
tenham, é claro, uma origem evolutiva, ela pode ser ignorada em certos estudos. A
biologia funcional se preocupa só com o momento presente da história da vida
sem questionar como tal ser chegou neste momento presente. Já a biologia
histórica é eminentemente evolucionista e se preocupa com o acontecimento
histórico de como algo chegou a ser o que é hoje. Uma vez separada a biologia
funcional da biologia histórica, podemos, ainda seguindo Mayr, subdividir esta
em cinco grandes teorias que formam um todo coeso, são elas “evolução
propriamente dita, descendência comum, gradualismo, multiplicação das espécies
e seleção natural” (Mayr, 2005, p.115)4.
A evolução propriamente dita é a constatação de que as espécies mudam,
se transformam. Ela está em oposição à antiga visão das espécies como tendo sido
criadas por Deus do modo como se encontram hoje. Uma vez constatada a
veracidade da evolução, ainda falta descobrir o processo pelo qual esta se dá, a
grande descoberta de Darwin e Wallace foi justamente este processo nomeado de
seleção natural. Em oposição a ela está a famosa herança de características
adquiridas de Lamarck e outros.
4
Gordon Graham (2005, p.42) faz uma separação em 3, são elas, a evolução, a seleção natural e o
gradualismo. Como veremos, esta separação é de fato incompleta.
29
O gradualismo já é um detalhe do processo da seleção natural. Ele nos diz,
como Darwin gostava de afirmar, que a natureza não dá saltos. Em oposição,
encontramos o saltacionismo. A versão mais famosa do saltacionismo é muito
posterior à época de Darwin, são os “monstros promissores” de Goldshimdt: este
acreditava que a evolução se dava aos saltos quando grandes anomalias genéticas
subitamente apareciam. Que grandes saltos acontecem é hoje inegável, não há
também muito questionamento sobre o fato de que a seleção natural poderia atuar
através de grandes saltos. O saltacionismo só não tem um papel relevante na
evolução por causa da improbabilidade gigantesca que uma grande transformação
dê origem a um ser viável vivendo justamente no ambiente que lhe é propício.
Seria esperar que a evolução operasse através de milagres e mais milagres!
Para deixar isso mais claro o grande biólogo R. A. Fisher usou a imagem de
um microscópio que estamos tentando focalizar melhor (cf. Dawkins, 2005,
p.156): um ajuste bem pequeno tem 50% de chance de melhorar o foco, já um
movimento grande muito provavelmente vai piorar o foco, mesmo que esteja na
direção correta, pois tenderá a passar do foco! Com os seres vivos, dizia Fisher, é
exatamente a mesma coisa: estes já estão bem adaptados a um determinado
ambiente, esperar que uma grande mudança crie um outro ser também bem
adaptado seria esperar por um milagre.
A multiplicação das espécies também foi apontada por Darwin com a idéia
de “árvore da vida” para mostrar que as espécies dão origem a outras espécies
diferentes de uma maneira ramificada, espécies dando origem a espécies filhas.
Esta idéia se opõe a uma visão transformacionista linear onde as espécies
evoluem, mas sem ramificação. Já a descendência comum é uma continuação
natural da multiplicação das espécies se voltarmos no tempo. Ela indica que esta
ramificação toda das espécies começou em um único ponto de origem. Podemos
acreditar na multiplicação das espécies sem acreditarmos na origem comum, as
espécies poderiam ter tido múltiplas origens. Mas é difícil acreditar na origem
comum sem acreditar na multiplicação das espécies, embora seja possível, pois se
o gradualismo for negado podemos imaginar que a separação entre as espécies se
deu por saltos, quase como criações independentes, um tipo de geração
espontânea das espécies. Parece ter sido esta a opinião de Hugo de Vries e outros,
que veremos ainda neste capítulo (seção 1.6). No entanto, há algo de inconsistente
em acreditar que todas as espécies tiveram uma origem comum, mas que as
30
espécies não se originaram umas das outras por ramificação. Seria mais razoável
concluir que se a multiplicidade de espécies que encontramos hoje teve a mesma
origem comum, então é porque umas espécies deram origem a outras.
Uma outra importante teoria darwinista, não colocada por Mayr dentro das
cinco já apresentadas, é a da variação intraespecífica. Antes de Darwin era
comum acreditar que a única diferença relevante era aquela entre uma espécie e
outra, as diferenças dentro de uma mesma espécie eram consideradas como erros
insignificantes na cópia de um original comum a todos. Mas Darwin deixou claro
que isto estava errado ao dizer inúmeras vezes dentro da Origem das Espécies que
“as espécies são apenas variedades bem trabalhadas e definidas” (2004, p.70).
Para ele não havia nenhuma diferença essencial entre a variação dentro de uma
determinada espécie e a variação entre espécies, dando origem, assim, ao que é
chamado hoje de Pensamento Populacional. Nas palavras de Douglas Futuyma:
A substituição do essencialismo pela ênfase sobre a variação, feita por Darwin –
que Mayr chamou de pensamento populacional – foi a base de sua teoria e sua
mais revolucionária contribuição à biologia (Futuyma, 2002, p.7).
Hoje em dia é difícil ver a separação entre estas seis teorias, sendo que o
próprio Darwin chamou a sua teoria de “um longo argumento” (Darwin, 2004,
p.481). Mas tais teorias só se uniram definitivamente na chamada “Nova Síntese”,
que se deu entre 1930 e 1940, ou seja, praticamente 80 anos depois de Darwin ter
publicado a Origem das Espécies. Na época de Darwin, e logo após a sua morte,
estas teorias se encontravam separadas e acreditar em algumas delas não
implicava em acreditar nas outras. O caso paradigmático é o de Lamarck, que
acreditava na evolução e no gradualismo, mas não na seleção natural e nem na
multiplicação das espécies. Muitos, inclusive, se consideravam contrários a
Darwin. Na maioria das vezes a sua oposição era contra o princípio de seleção
natural, este sim tipicamente darwinista. Mas mesmo alguns auto declarados
darwinistas, como Thomas Huxley e Charles Lyell, encontravam problemas com a
seleção natural e com o gradualismo (cf. Mayr, 2005, p.128).
O que então unia a visão dos que se autop roclamavam darwinistas era “a
rejeição à idéia de criação especial” (Mayr, 2006, p.99), ou seja, era a convicção
de que todos os processos envolvidos eram processos naturais, sem intervenções
divinas. Em outras palavras, o que os unia era o seu professado naturalismo
31
materialista. Pode parecer estranho, mas foi principalmente Darwin quem
naturalizou a natureza. Para usar os termos de Daniel Dennett, podemos dizer que
o que unia os darwinistas era o seu repúdio aos skyhooks (ganchos imaginários) e
a colocação de gruas (guindastes) no local. Um skyhook seria uma espécie de
gancho proveniente diretamente do céu para auxiliar em algum trabalho de
suspensão qualquer. Já uma grua é um guindaste comum que faz o mesmo
trabalho que o skyhook, mas tem a sua base firmemente colocada no chão. Nas
palavras de Dennett:
Skyhooks são elevadores milagrosos, não-sustentados e insustentáveis. Gruas não
são menos eficientes como elevadores, e possuem a óbvia vantagem de serem reais
(Dennett, 1998, p.78).
Um skyhook é uma solução milagrosa e ad hoc para um problema qualquer
como, por exemplo, dizer que as espécies são distintas “porque Deus quis assim”.
Já uma grua é uma solução fundamentada em princípios naturais e tão justificados
quanto eles podem ser. É uma explicação através de argumentos razoáveis e
empiricamente defensáveis. A rejeição dos skyhooks nas explicações naturais era
justamente o ponto de toque dos primeiros darwinistas, e ainda é o laço que reúne
todos os darwinistas de hoje.
Estes fatos históricos nos ajudam a compreender melhor o cerne do
darwinismo, mas os detalhes da história não são relevantes para o presente
trabalho. O darwinismo que será tratado aqui é o darwinismo proveniente do que
foi chamado de “visão recebida”, que por sua vez tem a origem na chamada
“Nova Síntese”, unindo a evolução gradualista por seleção natural de Darwin com
a genética mendeliana. No que se segue, será primeiro apresentado um esboço
abstrato da teoria da evolução por seleção natural com o intuito de deixar claro os
principais pontos e a simplicidade de tal teoria. Após tal esboço, se seguirá uma
atenção maior aos fatos da biologia de nosso mundo, que corresponderão a maior
parte do presente capítulo.
32
1.1
Um Esboço de uma Teoria
O “ingrediente” fundamental da evolução é, segundo Richard Dawkins, o
que ele chamou de replicador (cf. Dawkins, 2001, p.36): o replicador é um ente
capaz de fazer cópias de si mesmo. Ele é o ser que tem descendentes e é nele que
podemos dizer que a seleção natural age. Os primeiros replicadores
provavelmente foram algo parecido com o RNA, mas não necessariamente. Eles
eram capazes de copiar a si mesmos. Sendo assim seus descendentes herdavam
suas características e, portanto, também eram capazes de copiar a si mesmos. A
hereditariedade é uma característica fundamental dos replicadores. Entretanto,
mesmo os replicadores que são capazes de fazer boas cópias de si mesmos
eventualmente erram no processo e criam seres diferentes de si. Tais erros, que
foram chamados de mutações, acontecem por acaso, ou seja, eles não são
direcionados para nada. É preciso deixar claro aqui que acaso não quer dizer que
elas não são causadas por nada. Existem inúmeros fatores que causam a mutação,
os mutágenos e as substâncias radioativas são as mais conhecidas. Mas o
importante é que nenhuma destas influências é capaz de discriminar qual é a
mutação necessária para um determinado indivíduo em determinado ambiente.
Deste modo, tais mutações são cegas “no sentido de que surgem sem levar em
conta as necessidades dos organismos no momento” (Ruse, 1995, p.35).
Eventualmente, um erro na replicação pode criar um replicador mais
potente. Dawkins enumera três características que tornam um replicador mais
potente, a saber: a fecundidade, que é a capacidade de fazer um maior número de
cópias de si mesmo; a longevidade, que é a capacidade de durar mais no tempo e,
por isso, fazer mais cópias de si mesmo; e a fidelidade, que é a capacidade de
evitar erros durante o processo de cópia, o que garante um maior número de
cópias iguais a si (cf. Dawkins, 2001, p.38). De imediato podemos perceber que o
que realmente importa é a capacidade de fazer boas cópias de si mesmo.
Falta ainda um fator muito importante, para um replicador fazer cópias de si
mesmo ele precisa de “nutrientes” que são adquiridos no meio ambiente. Sem tais
“nutrientes” ele não poderia se replicar. É neste ponto que entra a chamada
seleção natural, uma vez que o número de “nutrientes” é finito. Se este não fosse o
caso até mesmo um péssimo replicador conseguiria o que precisa para criar seus
33
descendentes. É por isso que Michel Ruse nos diz que “se não estiverem nascendo
mais indivíduos do que podem sobreviver e reproduzir não poderá haver seleção”
(Ruse, 1995, p.41). É a possibilidade de escassez de “nutrientes” que cria a “luta
pela sobrevivência”. Tal concepção, que Darwin recebeu de Malthus, é central no
darwinismo: significa que um replicador que tenha uma mutação que lhe dá uma
vantagem sobre os outros vai tender a ter mais descendentes. Um replicador tem
mais descendentes do que os outros porque é mais apto a viver em um
determinado ambiente. Esta é a chamada “sobrevivência dos mais aptos”,
expressão que teve origem com Herbert Spencer e foi posteriormente adotada por
Darwin. No entanto, nem sempre “sobrevivência dos mais aptos” é uma boa
imagem da evolução. Quando não há muita pressão evolutiva como, por exemplo,
mudanças climáticas ou a chegada de um novo predador, uma melhor imagem
poderia ser a “eliminação dos menos aptos”. A diferença aqui está no fato de que
no primeiro caso só um grupo seleto de mais aptos sobrevive, já no segundo caso
só os piores adaptados morrem, mas a grande maioria ainda sobrevive. No caso da
“eliminação dos menos aptos” uma gama considerável de variedades dentro de
uma população ainda permanece existindo.
O que torna os seres mais ou menos aptos são as suas mutações, mas é claro
que uma mutação só pode ser considerada uma vantagem em um determinado
ambiente. Portanto, de nada adianta ser um predador se não há nada para ser
caçado, de nada adianta uma proteção contra o frio em um lugar quente etc. O
importante é saber que tais vantagens são vantagens porque ao possuir uma delas
o replicador será capaz de ter mais descendentes que, por sua vez, também as
herdarão. Tais descendentes inclusive poderão ter novas mutações que lhes
auxiliem ainda mais a ter mais descendentes. Assim, as mutações vão se
acumulando. Isto é o que Dennett chamou de “acumulação de projeto” (Dennett,
1998, p.71). É justamente este processo de acumulação de mutações que se deu o
nome de evolução. Mas é preciso deixar claro que não são os organismos que
evoluem e sim as populações. A evolução é um processo eminentemente
populacional que se dá através da seleção das variações entre indivíduos de uma
população. É neste sentido que ela pode ser vista como a “mudança em
freqüências gênicas em uma população” (Dawkins, 2005, p.126). Alguns genes
se tornam mais comuns no acervo genético (gene pool) de uma determinada
34
população e outros se tornam mais raros. Esta mudança é o que chamamos de
evolução.
A evolução se dá pela seleção natural que nada mais é do que uma diferença
no sucesso replicativo. Nas palavras de Trivers “seleção natural se refere ao
diferente sucesso reprodutivo na natureza, onde sucesso reprodutivo é o número
de descendentes produzidos que sobrevivem” (Trivers, 1985, p.15). Aquele que
tem uma vantagem, que lhe possibilita se replicar mais, torna-se mais comum na
população, ou seja, deixa mais descendentes. Aqueles que se replicam menos
tornam-se mais raros e talvez venham a se extinguir. O último fator que falta para
completar este processo é o tempo para que todo ele se realize.
No caso do nosso mundo os replicadores são feitos de DNA. São eles que
sofrem as mutações e são eles que transmitem as informações da hereditariedade.
Mas hoje em dia não mais nos encontramos naquele “caldo primordial” onde os
primeiros replicadores surgiram. Embora ainda existam DNA que se repliquem
livremente, como o caso dos vírus, a maioria do DNA de nosso mundo se
encontra dentro dos organismos vivos. Na maior parte estes organismos são
unicelulares, porém muitos são pluricelulares. Em tais organismos o replicador,
que é o DNA, é chamado de genótipo e o efeito que este genótipo, e também o
ambiente, têm no organismo é chamado de fenótipo. É através do fenótipo que os
organismos se relacionam entre si e com o meio ambiente.
No começo da vida na Terra alguns replicadores criaram uma membrana
para se proteger, depois outros criaram a habilidade de romper esta membrana,
outros criaram a capacidade de se mover para poder fugir ou para poder atacar e
assim por diante. Em um determinado momento dois replicadores trabalharam em
conjunto e, fazendo isso, cada um aumentou o número de cópias de si mesmo. “A
seleção favoreceu genes que cooperam entre si” (Dawkins, 2001, p.70). Tudo isso,
segundo Dawkins, são “veículos” que os primeiros replicadores criaram para
sobreviver e é exatamente isso que todos os organismos de hoje em dia são,
máquinas de sobrevivência dos genes.5
Embora a mutação se dê ao acaso, podemos observar que a seleção natural
não é um processo aleatório, muito pelo contrário, é um processo selecionador
5
David Hull criou o termo “Interactor” (interagente) para substituir o termo veículo de Dawkins,
no entanto, seguiremos aqui a interpretação de Sterelny e Griffiths e estes dois termos serão
considerados como intercambiáveis (Sterelny & Griffiths, 1999, p.40)
35
bastante rigoroso onde não ser selecionado normalmente significa morte ou, pelo
menos, significa que o indivíduo não será capaz de contribuir com seus
descendentes para uma determinada população. A confusão da evolução com um
processo aleatório é umas das confusões mais comuns, mas a aleatoriedade só está
presente no surgimento das mutações, o que se segue daí é um rigoroso processo
diferencial. É neste sentido que a evolução “conserva o acaso” como dizia Jaques
Monod em seu livro com um título que fazia menção justamente ao problema aqui
tratado, a saber, O Acaso e a Necessidade. Mais recentemente tornou-se comum
falar deste processo como uma “catraca”: “as mutações são adicionadas, mas
nunca são retiradas, daí a analogia com a catraca” (Sterelny & Griffiths, 1999,
p.207. Minha tradução). O “efeito catraca” nos mostra que a evolução se dá
através de retenção de pequenos passos graduais. É justamente esta a
impressionante força da seleção natural: ela pode acumular todas estas pequenas
“sortes” de modo que, com o tempo, o produto final parecerá incrivelmente
improvável. Grande parte das críticas dirigidas à evolução se dá justamente pela
falta de compreensão deste “acúmulo de pequenas sortes”.
A idéia de que a mutação é um processo aleatório talvez tenha a sua origem
em outra idéia errônea, a saber, de que a seleção natural fica esperando as
mutações ocorrerem para que possa atuar. Esta é uma imagem comum da
evolução, mas está em grande parte errada. É claro que a seleção natural pode
atuar em mutações que acabaram de surgir dentro de uma população, mas o mais
comum é que aquela população já conte com uma grande variabilidade e inúmeras
mutações onde a seleção natural atue, se for o caso. Como já vimos ao falar da
divisão realizada por Mayr da idéia de Darwin em cinco teorias, a sexta, que foi
acrescentada aqui, é justamente a da variabilidade intraespecífica. Esta sexta idéia
é essencial para a compreensão da seleção natural.
Ainda é fácil encontrar nos dias atuais pessoas que acreditam que todas as
zebras ou todas as lulas são praticamente iguais. Mas isso não é verdade, elas são
tão distintas entre si como nós somos distintos uns dos outros. Cada uma é um
indivíduo. O motivo de elas serem tão parecidas é duplo: há o fato delas sofrerem
uma pressão seletiva maior, causando uma maior mortalidade nos seres que se
diferenciam muito dos demais. Mas há também o fato de que julgamos baseados
em nosso uso comum dos cinco sentidos. Um ser que seja visualmente muito
semelhante ao outro será considerado como idêntico, mesmo que o cheiro deles
36
seja completamente diferente. Mas se tal ser se distingue pelo cheiro, então eles
mesmos se julgarão completamente diferentes. Morcegos de uma mesma espécie,
por exemplo, costumam ser, para nós, idênticos entre si, pois são visualmente
muito semelhantes, mas, para eles, são completamente diferentes, pois se
identificam pelo som e pelo cheiro. Tão diferentes que certas espécies de morcego
(Desmodus rotundos) são capazes de montar colônias baseadas na capacidade de
um indivíduo reconhecer o outro e retribuir favores.
Isto significa que em praticamente qualquer momento já existe sempre um
grande número de variações para a seleção atuar. Ela não fica simplesmente
esperando uma mutação benéfica ocorrer. Nas palavras de Dawkins:
Existe um enorme poço de variações, originalmente alimentado por um
gotejamento de mutações, mas significativamente revolvido e agitado pela
reprodução sexuada, de modo a originar variações ainda maiores. As variações
surgem a partir das mutações; no entanto, as mutações já podem ser razoavelmente
antigas no momento em que a seleção natural começa a trabalhar nelas (Dawkins,
1998, p.102).
O papel do sexo, citado por ele, é justamente o de separar e unir diferentes
variações achando, assim, os genes que trabalham melhor em conjunto e
descartando variações que não são benéficas, mas que se “aproveitam” de outras
mutações benéficas. Neste sentido o sexo tem um efeito de limpeza do genoma,
pois ao permitir múltiplas combinações de variação ele permite que as melhores
variações se encontrem em um mesmo indivíduo que será fortemente selecionado
justamente por este motivo (cf. Dawkins, 1998, p.99).
Uma vez explicado o que é a seleção natural é preciso deixar claro que ela
não é o único evento capaz de mudar a freqüência gênica de uma população. A
chamada Deriva Genética também pode fazer o mesmo, mas de um outro modo.
Deriva genética é o papel do acaso na sobrevivência dos genes. Um indivíduo
pode ter um gene muito bem adaptado a um determinado ambiente e que
facilmente seria selecionado pelo seu valor adaptativo, mas é perfeitamente
possível que este indivíduo não sobreviva ou não consiga se reproduzir
simplesmente por acaso. Ter um bom gene não é garantia de sobrevivência e
reprodução, por isso “ser melhor adaptado” não quer dizer “produziu mais
descendentes do que a média da população” e sim “capaz de produzir mais
37
descendentes do que a média da população”, mesmo que esta capacidade não
tenha se realizado de fato.
Um gene também pode se tornar mais comum dentro de uma população
simplesmente por acaso: “a deriva genética resulta na perda de variação genética
dentro das populações e na divergência genética entre elas, inteiramente por
acaso” (Futuyma, 2002, p.139). O modo mais conhecido em que isso pode
acontecer é o chamado “efeito do fundador”. Este efeito acontece principalmente
quando um pequeno grupo de uma determinada população é responsável por
fundar uma outra população. Pode ser um pequeno grupo que migrou e acabou
indo para uma área antes desconhecida, pode ser um pequeno grupo sobrevivente
de uma catástrofe que dizimou o resto da espécie, pode ser um grupo que se
separou da população original por causa de alguma mudança climática ou
geológica, ou pode ser simplesmente um grupo que estava agarrado em um tronco
quando este caiu no mar e foi parar em outra ilha. Em todos estes casos o
importante é que, quanto menor o grupo, menor a chance de que ele seja uma
amostra estatística correta da população de onde ele se originou. Isto quer dizer
que quanto menor o grupo maior a chance de que ele tenha mais, ou tenha menos,
um determinado gene se comparado ao grupo original. Deste modo, a população
que será fundada por este grupo se inicia a partir de um acervo genético diferente.
Em um caso extremo, uma única mãe grávida de seu filhote (macho) pode fundar
uma nova população e esta nova população seria geneticamente muito mais
uniforme do que a original pelo simples fato de que toda ela descenderia de um
único indivíduo. Teríamos, então, alguns genes se tornando mais comuns e outros
mais raros por simples acaso e não pela seleção natural.
O efeito do fundador e a deriva genética podem ser mais importantes do
que parecem à primeira vista. Se considerarmos a evolução como uma mudança
nas freqüências dos genes em uma população, então eles são extremamente
importantes. Algumas medidas hoje em dia indicam que cerca de 95% do DNA
humano, por exemplo, não codifica gene nenhum. Da parte do DNA que não
codifica proteínas, algumas codificam RNA e outros são trechos reguladores que
“decidirão” que genes serão transcritos e quando (seção 1.8). Algumas estimativas
sobre a quantidade de genes que codificam proteínas são ainda mais extremas:
38
Estimou-se que, no genoma humano, no máximo 1,5% dos DNA codificam
proteínas. Poucos codificam tRNA, e outros RNA não-traduzidos, mas a maioria
nunca, ou dificilmente, é transcrita, muito menos traduzida (Jablonka & Lamb,
2005, p.52. Minha tradução).
Grande parte do DNA restante é o chamado DNA lixo que está, de certa
maneira, só “pegando uma carona” com o DNA codificador (cf. Ridley, 2006,
p.208). Se tal DNA não produz efeitos sustentáveis, então ele não pode ser
selecionado nem contra, eliminando tal seqüência, nem a favor, fixando uma
determinada seqüência. Ele é invisível para a seleção. Além disso, como veremos
ainda neste capítulo, o código genético é redundante: a mudança em algumas
posições do DNA não significam mudanças nos aminoácidos por ele produzidos.
São as chamadas substituições silenciosas. Isto significa que todas as mutações
sofridas nas tais posições silenciosas serão mantidas, não serão nem selecionadas
nem eliminadas. Tal constatação deu origem a chamada “Teoria Neutra da
Evolução Molecular” de Mooto Kimura. Nas palavras de Dawkins:
Os neutralistas pensam – corretamente, a meu ver – que essas adaptações são a
ponta do iceberg – provavelmente a maior parte da mudança evolutiva, considerada
no nível molecular, é não funcional (Dawkins, 2001, p.397).
Por ser não funcional significa que tais mudanças são explicadas pela
deriva aleatória, elas se dão ao acaso e não por seleção. Como não estão sujeitas a
seleção, devem variar em uma taxa constante. Baseado nisso elas funcionam
como relógios moleculares que podem nos dar o tempo transcorrido desde um
ancestral comum (cf. Futuyma, 2002, p.153). “A evolução molecular parece ter
uma taxa aproximadamente constante por unidade de tempo; considera-se,
portanto, que ela mostra um relógio molecular” (Ridley, 2006, p.194).
Recentemente surgiu também a “Teoria Aproximadamente Neutra” para
tentar resolver alguns problemas da Teoria Neutra. Aquela coloca o tamanho da
população como uma característica relevante. Uma mutação neutra não pode ser
selecionada contra ou a favor, por isso o tamanho populacional não é importante.
Já uma mutação levemente vantajosa, ou levemente desfavorável, depende do
tamanho populacional para continuar existindo ou não. Se a população for
pequena, o seu destino vai ser idêntico ao destino da mutação neutra, pois ela
poderá se fixar, mesmo sendo desvantajosa, simplesmente por deriva aleatória, ou
seja, simplesmente porque um pequeno grupo fundador tinha uma quantidade
39
grande desta mutação por acaso. Já em uma grande população se dará o inverso,
ela não será capaz de se fixar por acaso e, por isso, se comportará como uma
mutação não neutra e será selecionada contra ou a favor (cf. Ridley, 2006, p.201).
É preciso deixar claro que nenhuma das duas teorias nega o papel da seleção
natural, nas palavras de Ridley:
A outra coisa que a teoria neutra da evolução molecular não proclama é que toda
evolução molecular é dirigida pela deriva neutra. Ela diz que a maior parte da
evolução molecular é por deriva neutra. Uma fração importante da evolução
molecular é quase que certamente dirigida pela seleção: a fração da evolução
molecular que ocorre durante a evolução de adaptações (Ridley, 2006, p.187).
Exatamente qual papel a seleção teria é um pouco controverso. Ela poderia
tanto ser uma seleção positiva escolhendo as mutações adaptativas, quanto
negativa simplesmente atuando contra as mutações desvantajosas. Neste segundo
caso ainda seria a deriva que seria responsável pela fixação da mutação positiva.
Ainda a respeito deste segundo caso temos uma visão da seleção natural como
algo que freia a evolução. Se não houvesse seleção natural, a mudança na
freqüência genética de uma população seria tão rápida quanto o ritmo do
surgimento de novas mutações, todas as novas mutações permaneceriam. A
seleção negativa, deste modo, atuaria para frear este ritmo impedindo certas
mudanças. É claro que não podemos negar também a possibilidade da seleção
atuar nos dois papéis. Esta terceira hipótese parece ser a mais provável (cf. Ridley,
2006, p.218).
O exato papel da seleção não é importante no presente trabalho. O
importante é que ela tem um papel não aleatório na fixação ou no descarte de uma
mutação em uma determinada população. O papel da seleção natural só se torna
realmente importante, como vimos, nas mutações adaptativas. A seleção de
adaptações é o que importa para a teoria darwiniana, mas é perfeitamente possível
pensar em um processo de seleção sem adaptação. Um exemplo muito simples de
seleção sem adaptação é escolher algo no cara ou coroa. É um processo de seleção
como qualquer outro, mas o que é selecionado não o é porque está melhor
adaptado a vencer no cara ou coroa, foi selecionado simplesmente por sorte!
Assim como há seleção sem adaptação, há também reprodução sem
hereditariedade. Dawkins usa o exemplo das nuvens: uma nuvem pode produzir
outra. Mas o exemplo mais comum e instrutivo é o do fogo, pois este claramente
40
se reproduz: uma pequena chama pode dar origem a um verdadeiro incêndio de
ordem crescente. Mas o fogo não tem herdabilidade, isto quer dizer que um
determinado fogo iniciado por uma certa chama não tem uma chance maior de se
parecer com esta chama do que ele tem chance de parecer com qualquer outra
chama. O mesmo se dá com as nuvens.
Aqui é preciso deixar claro o que é herdabilidade e, principalmente, como
ela é constatada. Dizemos que certo caractere é herdável quando é passado dos
pais para os filhos, mas ele tem herdabilidade quando a prole se parece mais com
seus pais do que com os contemporâneos de seus pais em relação a este caractere.
Para medi-la é preciso uma população onde certos indivíduos têm uma
determinada característica e outros não. Se só os filhos dos indivíduos que têm
esta característica apresentam a mesma característica, então a herdabilidade é
máxima. Caso contrário, caso ela possa aparecer em qualquer indivíduo com a
mesma probabilidade, então ela não tem nenhuma herdabilidade. Entre estes dois
extremos temos os diferentes graus de herdabilidade. (cf. Sterelny & Griffiths,
1999, p.35). “A herdabilidade, portanto, é a extensão quantitativa na qual a
descendência se assemelha aos seus progenitores, em relação à média da
população” (Ridley, 2006, p.364).
Deste modo, se um determinado caractere herdável já estiver presente em
toda a população dizemos que sua herdabilidade é zero, pois, no que diz respeito a
este caractere, os filhos de um determinado pai serão idênticos aos filhos do resto
da população. Ele é hereditário, mas não influencia a medida da herdabilidade. A
herdabilidade não mede exatamente a hereditariedade, mas sim até que ponto
diferenças genéticas ocasionam diferenças fenotípicas em uma determinada
população. Se todos indivíduos de uma população tiverem a mesma dieta e forem
medir a herdabilidade da obesidade, por exemplo, a diferença entre indivíduos
será exclusivamente genética, ou seja, a herdabilidade será alta, mas se a dieta
variar muito a diferença será mais ambiental do que genética, a herdabilidade será
baixa (cf. Laland & Brown, 2002, p.267). Deste modo, se a herdabilidade de um
caractere for zero, não quer dizer que ele não seja hereditário, mas somente que
sua variação não depende da hereditariedade. No entanto, se houver algum valor
de herdabilidade, isso significa que tal caractere é sim herdável. Podemos, assim,
usá-la como uma boa medida da importância dos genes em um ambiente estável,
41
mas também pode funcionar como prova de que um determinado caractere é
herdado (cf. Ridley, 2006, p.614).
É deste modo que a herdabilidade é constatada de fato, e não através da
observação microscópica da reprodução, onde o biólogo deveria ver os
cromossomos dos pais de fato criando os filhos. O mesmo se dá com a genética
quantitativa ou genética populacional. Estuda-se o genoma, mas sem
necessariamente olhá-lo diretamente. Seria possível estudar as mudanças
genéticas de uma população estudando os genomas de todos os indivíduos em
vários lapsos de tempo, mas isso é completamente impraticável dado o tamanho
do trabalho. Teríamos que fazer um mapeamento genético do gene estudado em
todos os indivíduos de uma população e em vários momentos distintos para saber
se tal gene está sendo selecionado contra, a favor, ou nenhum dos dois. Mas na
prática o que se estuda são os fenótipos e, através deles, os genes. Nas palavras de
Maynard-Smith:
Uma das grandes dificuldades da genética das populações é que nossa teoria tem a
ver com a freqüência dos genes e dos genótipos nas populações, enquanto que
nossas observações dizem respeito a fenótipos. Só muito raramente é que
conhecemos as bases genéticas das diferenças fenotípicas que observamos
(Maynard-Smith 1993, p.184. Minha tradução).
Estuda-se os genótipos, mas indiretamente. É este estudo que nos dá o
diferencial ou coeficiente de seleção chamado de s. Resumidamente o
procedimento é assim: escolhe-se um traço fenotípico qualquer, por exemplo, o
tamanho do bico de certo pássaro. Mede-se o tamanho do bico de vários
indivíduos dentro de uma determinada população e depois repete-se várias vezes
esta mesma medição prestando atenção para a diferença no tamanhos dos bicos e
para a sobrevivência dos indivíduos marcados. Se, por exemplo, em uma próxima
medição forem encontrados mais indivíduos com bicos longos e for notado que
um número proporcionalmente maior de indivíduos com bicos curtos marcados
morreu, então podemos constatar que há uma pressão seletiva para bicos longos.
Quanto maior for o diferencial entre as duas medições, maior a intensidade da
seleção. Assim podemos ver como a seleção natural está afetando o tamanho dos
bicos e com que intensidade ela está afetando. Nas palavras de Ridley:
Se os indivíduos bem-sucedidos forem muito diferentes dos indivíduos médios na
população, a seleção será forte e o diferencial de seleção (S) será grande. Se a
42
seleção for fraca, os indivíduos bem-sucedidos serão mais como uma amostra
aleatória da população como um todo e S será pequeno (Ridley, 2006, p.268)
Um exemplo simples de como isso se dá, e que nos mostra o poder da
seleção natural, foi dado por Sean Carroll. Ele nos diz que um indivíduo que é
apenas 1% melhor adaptado do que a média de sua população, sendo que esta sua
adaptação é perfeitamente herdável e sendo a população é de 10.000 indivíduos,
serão necessárias cerca de 1.980 gerações para que esta mutação se dissemine por
toda a sua população, ou seja, para que este gene seja fixado. Se tais indivíduos
forem camundongos, ou qualquer outro ser que possua uma geração de cerca de 1
ano, então esta mutação estará fixada em 2.000 anos! Um tempo geologicamente
ínfimo para uma mutação que só era levemente benéfica (cf. Carroll, 2006, p.220).
1.2
O Esqueleto da Evolução: o darwinismo universal
Se não for possível que os filhos pareçam mais com os pais do que com a
média da população, então nem a seleção natural e nem a evolução adaptativa é
possível. A característica que permite todo este processo é justamente a
reprodução com herdabilidade. É por este motivo que Dawkins coloca no início
de todo o processo de evolução o chamado replicador. Embora seja importante
saber qual foi este primeiro replicador e como ele surgiu, o mais importante é
perceber que uma vez que ele surja, teremos um processo de evolução por seleção
natural. Aqui surge o foco do chamado Darwinismo Universal, o importante do
gene não é que ele é uma cadeia de DNA é sim que ele é um replicador. Deste
modo, se ele fosse feito de outra substância, que também pudesse se replicar, ele
também seria alvo da seleção natural e, por conseguinte, da evolução. É neste
sentido que o ultradarwinismo quer ultrapassar as barreiras do darwinismo.
Para o darwinismo universal o darwinismo não se restringe a um estudo da
biologia do nosso planeta.
Nas palavras de Pinker, o darwinismo universal
defende que:
A seleção natural não é só a melhor teoria da evolução da vida na terra, mas quase
com certeza é a melhor teoria da evolução da vida em qualquer lugar do universo.
(Pinker, 2006, p.132)
43
Onde houver um replicador capaz de passar suas características para seus
descendentes e houver um suprimento finito de “nutrientes” necessários para a
replicação, ocorrerá a seleção natural e, por conseguinte, a evolução. Isto quer
dizer que a evolução não depende do substrato biológico aqui da Terra, ela pode
se dar em outros planetas, com outros substratos. Como nos diz Dennett “As
idéias de Darwin sobre os poderes da seleção natural também podem ser retiradas
de sua base biológica” (Dennett, 1998, p.60). Com isso ele não está querendo
dizer que tais idéias podem ser aplicadas só a outros planetas e sim aplicadas a
qualquer ambiente onde existirem outros replicadores. Nas palavras de Dawkins
“o darwinismo é uma teoria grande demais para ser confinada ao contexto
limitado do gene” (Dawkins, 2001, p.213).
Concordando com Dawkins, Dennett diz que a evolução é algorítmica.
Segundo Dennett, “algoritmo é um tipo de processo formal no qual se pode
confiar – logicamente – que produza uma determinada espécie de resultado
sempre que for ‘posto para funcionar’” (Dennett, 1998, p.52). Ele é um
procedimento que pode ser dividido em pequenas etapas, simples o suficiente para
um mecanismo completamente mecânico o seguir e chegar sempre ao mesmo
resultado. No entanto, com isso ele não quer de maneira nenhuma afirmar que a
evolução é sempre direcionada a um mesmo resultado, o importante aqui é que ela
é neutra em relação ao substrato, ou seja, pode ser implementada em qualquer
substrato que a suporte. Do mesmo modo, um torneio de tênis ou de cara e coroa
terá sempre um ganhador, mas isso não quer dizer que será sempre o mesmo
ganhador, e no caso do torneio de cara e coroa sequer quer dizer que ele ganhará
por alguma característica que lhe é própria. Ele ganhará simplesmente porque tem
que haver um ganhador!
Dawkins e Dennett continuam com a proposta ultradarwinista de levar as
idéias de Darwin para além da biologia. Mas esta idéia está longe de ser nova.
Não muito tempo depois do surgimento do darwinismo, Thomas H. Huxley, um
de seus principais defensores, já dizia que
(...) a luta pela existência prevalece tanto no mundo físico quanto no mundo
intelectual. Uma teoria é uma forma de pensamento, e seu direito de existir está
diretamente relacionado ao seu poder de resistir à extinção pelos seus opositores
(Huxley 1893, 229 in: Ruse, 1995, p.68).
44
Para ele as idéias lutavam pela existência, assim como os indivíduos, e as
idéias mais aptas sobreviviam. Assim, o algoritmo da evolução darwinista estava
sendo aplicado ao “mundo intelectual”. Mais recentemente Karl Popper defendeu
uma proposta semelhante ao propor sua epistemologia evolucionária. Nas palavras
de Popper:
(...) o crescimento de nosso conhecimento é o resultado de um processo
estreitamente semelhante ao que Darwin chamou de ‘seleção natural’; isto é, a
seleção natural de hipóteses: nosso conhecimento consiste, a cada momento,
daquelas hipóteses que mostraram sua aptidão (comparativa) para sobreviver até
agora em sua luta pela existência, uma luta de competição que elimina aquelas
hipóteses que são incapazes.
Esta interpretação pode ser aplicada ao conhecimento animal, ao conhecimento précientífico e ao conhecimento científico (Popper, 1975, p.238).
A epistemologia evolucionária de Popper foi só uma das tentativas de
aplicar os princípios de Darwin ao conhecimento humano, outras tentativas
surgiram6. Mas o importante aqui é perceber que em todos estes casos o
darwinismo foi retirado de suas bases biológicas e tratado como um processo que
será realizado sempre que certas condições estejam presentes.
Mesmo dentre aqueles que não defendem claramente que a evolução é um
processo algorítmico é comum encontrar o que eles chamam de um “resumo
abstrato” da evolução onde ela é “abstratamente compreendida como um
argumento lógico, que leva das premissas a uma conclusão” (Ridley, 2006,
p.104). Ridley nos apresenta quatro condições fundamentais para a existência da
seleção natural: reprodução, hereditariedade, variação, variação da aptidão
(algumas variações serão melhores do que outras). Até Darwin fez o seu pequeno
resumo abstrato da seleção natural:
Como nascem muito mais indivíduos de cada espécie e que não conseguem
subsistir; como, por conseqüência, a luta pela sobrevivência se renova a cada
instante, segue-se que todo o ser que varia, ainda que pouco, de maneira a tornarse-lhe aproveitável tal variação, tem maior probabilidade de sobreviver, este ser
torna-se também objeto de seleção natural. Em virtude do princípio poderoso da
hereditariedade, toda variedade, agente da seleção, tenderá a propagar sua nova
forma modificada (Darwin, 2004, p.19-20).
Embora seja fácil ler este trecho pensando especificamente em seres vivos
evoluindo, e provavelmente era nisso que Darwin pensava, é possível notar que
6
Para mais informações sobre outros que seguiram caminhos semelhantes ver: Ruse, 1983, p.71.
Para mais informações sobre a epistemologia evolucionária de Popper ver: Popper, 1999, p.54.
45
ele não faz referências específicas e que poderia estar falando de qualquer outra
coisa capaz de se reproduzir e com aptidão variável. Isto fica claro na forma de
argumento lógico que Darwin escolheu para este trecho ao usar as palavras
“como... como... segue-se...”. Esta separação da evolução da sua base biológica é
muito comum e inúmeros outros exemplos poderiam ser dados (cf. MaynardSmith, 1993, p.43 - 44 & Dawkins, 2001 p.193 - 194). Todos eles são muito
parecidos e em última instância se resumem a isso:
Se uma população variada de entidades produz descendentes semelhantes a si, e se
essas entidades diferem em adaptatividade, a seleção deverá gerar alterações
evolutivas nessa população independentemente do tipo de entidade em questão
(Sterelny & Griffiths, 1999, p.41. Minha tradução).
Curiosamente, é comum que estes resumos abstratos esqueçam de dois
tópicos importantes: é preciso que exista uma falta de recursos para a reprodução.
Se a quantidade de recursos for infinita até um indivíduo que não esteja bem
adaptado poderá sobreviver. Também é preciso tempo para que todo este processo
se realize. Este último parece ser óbvio: ninguém defende que a evolução se dê
instantaneamente. No entanto o tempo transcorrido pode ser menor do que o
exigido pela evolução e, neste caso, não poderá ter sido ela a causadora das
mudanças.
Vemos então que existem algumas condições necessárias em todo processo
de evolução por seleção natural, são elas: reprodução com herdabilidade7,
variação intraespecífica, possibilidade do surgimento de novas mutações, aptidão
diferencial, falta de recurso para a reprodução, tempo para o processo ocorrer.
Na presença destas condições a seleção natural acontece e, consequentemente, a
evolução. Como os recursos são escassos, aqueles indivíduos de uma população
variável que forem mais aptos tenderão a ter mais descendentes e, como suas
aptidões são herdáveis, sua prole também será mais apta. Tal prole poderá ter
novas mutações que lhes torne ainda mais apta criando, assim, um processo de
acumulação de mutações que se convencionou chamar de evolução.
No entanto, nem todos concordam com esta algoritmização da biologia.
Para Gould é um erro hediondo tentar levar o darwinismo para além da biologia.
O problema é que ele não nos diz o que o substrato biológico tem de especial para
7
Não basta o caractere ser herdável, ele precisa ter alguma herdabilidade, ou seja, precisa criar
algum diferencial fenotípico na população para que possa ser selecionado ou não.
46
garantir que ele é o único substrato em que o darwinismo possa ser aplicado.
Parece difícil, mas não impossível, defender que a evolução e a seleção natural
são restritas ao substrato biológico sem defender um certo tipo de vitalismo, uma
certa propriedade mágica da biologia que não poderia ser caracterizada pelo que
faz, pelo seu funcionamento. Pois tudo que pode ser caracterizado pelo seu
funcionamento pode ser retirado do seu substrato e implementado em outro que o
suporte. Gould acaba se encontrando em um lugar parecido com o de John Searle
na filosofia da mente: este se diz um materialista não funcionalista, mas dá ao
cérebro uma capacidade especial de ter uma consciência intencional subjetiva que
não pode ser realizada por nenhum outro substrato e nem estudada cientificamente
utilizando uma linguagem objetiva. Searle considera que cabe aos funcionalistas
provar que seres sem cérebros, computadores, por exemplo, seriam capazes de ter
mente. No entanto defender que só os cérebros podem ter mentes é também uma
posição muito forte, ainda mais se tais mentes tiverem estranhas propriedades
desconhecidas pela ciência que seriam propriedades intrínsecas subjetivas
inescrutáveis por um ponto de vista de terceira pessoa! Tal afirmação sobre uma
possível característica peculiar do cérebro é muito forte para ser considerada a
“posição padrão” enquanto somente a sua opositora que deveria ser capaz de
prová-la errada. Não é sem razão que Searle é considerado por muitos como um
dualista de propriedades.
Assim como Gould não se diz vitalista, Searle também não se diz dualista,
mas ambos não são capazes de dizer o que há de especial no substrato que
consideram como sendo o único capaz de implementar tal característica tão
peculiar. Podemos então dizer que a resposta de Gould não é satisfatória.
Simplesmente negar a universalização do darwinismo sem dizer o que o substrato
biológico teria de especial para ser único não é o suficiente.
A despeito das críticas contra este tipo de abstração do processo evolutivo,
a força de tal processo compreendido de maneira abstrata é utilizada hoje para
explicar inúmeros outros processos, dentre eles a memética. Mas mesmo ainda
dentro da área da biologia ele é utilizado para explicar outros processos como, por
exemplo, o sistema imune. Este parece funcionar de uma maneira análoga à
evolução por seleção natural. Sabemos que o que mais importa na relação de um
anticorpo e seu antígeno é a sua forma tridimensional, seguindo o termo técnico
47
devemos dizer que o que importa são suas propriedades estereoespecíficas, “isto
é, sua capacidade de ‘reconhecer’ outras moléculas (...) segundo a sua forma, a
qual é determinada por sua estrutura molecular” (Monod, 2006, p.58). A relação
entre o antígeno e o anticorpo é semelhante à relação entre uma chave e uma
fechadura. No entanto, a forma original do anticorpo não se deve a forma do
antígeno, os anticorpos são produzidos aleatoriamente em variadas formas, o
antígeno serve, então, como seletor destas formas. As formas que encontram seu
antígeno se multiplicam e tornam-se mais comuns, e as que não encontram
tornam-se mais raras (cf. Monod, 2006, p.125 - 126). Baseado nisso é que surgem
as vacinas, elas têm a forma do antígeno na parte em que o anticorpo se liga a ela,
mas não são capazes de adoecer um indivíduo. Ao aplicar uma vacina você está
selecionando certos tipos de anticorpos em um processo muito parecido com a
seleção artificial (seção 1.3.1).
Um outro intrigante caso de auto-replicação que provém da biologia, mas
sem ligação com os nossos replicadores mais conhecidos que são o DNA e o
RNA, são os príons. Os príons são proteínas que fazem parte do funcionamento
celular normal em mamíferos, por exemplo. Entretanto existe uma forma
aberrante desta proteína que é capaz de fazer cópias de si mesmo transformando
por contato os príons normais em príons aberrantes, modificando sua forma
tridimensional (cf. Aunger, 2002). Como os príons estão presentes nas células
cerebrais, as doenças que a forma aberrante gera normalmente são
neurodegenerativas, dentre as quais a mais conhecida é a doença da vaca-louca
(encefalite espongiforme bovina). O principal estudioso dos príons, Stanley B.
Prusiner, inclusive ganhou o prêmio Nobel de medicina em 1997 por suas
pesquisas. Temos, então, um replicador inusitado, e há até pouco tempo
desconhecido dentro da própria biologia. Há, como é comum nas ciências,
controvérsias sobre os príons, no entanto, nos últimos anos muitas evidências a
favor desta hipótese foram reunidas a este respeito (cf. Soto & Castilla, 2004) .
Um outro processo onde a estrutura abstrata da seleção natural desempenha
um papel diz respeito a origem da vida como apresentada por Cairns-Smith.
Segundo o autor, os cristais, como os encontrados na argila e no barro, são um
conjunto ordenado de átomos que tendem a se aglomerar nesta forma ordenada.
Por mais ordenado que eles sejam, podem existir pequenas falhas na sua
48
ordenação. O que é interessante é que eles podem crescer. Fazem isso agregando
novas camadas da mesma substância seguindo sempre a mesma ordenação. Se
tivermos, por exemplo, uma solução supersaturada de hipossulfito de sódio
dissolvida em água e colocarmos um pequeno cristal em sua superfície podemos
ver a olho nu a formação de vários cristais semelhantes em sua ordenação (cf.
Dawkins, 2001, p.224).
De certa maneira o cristal se reproduziu e até apresenta herdabilidade, pois
se o cristal original com que a solução foi semeada tiver algum falha, os novos
cristais que surgirão tendem a ter esta mesma falha. É possível que algumas falhas
tornem os cristais mais capazes de se reproduzir, podendo torná-los mais leves ou
mais rápidos em sua reprodução etc. Teríamos, então, uma espécie de seleção
natural dos cristais. Cairns-Smith une esta interessante perspectiva com uma
relação química conhecida entre os cristais e certas moléculas orgânicas para
propor uma explicação plausível para o surgimento da vida orgânica. No entanto,
os detalhes da teoria de Cairns-Smith não nos interessam aqui, o que é importante
é que neste caso os cristais é que são os primeiros replicadores, o DNA e o RNA é
que teriam se originado depois e por intermédio deles. Sendo replicadores, os
cristais poderiam sofrer um processo de seleção natural, é claro que extremamente
simples, pois a estrutura dos cristais é muito organizada e infinitamente repetitiva.
Além disso, a sua quantidade de informação é muito inferior a do mais simples ser
vivo, no entanto, esta seria só uma separação quantitativa (cf. Monod, 2006, p.31).
A teoria de Cairns-Smith é só uma tentativa de explicar a origem da vida.
Existem várias outras e a maioria começa com o surgimento de um replicador8. O
fato de que um replicador não precisa ser necessariamente algo que consideramos
como um ser vivo é demonstrado também pelos vírus e bacteriófagos. Estas são
entidades que estão no limiar do que chamamos de vida. Alguns autores as
consideram como vivas e outros não, mas independentemente disso elas são
capazes de se replicar. Como são extremamente simples elas não têm nelas
mesmas todos os instrumentos necessários para a replicação, então dependem dos
8
Isto não é verdade para a teoria de Stuart Kauffman. A idéia fundamental dele é que sistemas
complexos podem emergir automaticamente através da interação de unidades simples. Seria uma
espécie de auto-organização que não dependeria de pré-existência de um replicador (cf. Sterelny &
Griffiths, 2006 p.370 - 371). Mas por mais matematicamente interessante que seja a sua teoria, ela
não conta com muitas evidências empíricas e também não refuta a idéia da evolução como um
algoritmo. Ela somente dá outra explicação para o surgimento da vida onde a auto-organização
desempenha um papel relevante, mas a replicação, uma vez que tenha surgido, tem o seu papel
redimensionado, mas não perdido (Dennett, 1998, p.235).
49
mecanismos metabólicos de outros seres que elas invadem e “seqüestram”. Os
bacteriófagos, por exemplos, são pedaços de DNA revestidos por uma camada de
proteína. Para se copiar eles precisam infectar uma bactéria e utilizar os seus
processos metabólicos. Um exemplo dado por Behe é o do fago:
O ADN do fago é bem pequeno, contendo a codificação de apenas uns cinqüenta
genes. Esse número não é suficiente para criar sua própria maquinaria de
replicação, de modo que, inteligentemente (sic.), o fago seqüestra a maquinaria
hospedeira. O fago, portanto, é incapaz de sustentar-se por si mesmo (Behe, 1997,
p.271).
Vemos, então, que eles não possuem a capacidade de se replicar por conta
própria, mas possuem herdabilidade e possuem também variação que implica em
uma aptidão diferencial. Deste modo, temos os principais componentes para que o
fago entre em um processo evolutivo por seleção natural mesmo não sendo
necessariamente vivo e mesmo não sendo capaz de copiar a si mesmo. Fazem
parte do ambiente do fago outros indivíduos, estes sim capazes de copiar a si
mesmos e de replicar o fago, e os fagos competem por este recurso imprescindível
para a sua replicação.
Um último exemplo de um possível processo de seleção natural que será
dado aqui é justamente o mais distante da biologia. Lee Smolin aplicou a seleção
natural ao surgimento de universos, defendendo a idéia de que universos podem
se reproduzir em universos filhos dentro de buracos negros. Nestes universos
filhos as constantes da física poderiam variar levemente. Deste modo, qualquer
variação que implicasse em um aumento de probabilidade de surgirem novos
buracos negros seria selecionada (cf. Dennett, 1998, p.185). Tal idéia é
empiricamente muito difícil de provar, mas o que nos interessa aqui é só observar
como a mesma estrutura geral da seleção natural biológica está sendo aplicada em
diferentes níveis não biológicos. Nas palavras de Futuyma:
Pelo menos teoricamente, a seleção pode atuar sempre que diferentes tipos de
entidades auto-reprodutoras, que geram descendentes semelhantes a elas próprias,
difiram em suas taxas de sobrevivência ou reprodução (Futuyma, 2002, p.160).
Para isso só precisamos de um ente qualquer, biológico ou não, capaz de
fazer cópias de si mesmo inserido em um ambiente propício para este processo.
Suas cópias serão, por definição, também capazes de fazer cópias de si. Durante
este processo erros podem ocorrer, sendo que eventualmente alguns erros podem
50
criar um indivíduo mais capaz de fazer cópias de si em comparação com os
outros. Se o número de “nutrientes” necessários para realizar este processo for
finito, então os indivíduos mais capazes tenderão a se tornar mais comuns e os
menos capazes tenderão a desaparecer. Com o tempo novos erros de cópia
surgirão e se tornarão comuns se forem benéficos, isto é, se criarem indivíduos
mais capazes de fazer cópias de si do que a média da população.
Temos, então, construído o esqueleto de como se dá a evolução por
seleção natural. Sempre que todas as propriedades exigidas pela seleção estejam
presentes ela se dará, não importa se o ser capaz de se reproduzir seja um ser vivo
ou não, ou seja, a seleção natural não se encontra, por princípio, restrita ao
domínio da biologia, embora seja possível dizer que em nosso mundo ela de fato
só atue neste domínio. Na verdade, os críticos da seleção natural podem até dizer
que nem mesmo no domínio da biologia ela atua.
1.3
A Carne da Evolução
Uma vez tendo delineado as principais juntas do esqueleto da evolução por
seleção natural, podemos voltar e ver se este resumo abstrato realmente tem
alguma instanciação em nosso mundo. O lugar para se procurar esta
“materialização” é o mais óbvio: o mundo vivo. Pretendemos aqui mostrar que a
evolução por seleção natural, além de ser um argumento bastante plausível por
conta própria, realmente acontece em nosso mundo natural. Mas com isso não
será feita uma longa defesa da evolução darwiniana, uma espécie de respostas aos
seus críticos. Como já foi dito, tais críticas, propostas principalmente pelo Design
Inteligente, não são relevantes. O propósito desta seção é apenas uma rápida
constatação de que a evolução é um fato do nosso mundo, e com isso pretendemos
apresentar que tipo de provas são necessárias para constatar a veracidade da
seleção natural.
Muitas são as evidências da seleção natural, o próprio Darwin nos
apresentou as principais e foi principalmente por esta apresentação detalhada que
seu livro teve tamanho sucesso e que seu nome ficou em destaque, obscurecendo
51
o nome de Wallace, que também tinha chegado a uma espécie de resumo abstrato
da seleção. Não faremos uma análise da visão histórica de Darwin. As evidências
da evolução ficaram muito mais claras desde sua época e o que está sendo tratado
aqui é a chamada “visão recebida” da evolução.
1.3.1
Seleção Artificial e Seleção Inconsciente
Uma das evidências mais marcantes, por nos ser tão próxima, é a que
provém da seleção artificial. Qualquer um que tenha um animal doméstico
encontra diariamente uma prova do poder da seleção artificial. Um caso
conhecido é o dos cães que em poucos milhares, e em alguns casos centenas de
anos, passaram dos lobos para as mais variadas formas de cães de todos os tipos e
de todos os tamanhos. Este foi um processo presenciado e realizado pelo homem.
Em alguns casos, não foi realizado por seleção artificial e sim por seleção
inconsciente. A diferença é pequena, mas relevante: na seleção artificial existe o
desejo consciente do homem de buscar por alguma nova variedade, ele, então,
reproduz somente os animais mais parecidos com esta variedade. É o tipo de
seleção mais comum em animais que são usados como meio de subsistência como
cavalos, gado, peixes, etc. Nestes casos o criador escolhe só os seus melhores
indivíduos para procriar, onde o que se considera “melhor” depende
completamente dos critérios do criador. Já na seleção inconsciente há a mesma
reprodução diferencial, mas quem causa esta reprodução não está visando criar
uma nova variedade, simplesmente a cria como uma espécie de subproduto de
gostar mais de um tipo de indivíduo do que de outro (cf. Darwin, 2004, p.47). Um
indivíduo pode, por exemplo, tratar melhor os cães que ele mais gosta,
aumentando assim a saúde e a expectativa de vida deles e, consequentemente,
aumentando o seu sucesso reprodutivo. Se isso for feito por muitas gerações é
bastante provável que ocorra um processo de seleção, mesmo que o indivíduo
nunca tivesse este processo em mente. Ele somente tratou bem os cães que ele
gostava e não se importou muito com os que ele não gostava.
A seleção artificial também pode ser reproduzida em laboratório: em um
grupo de ratos, por exemplo, permite-se a reprodução somente de uma minoria
52
com um determinado caractere, se ele for herdável as novas populações
produzidas por seleção artificial rapidamente apresentarão este caractere em sua
média. Já a seleção inconsciente também é muito comum. Um caso paradigmático
é o do HIV. Quando ele é tratado com 3TC sua população decresce bastante em
número, porém alguns dias depois já é possível detectar HIV resistente ao 3TC e,
em 80% dos pacientes, a população de HIV logo se torna completamente
resistente ao 3TC (cf. Ridley, 2006, p.68). O mesmo exemplo também acontece
de maneira cotidiana nas pragas agrícolas resistentes a inseticidas. Neste caso
ainda há uma piora, pois cada vez que um novo inseticida é desenvolvido e
aplicado, mais rapidamente as pragas se adaptam a ele. A explicação comum desta
aceleração na adaptação é que as pragas acabam desenvolvendo adaptações que
lhes permitem sobreviver no meio de vários tipos de inseticidas diferentes como,
por exemplo, técnicas de autolimpeza. A seleção inconsciente também é
responsável pela diminuição do tamanho dos peixes em certos rios do Brasil.
Como há um tamanho mínimo que certas espécies podem ser pescadas, há uma
forte pressão seletiva para não ter o tamanho autorizado para a pesca.
A seleção artificial é considerada diferente da seleção natural porque nela o
desejo de um ser humano desempenha o papel de selecionador. Já a seleção
inconsciente é mais parecida com a seleção natural, só com a diferença de que
nela o homem é o selecionador, mesmo sem saber disso. No entanto não é só o
homem que é capaz de ser o agente da seleção inconsciente. As frutas das árvores
servem para espalhar suas sementes, fazem isso através de animais que as comem.
Quanto mais saborosa e nutritiva for a fruta, maior é a probabilidade de um
animal espalhar as suas sementes. Cria-se, assim, uma espécie de seleção
inconsciente pelo sabor da fruta onde o paladar do animal pode ser considerado
como seletor. Podemos, então, considerar que o paladar do animal faz parte do
ambiente ao qual a fruta deve se adaptar, uma fruta com gosto ruim não está bem
adaptada a este ambiente e vai ser descartada, não produzindo muitos
descendentes. Evidentemente existem casos em que frutas com o gosto ruim
podem, também, ser uma adaptação, mas de qualquer modo, seriam uma
adaptação ao paladar de animais, então não muda nada no que está sendo dito
aqui.
Se podemos tratar o paladar de um animal como o ambiente das frutas, não
há motivos, baseados em princípios, para não tratar o desejo do homem de ter um
53
gado com mais leite, ou com uma carne mais macia, também como parte do
ambiente do gado. Aquele que produzir mais leite, por exemplo, será selecionado
e deixará mais descendentes. Dito isso podemos perceber que não há nenhuma
real diferença entre a seleção natural e a seleção inconsciente ou a artificial. Em
todas elas o organismo que estiver melhor adaptado ao seu ambiente terá mais
chances de se reproduzir. Podemos considerar, então, a seleção artificial e a
seleção inconsciente só como casos especiais da seleção natural onde um outro
indivíduo representa um papel fundamental como ambiente.
Visto deste modo, a seleção natural está muito mais presente em nossas
vidas do que podemos esperar. Está nas formigas, baratas, ratos e pombos que se
adaptaram para viver às nossas custas. Está nas árvores nas nossas calçadas que
são escolhidas tendo o critério de raízes que não prejudicam o calçamento. Está
também nos nossos animais de estimação e nas plantas da nossa casa.
1.3.2
Espécies-Anel e Poliploidia
Fazem parte das evidências da evolução os fatos que mostram que duas
espécies distintas podem ser intimamente relacionadas. Um exemplo clássico é de
dois tipos de gaivotas (Larus argentatus e Larus fuscus) que no Reino Unido
claramente se diferenciam fenotipicamente e não se reproduzem entre si, são duas
espécies distintas (cf. Ridley, 2006, p.75). No entanto, uma destas gaivotas se
reproduz com outra que é parecida com ela, mas vive nos países nórdicos, já esta
se reproduz com outra que vive no oeste da Rússia, que se reproduz com outra que
vive na Sibéria, que se reproduz com outra que vive no Canadá, que se reproduz
com outra que vive na Groenlândia e que se reproduz com a segunda espécie de
gaivota que vive no Reino Unido. Temos assim, duas espécies de gaivotas
claramente distintas que estão ligadas por uma cadeia de gaivotas que literalmente
dá a volta ao mundo, sendo que uma sempre se reproduz com a sua vizinha, ou
seja, podem ser consideradas da mesma espécie. A situação se complica ainda
54
mais pelo fato de existir uma terceira espécie (Larus glaucoides) que se une a esta
cadeia9.
Estas espécies anel não são um tipo peculiar, uma exceção, na verdade,
todos os seres vivos no planeta Terra estão ligados entre si da mesma maneira que
estas duas gaivotas. O que acontece é que na maioria dos casos os indivíduos que
seriam intermediários entre uma espécie e outra não sobreviveram ao processo de
seleção natural ou se extinguiram por simples acaso. A seleção natural
normalmente não permite que estes anéis continuem existindo porque se os genes
pudessem passar por todos os indivíduos sem barreira alguma não haveria como
combinar vários genes bons para um determinado ambiente em um só organismo
que vive neste ambiente, a não ser por mero acaso. Os genes simplesmente
transitariam livremente por tudo quanto é lugar e nos mais diferentes animais, isto
atrapalharia a adaptação de praticamente todos eles (cf. Mayr, 1996). Teríamos
camelos nascendo no Pólo Norte! Muitos genes só são adaptados a um tipo
específico de nicho, por isso o melhor é que eles se mantenham juntos naquele
nicho. Além disso, os genes funcionam de maneira unida, de nada adianta genes
para digerir carne no estômago de herbívoros. Deste modo, a seleção vai valorizar
a capacidade de criar barreiras para a passagem dos genes. No entanto, isto nos
mostra que a transmissão livre de genes entre espécies distintas não é uma
impossibilidade lógica, ela é meramente uma improbabilidade biológica.
Veremos melhor a relevância biológica e filosófica deste tema quando
falarmos mais detalhadamente sobre o Pensamento Populacional (seção 9.3). No
momento é importante perceber que espécies diferentes podem estar bem
intimamente ligadas entre si. Tais fatos trazem problemas para o conceito
biológico de espécies, que define espécies como grupos capazes de reproduzir
entre si: espécies são “grupos de populações naturais capazes de entrecruzamentos
que são reprodutivamente isolados de outros grupos similares” (Mayr, 2005,
p.192.). É preciso ressaltar que este conceito deve ser adimensional e atemporal,
ou seja, deve independer do tempo e do espaço: indivíduos que poderiam
reproduzir entre si, mas não conseguem ou porque estão muito distantes no espaço
ou porque viveram em épocas diferentes são considerados da mesma espécie.
9
Algumas salamandras californianas do gênero Ensatina são também um exemplo. Outros
exemplos são algumas espécies de caracóis do Gênero Partula, na ilha de Moorea, no Pacífico, e a
toutinegra Phylloscopus trochiloides, na Ásia Central. Cf. Ridley, 2006, p.414.
55
Mesmo assim este conceito tem problemas: em primeiro lugar, ele não diz
muita coisa sobre o número gigantesco de espécies com reprodução assexuada.
Além disso, mesmo nas espécies sexuadas, muitas espécies diferentes se
reproduzem entre si, como no caso de árvores que se reproduzem por dispersão de
seus gametas no ar ou através de insetos não plenamente especializados10. Tal
reprodução entre espécies não está restrita às plantas. Podemos encontrá-las até
nos mamíferos: leões e tigres, por exemplo, podem se reproduzir. Há
documentação sobre a reprodução de lobos cinza e coiotes na natureza, mas são
raras (cf. Mayr, 1998). Muitos outros animais podem fazer o mesmo e, em alguns
casos, a cria é perfeitamente fértil. Normalmente isso não acontece na natureza e,
quando acontece, a cria é logo morta por ser mal adaptada.
Um outro caso característico do tipo de relação que as diferentes espécies
tem uma com a outra é a especiação por poliploidia. Em pouquíssimas palavras o
que acontece é um erro na formação do gameta que o deixa com um número
maior de cromossomos. O número de cromossomos do gameta é duplicado,
triplicado etc. O indivíduo que nasce com este número maior fica impedido de
entrecruzar com os que têm o número “normal” de cromossomos. Caso ele
consiga entrecruzar, a cria será híbrida e será estéril. Isto causa uma barreira de
entrecruzamentos entre os indivíduos “normais” e os indivíduos com mais
cromossomos. Mas ele poderá se reproduzir normalmente com outros indivíduos
poliplóides. Criada esta barreira reprodutiva, estes dois grupos, o “normal” e o
poliplóide, podem, segundo o conceito biológico de espécies, ser considerados
como duas espécies distintas. O mais interessante ainda é que a especiação por
poliploidia não só é bem documentada como também é muito comum. Nas
palavras de E. O. Wilson:
A poliploidia é responsável pela origem de quase metade das espécies vivas de
plantas floríferas e de um número menor de espécies de animais (Wilson, 1994,
p.79).
Temos, então, um evento que pode ser entendido como “mais do mesmo”,
ou seja, um maior número dos mesmos cromossomos, causando a especiação. A
poliploidia é inclusive utilizada para “fabricar” espécies artificialmente. O
procedimento é simples: cruzam-se duas espécies distintas, mas relacionadas,
10
Um bom exemplo são os carvalhos (gênero Quercus). Cf. E. Wilson, 1994, p.56.
56
normalmente de plantas, criando um híbrido infértil. Um composto químico
chamado colchicina restaura a fertilidade do híbrido justamente causando nele a
poliploidia e, a partir deste momento, este híbrido pode cruzar exclusivamente
com outros híbridos criados como ele. Temos, assim, uma nova espécie. A
primeira espécie criada artificialmente por poliploidia foi a planta Prímula
kewensis criada através do cruzamento da P. verticillata com a P. floribunda (cf.
Ridley, 2006, p.76).
1.3.3
Uniformitarianismo e Registro Fóssil
Até o presente momento todas estas evidências trataram de variações na
mesma espécie, como no caso dos cães, ou de espécies intimamente relacionadas,
como no caso da prímula. Embora estas relações próximas já devessem ser o
suficiente para mostrar a relação íntima entre as espécies e a força da seleção
quando aplicada dentro de uma população variada, sempre resta ao crítico da
evolução dizer que estamos só mostrando a criação de variações e nunca de
verdadeiras espécies. O erro do crítico é achar que existe alguma diferença
essencial entre variedades e espécies. Como já foi dito, o próprio Darwin deixou
claro que tal diferença não existe, criando assim as bases do chamado pensamento
populacional. A idéia básica é que estas pequenas diferenças observáveis durante
o período de vida de um homem podem aumentar muito se lhe for dado o tempo.
Tal idéia convencionou-se chamar de Uniformitarianismo. Este diz que os
mesmos processos que o homem observa estão atuantes quando este não observa,
até mesmo quando o homem sequer existia. Nas palavras de Ridley:
Esse princípio não é peculiar à evolução. Ele é utilizado em toda geologia
histórica. Quando a ação persistente da erosão de um rio é utilizada para explicar
a escavação de desfiladeiros profundos, o princípio racional é, de novo, o
uniformitarianismo (Ridley, 2006, p.77).
Um modo de demonstrar que a relação entre as mais diferentes espécies é,
em linhas gerais, a mesma relação que se dá entre as duas espécies de gaivotas
anel é através do estudo de fósseis. Os fósseis nos dão muitas evidências da
57
evolução. A principal delas é a gradualidade crescente da evolução11. Por
crescente gradualidade queremos dizer que os seres mais simples costumam vir
antes dos mais complexos e, nos raros casos onde é o oposto que acontece, é
perfeitamente possível compreender este processo como uma simplificação de um
ser que não necessitava mais da sua complexidade. De maneira mais intuitiva
temos a famosa frase de Haldane de que deixaria de acreditar na evolução se
alguém lhe mostrasse um coelho fóssil pré-cambriano (cf. Ridley, 2006, p.88). O
motivo disso é que coelhos são mamíferos e não poderiam ter sido formados antes
dos anfíbios e répteis.
Outra evidência fóssil da evolução são os estágios intermediários entre
peixes e anfíbios e entre répteis e mamíferos. Nos dois casos as evidências fósseis
são muito detalhadas e mostram claramente um número grande de formas
transicionais entre elas. O surgimentos dos mamíferos é, inclusive, “a mais bemdocumentada de todas as principais transições na evolução” (Ridley, 2006, p.563).
Esta é também uma das mais interessantes, pois era usada como argumento
contrário a evolução. Acontece que uma diferença crucial entre mamíferos e
répteis é que ossos que faziam parte da mandíbula dos répteis foram reduzidos de
tamanho e passaram a fazer parte do ouvido dos mamíferos (passando a ser a
bigorna e o martelo). A crítica óbvia a ser feita aqui é que um ser entre os répteis e
os mamíferos não teria uma mandíbula funcional, já que as mandíbulas dos dois
funcionam de maneira muito diferente. No entanto, foram encontrados fósseis dos
chamados “répteis tipo mamíferos” que tinham as duas formas de articulação
mandibular! Isso mostra como é possível passar de uma forma à outra sem que o
intermediário seja não-funcional. Um caso semelhante mais recente de uma crítica
à evolução que acabou virando um sucesso da mesma foi o da evolução dos
cetáceos (mamíferos marinhos) relatada por Gould (cf. Gould, 1997, p.431 em
diante).
11
O Equilíbrio Pontuado de Gould será tratado no próximo capítulo, onde pretendemos mostrar
que ele não é anti-gradualista.
58
1.3.4
Homologias e Analogias
Dentre as evidências mais comuns e mais conhecidas da evolução estão as
homologias e as analogias. As homologias são estruturas semelhantes com
funções algumas vezes bem diferentes em diversos animais. As analogias são
também estruturas semelhantes, mas com a mesma função em animais bem
diferentes. A homologia mais comum, e que também foi citada por Darwin, é a
dos membros de todos os tetrápodes que são basicamente construídas através dos
mesmos ossos (cf. Darwin, 2004, p.498). Nisto se incluem as patas das rãs, dos
lagartos, dos mamíferos, incluindo braços e pernas dos homens, as asas dos
morcegos, os membros dos cetáceos e até as asas das aves. Todas elas têm
estruturas extremamente parecidas sendo construídas basicamente pelo mesmo
modelo fundamental. O que isto indica é que todas têm um mesmo ancestral
comum, a saber, o primeiro tetrápode que ainda vivia na água e usava seus quatros
membros para nadar, como o Acanthostega, e só depois o utilizou para andar,
como o Ichthyostega. Há ainda homologias mais ubíquas como o código genético
que é basicamente o mesmo em todos os seres vivos indicando que todos têm uma
origem comum. E há também homologias mais restritas como as encontradas
entre os homens e os chimpanzés.
As homologias nos indicam que tais seres têm o mesmo ancestral comum,
do contrário não há motivos para compreender porque suas estruturas são tão
semelhantes. Isto fica ainda mais claro no caso de órgãos vestigiais, que são
estruturas sem nenhuma utilidade conhecida e que só estão presentes por causa da
ancestralidade comum. Este é o caso da pelve das baleias e dos pequenos
membros traseiros de algumas cobras que não são utilizados para locomoção. No
caso do homem temos o apêndice que parece ter como única “utilidade” fazer com
que soframos quando temos crises de apendicite e o cóccix que parece ter como
única “utilidade” quebrar quando caímos sentados.
Talvez o exemplo mais claro de uma homologia desnecessária seja o nervo
laríngeo recorrente (cf. Ridley, 2006, p.310). Ele surgiu primeiro nos peixes e nele
segue em uma rota direta do cérebro até a laringe passando pelo coração. Mas
como todos os tetrápodes são descendentes deste mesmo peixe, eles têm o mesmo
nervo seguindo a mesma rota. No caso da girafa isto chega ao absurdo: este nervo
59
sai do cérebro, desce por todo o seu pescoço, dá uma volta no coração e depois
sobe o pescoço de novo até a laringe! Ela chega a ter 3 a 4,5 metros a mais de
nervo do que de fato precisaria em uma rota direta (cf. Ridley, 2006, p.83). O
nervo laríngeo recorrente é o que pode ser chamado de um caso clássico de um
acidente histórico congelado. Não há nenhum motivo adaptativo relevante para ele
ser assim, simplesmente aconteceu de sermos descendentes de um animal com
uma certa configuração anatômica difícil de ser modificada.
Algo muito semelhante acontece com o cordão espermático dos mamíferos.
Este, que saí dos testículos dos homens e se liga a uretra, poderia percorrer um
caminho bem simples e direto, ao invés disso ele faz uma espécie de laço dando a
volta no osso púbico. O motivo é que tanto os testículos quanto os ovários são
descendentes diretos das gônadas dos peixes que ficavam localizadas perto do
fígado. Por este motivo, durante o desenvolvimento embrionário do homem, os
testículos têm que descer para o saco escrotal criando, assim, uma fraqueza na
parede abdominal que é a causadora de hérnias. Em outras palavras, a resposta de
por que os homens podem ter hérnia escrotal é porque somos parentes dos peixes!
Há ainda um caso em especial onde as homologias são constatadas de
maneira mais marcante e também muito conhecido que é no estudo da
embriologia. Este estudo nos mostra que as fases iniciais do desenvolvimento
embriológico de seres superiores é muito semelhante ao desenvolvimento
embriológico de seres dos quais ele descende. Algumas vezes tão semelhante que
chega a ser difícil distinguir um embrião do outro. Além disso, algumas estruturas
chegam a aparecer e depois desaparecer nos embriões, como, por exemplo, a
cauda e as brânquias nos homens. São fases no desenvolvimento embrionário que
parecem desnecessárias se não forem compreendidas à luz da evolução. Estas
fases se mantêm lá simplesmente porque não existem grandes pressões evolutivas
para que elas deixem de existir e, principalmente, porque há restrições no
desenvolvimento embrionário dos seres que não permitem qualquer modificação.
Tais restrições foram chamadas de canalizações e o seu próprio surgimento pode
ser visto como uma adaptação evolutiva. O motivo é que o sistema embrionário é
muito delicado dependendo de diversos fatores que atuam ao mesmo tempo,
sendo que uma pequena mudança pode gerar uma grande “aberração” fenotípica.
Por este motivo o ritmo de mudanças no desenvolvimento embrionário tende a ser
60
lento e normalmente se realiza nas fases finais, onde as mudanças têm uma
possibilidade menor de serem catastróficas.
Além das homologias temos também as analogias. Nestes casos as
semelhanças entre as diferentes espécies não é devida ao parentesco comum e sim
a ocupação de um nicho semelhante. Espécies que têm um mesmo papel dentro de
um eco-sistema tenderão a ter formas anatômicas semelhantes, mesmo tendo sido
originadas de espécies completamente diferentes. A analogia se torna uma
evidência da evolução ao mostrar um tipo de “repetibilidade” da evolução. É a
evolução levando a um ponto semelhante dois seres com histórias iniciais
diferentes. O exemplo mais simples que podemos pensar é o de dentes e/ou garras
afiadas nos predadores. Existem diversos tipos de predadores, mas quase todos
têm esta característica comum, mesmo os que estão longamente separados como
tubarões, tiranossauros e tigres. O motivo para que seres tão diferentes
desenvolvam estas mesmas características é bastante óbvio.
Muitos são os exemplos de analogia, Dawkins nos dá uma lista deles
explicando um por um, são eles: peixes-elétricos e enguias elétricas, o lobo-datasmânia e o lobo, a toupeira e a “toupeira-marsupial”, formigas e cupins, o
tamanduá e o Myrmecobius, etc (cf. Dawkins, 2001, p.149 em diante). Todos são
exemplos de animais com origens diferentes, mas com adaptações semelhantes
por ocuparem nichos semelhantes. Eles indicam justamente o poder da seleção
natural para moldar a forma dos seres vivos em sua evolução.
Todas as evidências da evolução têm se multiplicado e muitas vitórias foram
conquistadas, as principais ocorreram justamente quando algo que é agora uma
evidência da evolução era antes uma “prova” de que ela não era possível. Mas a
evolução biológica já está muito bem fundamentada para não mais se abalar
quando surge uma “nova prova” dizendo que descobriu algum sistema
irredutivelmente complexo que não poderia ser explicado pela seleção natural12.
No entanto, o que nos interessa aqui são os tipos de provas necessárias para
mostrar a existência de um verdadeiro processo evolutivo.
12
Muitos já foram tais “sistemas irredutíveis” que se mostraram, com o tempo, plenamente
redutíveis. O mais clássico é, sem dúvida, o olho, mas vários já foram propostos. Tal crítica existia
antes mesmo do surgimento do darwinismo e vem sendo superada desde então. No entanto, os
críticos levam sempre uma vantagem desonesta, pois é muito mais fácil apresentar um problema
do que resolvê-lo. A resolução normalmente exige décadas de pesquisa e novas descobertas,
enquanto este processo se desenrola os críticos têm seus “15 minutos de fama”. Michael Behe é o
exemplo mais recente de tais tentativas fracassadas, que remontam ao reverendo Paley (1743 –
1805).
61
As analogias e homologias nos explicam os padrões do mundo orgânico
através de explicações evolutivas, seja na permanência de um traço antigo,
provando a ancestralidade comum, como no caso das homologias, seja no
surgimento repetido do mesmo traço, mostrando a força da seleção, como no caso
das analogias. Espécies-anel e a poliploidia nos mostram que não há uma real
separação entre variações e “espécies verdadeiras”, mostrando a continuidade do
mundo natural. A seleção artificial e inconsciente nos mostra o quão a seleção
natural nos é próxima, exibindo como pequenas variações podem ser acumuladas.
O uniformitarismo é o princípio que nos permite ir além das pequenas variações
que observamos de fato e, junto com o registro fóssil, permite mostrar o longo
caminho através de espécies intermediárias, e muitas vezes extintas, que tivemos
que percorrer para chegar às espécies atuais.
1.4
Darwin contra Lamarck?
No ensino do Darwinismo, convencionou-se contrapor a teoria de Darwin
à de Lamarck. Lamarck seria o principal defensor da teoria da herança dos
caracteres adquiridos. O exemplo clássico seria o da girafa: para Lamarck as
girafas tinham os pescoços curtos e os esticavam para alcançar os galhos mais
altos, neste processo ficaram com o pescoço mais longo e passaram esta sua
característica adquirida aos seus descendentes. Já no darwinismo, características
adquiridas não seriam passadas: as girafas já seriam variadas, umas com o
pescoço mais longo e outras com o pescoço mais curto, as com pescoço mais
longo foram selecionadas porque eram mais capazes de sobreviver e, deste modo,
deixaram mais descendentes também de pescoço longo.
Este quadro, embora muito instrutivo, não é plenamente correto. Há o
motivo histórico de que Darwin de fato acreditava na regra do “uso e desuso” de
Lamarck, embora não considerasse este princípio como muito relevante na
história da evolução (cf. Gould, 2003, p.373 & cf. Darwin, 2004, p.67). FreireMaia chega até a dizer que “Darwin era Lamarckista” (1995, p.36). Esta é, com
certeza, uma afirmação exagerada, mas pode ser compreendida como mais um
62
sintoma de Darwin por não ter desenvolvido uma boa teoria da hereditariedade,
como veremos a seguir. Mas não é a visão histórica que nos interessa, e sim a
“visão recebida”. Nesta, a oposição entre Darwin e Lamarck se deve
principalmente à obra de August Weismann. Foi ele que demarcou uma forte
separação entre a linhagem germinativa e a linhagem somática. A linhagem
germinativa são as células sexuais, a linhagem somática são todas as outras
células do corpo. Na reprodução, só a linhagem germinativa passa para os
descendentes, por isso só as mudanças nestas linhagens são hereditárias. Esta
separação criada por Weismann acabou sendo considerada como o “dogma
central” do darwinismo.
Até onde sabemos, as considerações de Weismann continuam corretas, mas
é preciso ressaltar alguns pontos importantes para saber até onde ela é correta e
porque ela é correta. Uma primeira observação é que a separação entre linhagem
germinativa e linhagem somática só faz verdadeiro sentido para a reprodução
sexuada. Organismos unicelulares, por exemplo, que se reproduzem por divisão
celular não podem ter suas duas linhagens separadas. Além disso, muitos
organismos pluricelulares podem se multiplicar assexuadamente através da
embriogênese somática. Este tipo de reprodução é até bastante comum nas plantas
e nós o presenciamos todas as vezes em que quebramos um galho de uma planta
para plantá-la em nosso quintal. Neste caso temos uma parte da linhagem
somática de uma planta dando origem a uma nova planta. Mas é claro que neste
caso as células germinativas desta nova planta seriam idênticas às células
germinativas da planta original. Não teríamos, então, uma verdadeira herança de
caracteres adquiridos. No entanto, tal hipótese não foi completamente descartada,
Ridley nos apresenta o trabalho de Whitham e Slobodchikoff dizendo que:
[eles] argumentam que, em plantas, a seleção entre linhagens celulares permite que
o indivíduo se adapte às condições locais mais rapidamente do que seria possível
com a herança estritamente weismannista (Ridley, 2006, p.324).
Há, então, a possibilidade de uma herança não-weismannista não só em
organismos unicelulares como também em pluricelulares. O que causaria isso
seria uma melhor adaptabilidade ao meio, principalmente a um meio em estado de
mudança13. No entanto, existem grandes dificuldades com a herança de caracteres
13
Maynard-Smith também comenta sobre um estudo com implicações semelhantes (cf. 1993, p.3)
63
adquiridos e a principal delas é apontada claramente por Dawkins: a relação entre
o genótipo e o fenótipo não é uma relação bi-condicional um-a-um. Para deixar
mais claro, Dawkins nos fala sobre a diferença entre uma receita e uma planta
baixa. A planta, como aquela feita por arquitetos, representa o original de maneira
simples: cada parte da planta se refere a uma parte do original. Se quisermos, por
exemplo, retirar uma janela do original, podemos simplesmente apagá-la da
planta. Já a receita não tem esta relação com o seu produto final. É claro que, se
mudarmos a receita, mudamos o produto, mas a relação aqui não é simples, não é
possível modificar a receita de modo que o produto final seja um bolo com uma
fatia a menos, por exemplo.
A relação entre o genótipo e o fenótipo é semelhante a relação entre uma
receita e seu produto final. “Não existe um mapeamento ponto a ponto entre as
partes do corpo e as partes do DNA” (Dennett, 1998, p.336). Por isso, uma
mudança no fenótipo não pode ser facilmente transcrita no genótipo. Em outras
palavras, a relação entre genótipo e fenótipo é uma relação de mão única que vai
do genótipo para o fenótipo e não vice-versa. O mecanismo necessário para fazer
esta viagem “na contramão” teria que ser muito complexo: o organismo teria que
ser capaz de reconhecer em si mesmo quais são as boas modificações adquiridas,
pois de outro modo seus filhos acabariam herdando cicatrizes, doenças, problemas
de velhice etc. e teria também que saber exatamente em que parte do DNA ele
deveria realizar suas modificações, e como deveria modificá-la para que seus
descendentes já nasçam melhor adaptados.
Nem é preciso dizer que tal mecanismo seria muito complexo e é
completamente desconhecido pela ciência. Mas dizer que ele seja desconhecido
não é o mesmo que dizer que ele não exista e, mais ainda, não é o mesmo que
dizer que ele não poderia existir. Nas palavras de Dawkins:
Isso não quer dizer que em parte nenhuma do universo poderia existir algum
sistema de vida estranho no qual a embriologia fosse pré-formacionista, uma forma
de vida que realmente se desenvolvesse segundo uma ‘planta genética’ e que de
fato pudesse, portanto, herdar características adquiridas (Dawkins, 2001, p.434).
Podemos ir além de Dawkins e dizer que se tal ser vivo surgisse em nosso
mundo ele muito provavelmente seria selecionado, pois seria capaz de se adaptar
com muito mais rapidez do que os seres que dependem de variação já existentes e
de mutações ao acaso. Ou seja, o lamarckismo poderia se tornar verdadeiro
64
através de um processo darwinista de seleção natural! Tal espécie lamarckista não
refutaria o darwinismo. Cabe lembrar, inclusive, que o fenômeno da transcrição
reversa aponta para esta possibilidade. Dentro do “dogma central da biologia”
teríamos que o DNA é transcrito em RNA, mas não vice-versa. No entanto, os
chamados retrovírus são capazes de “burlar” esta lei, pois transcrevem o seu RNA
no DNA do seu hospedeiro que, a partir daí, passam a produzir novos vírus de
DNA (cf. Futuyma, 2002, p.480). Seria um erro chamar este fenômeno de
lamarckista, mas ele aponta para esta possibilidade dentro do nosso próprio
mundo. Dito isso, fica claro que a seleção natural trabalha, em nosso mundo, com
mutações de DNA surgidas ao acaso, mas isso não tem que ser obrigatoriamente
assim. Ela poderia trabalhar perfeitamente bem com mutações direcionadas
transcritas reversamente (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.33).
Se este fosse o caso, poderíamos dizer que tal mundo funcionaria de uma
maneira lamarckista-darwinista. Mas compreender isso só é possível se
compreendermos que esta dicotomia entre Darwin e Lamarck não é uma
verdadeira oposição e sim um modo didático de explicar que a seleção natural
poderia funcionar de duas maneiras, mas só uma delas de fato acontece em nosso
mundo.
Uma vez diluída esta oposição radical entre Darwin e Lamarck é comum
ficar uma certa confusão do “que é, então, ser um darwinista?”, pois a teoria de
Darwin parece ter sido construída em oposição a de Lamarck. No entanto, como já
vimos ao separar, junto com Mayr, a teoria de Darwin em cinco teorias distintas, a
crença que unia os primeiros darwinistas não era mesmo a evolução por seleção
natural e sim a crença mais fundamental que os fenômenos do mundo orgânico
deveriam ser explicados de maneira naturalista e sem skyhooks. É esta a crença
que deve ser mantida como o elo fundamental entre todos os darwinistas.
Vemos então que as explicações de Darwin e Lamarck são duas explicações
que podem existir, inclusive juntas, em um mesmo mundo, desde que não se
refiram a um mesmo organismo. Um organismo lamarckista poderia até surgir e
ser selecionado pela evolução darwinista. Por isso acusar um processo de
lamarckista não é o mesmo que acusá-lo de anti-darwinista. Os processos são
diferentes, as estruturas que cada um exige também são diferentes, mas um pode
dar a origem ao outro e vice-versa. Existe uma separação entre os dois, mas não
uma dicotomia.
65
1.5
Evolução Epigenética: um pouco mais além dos genes
Um dos desenvolvimentos mais interessantes na biologia contemporânea é o
estudo das heranças não-genéticas. A herança memética claramente cabe neste
grupo, mas só será tratada no terceiro capítulo. Uma das pesquisadoras mais
importantes deste campo, Eva Jablonka, nos fala de quatro tipos de
hereditariedade: genética, epigenética, comportamental e simbólica. Ao frisar
estes novos tipos de hereditariedade ela pretende criticar a visão “centrada nos
genes” como a apresentada por Dawkins. Ela chega até a propor um retomada do
Lamarckismo!
Esta
questão
interna
da
biologia
será
tratada
apenas
tangencialmente aqui.
No entanto, como já vimos na seção anterior e veremos rapidamente nesta
seção, a oposição entre o Lamarckismo e o Darwinismo não é tão grave quanto a
que se apresenta na “visão recebida” da biologia. A própria Jablonka afirma que a
teoria de Darwin “não está ligada a nenhum mecanismo particular de
hereditariedade ou de causa da variação” (Jablonka & Lamb, 2005, p.16. Minha
tradução). Além disso, vários são os significados do termo “lamarckismo”. Pode
se falar do uso e desuso, da herança de caracteres adquiridos, do progressimo e do
instrucionismo. Em um sentido que acabamos de comentar, mas que voltaremos a
ver aqui, não é absurdo ser darwinista e lamarckista!
Há que se ressaltar também que um estudo mais detalhado da visão
“centrada nos genes”, principalmente de Dawkins e Dennett, é, na verdade, uma
visão “centrada nos replicadores”. De modo que, se algo é um replicador, seja ele
genético, epigenético, comportamental ou simbólico, faz parte desta visão mais
ampla. A grande inovação de Jablonka, então, não é questionar a importância do
replicador, e sim qual é este replicador. Ela nos dá bons motivos para pensar na
célula como replicadora, pois o DNA só pode se replicar através de estruturas
celulares que também são herdadas dos pais. “O processo de desenvolvimento
como um todo reconstrói-se a si mesmo geração após geração através de
numerosos caminhos causais independentes” (Sterelny & Griffiths, 1999, p.95.
Minha tradução)
Deste modo, veremos que muitas críticas propostas por Jablonka não são
direcionadas a ninguém em específico, mas sim a uma visão confusa e de senso
66
comum, principalmente provinda da mídia, de qual seria o papel dos genes na
evolução e no comando do comportamento. Sua argumentação contra esta visão
dos genes como a única forma de hereditariedade se mostra correta. Uma brilhante
defesa do darwinismo universal e algo que a memética muito lhe agradece!
Podemos ver isso claramente quando Jablonka diz que será crucial para os
argumentos que se seguirão algo que só poderia ser chamado de darwinismo
universal, embora ela não o nomeie assim:
Embora não estejamos defendendo isso, queremos deixar claro que é possível ser
um excelente Darwinista sem acreditar na lei de Mendel, nos genes mutantes, nos
códigos de DNA, ou em quaisquer dos demais dispositivos da biologia evolutiva
moderna. É por isso que a teoria de Darwin pode ser, e é, tão amplamente aplicada,
seja em aspectos da economia, da cultura, e daí por diante, bem como a evoluções
biológicas (Jablonka & Lamb, 2005, p.12. Minha tradução).
Tal afirmação é o centro da teoria de Dawkins. Cabe, então, perguntar quais
são as diferenças. Elas de fato existem, e muitas vezes são irreconciliáveis, mas
elas, como veremos, não dizem respeito a abordagem mais ampla do darwinismo
universal e que é justamente o que nos interessa aqui. Na verdade, são questões
mais específicas de duas visões diferentes sobre a biologia. Dawkins não perde
uma oportunidade de deixar claro que são os genes é que podem ser chamados de
replicadores, mas Jablonka nos lembra que a informação genética só existe no
meio celular, deste modo, “a habilidade de replicar-se não é uma propriedade do
DNA, mas do sistema celular” (Jablonka & Lamb, 2005, 49. Minha tradução).
Uma análise mais específica nos mostra que há sim uma clara discordância, mas
de uma perspectiva geral, que nos interessa aqui, esta é só mais uma prova de que
a evolução pode se dar seja lá com que replicador for.
Jablonka de fato nos traz evidências de processos que normalmente não
seriam esperados dentro da “visão recebida” da evolução, pois mostram que “a
geração de mutações e outros tipos de variação genética não é um processo
totalmente desregulado” (Jablonka & Lamb, 2005, p.78. Minha tradução). Vários
exemplos de mutações genéticas que não parecem obedecer a regra de que estas se
dá completamente ao acaso são apresentadas.
Em primeiro lugar temos o que foi chamado de Induced global mutation.
Sabe-se que populações diferentes da mesma espécie podem ter taxas de
recombinação diferentes. Mas algumas espécies parecem ser capazes de aumentar
a sua taxa de recombinação quando estão sob estresse, o que aumenta a chance do
67
surgimento de uma variação fenotípica útil. Experimentos de Barbara McClintock
mostraram que eles fazem isso alterando o sistema que repara o DNA (cf.Jablonka
& Lamb, 2005, p.88). Mas neste caso qualquer tipo de mutação pode surgir em
qualquer lugar do genoma. É um caso de “tente de tudo, na esperança de que
alguma coisa vai funcionar” (Jablonka & Lamb, 2005, p.93. Minha tradução). No
entanto, este processo pode muito bem não ser uma adaptação, mas somente um
mal funcionamento nas células justamente por estarem em um período de estresse.
Um outro processo é a local hypermutation, onde as mudanças são
produzidas justamente no lugar onde são úteis. Por exemplo, a bactéria
Haemophilus influenzae, que causa meningite, tem áreas dos seus genes que
mudam muito frequentemente, conhecidas no jargão como mutational hot spot. A
parte do genoma sujeita a muitas mudanças é a área que codifica as estruturas da
superfície de tal bactéria. Como a superfície está sempre mudando ela, a
linhagem, é claro, e não uma bactéria individual, se torna capaz de se proteger de
defesas imunológicas e mudanças no ambiente (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.95).
Um outro exemplo são genes que codificam o veneno de algumas lesmas e cobras.
Com estas constantes mudanças elas evitam que presas e predadores criem
imunidade ao seu veneno. No entanto estas mudanças estão sempre acontecendo,
ou seja, não estão diretamente ligadas a fatores ambientais. São uma adaptação ao
meio ambiente, mas mudanças neste meio não ocasionam mudanças no genoma.
Um processo mais intrigante é o chamado Induced local mutations. Neste
caso há um aumento de 5 ou até 10 vezes na taxa de mutação de um local
específico no genoma, sem afetar todo o genoma como no caso da Induced global
mutation. Um exemplo é a E. coli. Muitas bactérias já têm normalmente um
sistema para suportar a longa falta de suprimentos. Alguns genes normalmente
ativos são desativados nestas situações e vice-versa. É um sistema de defesa que
surgiu através da evolução por seleção natural darwinista. Dentre os genes que
estavam desativados, e que se ativaram com a escassez, estão alguns que
produzem certos aminoácidos importantes mas que as bactérias não conseguem
mais encontrar no ambiente. No caso deste gene não funcionar direito, sua taxa de
mutação, e só a sua, se torna elevada (cf.Jablonka & Lamb, 2005, p.98). Assim
temos um aumento da taxa de mutação justamente onde ela é mais importante.
O último caso é o que ela chamou de Induced regional mutations. Não se
sabe muito sobre este tipo e nem se este pode ser realmente diferenciado dos
68
precedentes, mas foi encontrado em organismos multicelulares. Neste caso,
quando, por exemplo, a planta de mostarda Brassica nigra leva um choque
térmico, ela perde algumas das muitas copias de DNA que codificam o RNA dos
ribossomos. Sabe-se que esta mudança é passada por gerações, mas não se sabe
sequer se isto é uma adaptação.
Estes são os únicos processos “novos” sobre mutações genéticas que
Jablonka comenta. Surge aqui o problema se estas mudanças podem ser
consideradas Lamarckistas, e a resposta parece ser claramente que não. O
problema fundamental aqui é exatamente o que devemos chamar de lamarckista.
Dawkins, justamente quem ela deveria estar atacando, e que chegou a falar que
“comeria seu chapéu” se o lamarckismo fosse provado verdade, nos diz:
Chamamos de Lamarckismo a teoria de que a linhagem de genes não é isolada, e
que os aperfeiçoamentos ambientais impressos nela podem moldá-la diretamente
(Dawkins, 1999, p.167. Minha tradução).
Os exemplos mostrados por Jablonka parecem de fato indicar que o genoma
não está de todo insulado do seu meio ambiente, mas a verdadeira questão que
torna um processo lamarckista é se estes melhoramentos genéticos foram dirigidos
por este ambiente. Ou seja, não basta que o ambiente influencie a probabilidade de
mutação, ele deve, de algum modo desconhecido, instruir esta mutação. Um gene
deveria mudar diretamente para a maneira específica e necessária para um
determinado ambiente para falarmos de lamarckismo. A própria Jablonka mostra
que este não é o caso quando ao invés de dizer que tais mutações são dirigidas ela
prefere dizer que são induzidas por fatores ambientais (cf. Jablonka& Lamb,
2005, p.7). Para que possamos chamar algo de lamarckista a relação entre os
genes e as proteínas deve funcionar na direção inversa, ou seja, o surgimento de
uma determinada proteína adaptativa deve dirigir os genes de modo que um novo
gene para aquela proteína passe a fazer parte do genoma. Isto sim quebraria o que
foi chamado de Dogma Central da Biologia. Todos estes processos apresentados
por ela são perfeitamente naturais e não indicam uma mutação dirigida específica
de modo que se faça o caminho inverso.
Jablonka concorda que tal inversão não acontece, mas permanece trazendo à
tona o termo “lamarckismo” somente porque mudou seu significado para: pessoas
que acreditam que mudanças adaptativas podem ser geradas por “palpites
69
inteligentes em resposta às condições de vida” (Jablonka & Lamb, 2005, p.361.
Minha tradução). Mas é claro que aí todo o problema está em quão inteligentes
estes palpites são! Palpites muito inteligentes são mudanças direcionadas e, deste
modo, plenamente lamarckistas no sentido que usamos aqui. Já palpites muito
pouco inteligentes são palpites aleatórios e fazem parte da “ortodoxia darwinista”.
Entre estes dois extremos encontramos Jablonka.
Mas além da questão do lamarckismo, há também o problema da refutação
do “centrismo do gene” que Jablonka começa a apresentar ao falar das formas de
herança celulares, mas não genéticas, ou seja, da interessante herança epigenética.
Sabe-se que muitas das diferenças fenotípicas não são genéticas. As células do
nosso corpo, por exemplo, têm em sua maioria os mesmos cromossomos, mas
mesmo assim contamos com diferentes grupos celulares especializados. São as
mudanças epigenéticas que dão conta desta capacidade. A mula e o jumento, por
exemplo, são geneticamente idênticos, mas fenotipicamente muito diferentes (cf.
Jablonka & Lamb, 2005, p.139). O que vem sendo descoberto recentemente é que
existe também uma herança epigenética que pode servir para evolução e seleção
natural. Aqui também são quatro os tipos de herança epigenética que Jablonka
distingue.
Existe o chamado Self-sustaining feedback loops que existe em todas as
formas de vida já estudadas e é bem simples: se uma certa proteína ativa um
determinado gene, o produto deste gene pode funcionar como regulador deste
mesmo gene, ou seja, pode continuar garantindo que tal gene permaneça ativo. Na
divisão celular, se as células filhas mantiverem um alto nível de proteína provindo
da célula mãe, elas também terão, por este motivo, o seu mesmo gene ativado.
“As células filhas podem herdar padrões de atividade dos genes presentes na
célula mãe” (Jablonka & Lamb, 2005, p.119. Minha tradução). É um processo que
se sustenta e é passado de geração em geração porque quando a célula se divide as
células filhas recebem não só o DNA, mas outras estruturas e proteínas que
faziam parte da célula mãe. É um processo simples, com só duas variações: ativo
ou não, mas que já mostra algo que uma célula recebe da outra e que não depende
só dos genes. Deste modo, por exemplo, uma célula do fígado que se reproduza
origina duas outras células do fígado, pois mantém ativa as regiões do genoma
que codificam as estruturas necessárias.
70
Um outro caso mais interessante é a Architetural memories. Neste caso uma
versão alternativa de uma estrutura celular é herdada porque estruturas guiam o
processo de construção de estruturas semelhantes nas células filhas (cf. Jablonka
& Lamb, 2005, p.121). Um dos casos mais conhecidos é dos cílios do
Paramecium. Cílios são apêndices parecidos com cabelos que, no caso do
Paramecium, envolvem a célula e funcionam, dentre outras coisas, para a
locomoção. Tais cílios têm um padrão de movimento que pode variar entre
diferentes Paramecium, e tal padrão de comportamento é herdado. Se uma
mudança neste padrão for induzida, ela será herdada pelos seus descendentes.
Há também a memória cromossômica, sendo que seu principal exemplo é a
chamada metilação. O DNA é enrolado em cromossomos e, como era de se
esperar, o modo como ele é compactado, o quão denso e acessível cada parte dele
é, influencia em quais genes serão ativados. Mais interessante ainda, a metilação
pode influenciar a probabilidade de um gene sofrer mutação (cf. Jablonka &
Lamb, 2005, p.247). Entender o funcionamento deste processo é uma das grandes
chaves para entender o desenvolvimento embrionário e celular. No caso da
metilação, pequenos grupos de metil (CH3) ficam diretamente ligados às bases de
nucleotídeos. Normalmente, quanto mais metilada for um gene, menor a
probabilidade dele ser transcrito em uma proteína. De alguma maneira ainda não
muito bem conhecida, a metilação parece impedir a transcrição. Mas o mais
interessante é que “os padrões de metilação podem ser reproduzidos (ao menos
nos vertebrados e nas plantas) porque eles pegam carona na replicação
semiconservativa do DNA” (Jablonka & Lamb, 2005, p.129. Minha tradução). E
assim como a replicação genética pode sofrer mutações, a cópia da metilação
também pode variar, mas como no caso do DNA, há também um sistema para
corrigir tais erros.
O último processo apresentado por Jablonka foi chamado de RNA
Interference. Um processo ainda bastante desconhecido onde tais RNAs silenciam
determinados genes e são capazes até de mudar a metilação de certos genes,
tornando-os ainda mais difíceis de serem transcritos. Mas talvez a sua principal
característica é que ele não é só passado para as células filhas, ele pode migrar
dentro do corpo, sendo capaz até de passar por diferentes tipos de células.
Capacidades como estas levantaram a hipótese de que eles poderiam trabalhar
como um sistema imune celular (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.135). Mas o mais
71
importante para o que está sendo tratado aqui é que ele é uma forma de herança
celular não genética, ou seja, uma herança epigenética.
Dawkins aceita a existência de informação epigenética, mas diz que, a rigor,
as estruturas celulares são codificadas também no DNA. Ou seja, o DNA estaria
na origem destas estruturas. Jablonka chega a concordar abertamente com isso (cf.
Jablonka & Lamb, 2005, p.110), mas ressalta que sistemas adicionais de herança,
mesmo que tenham como base fundamental o sistema genético, permitem que um
tipo diferente de informação, não-genético, seja transmitido.
É importante notar que as variações epigenéticas também causam efeitos
fenotípicos que podem ser ou não adaptativos, ou seja, pode existir um processo
evolutivo de seleção de variações sem nunca ter ocorrido nenhuma mudança
genética. Além disso, as variações epigenéticas surgem em uma taxa maior do que
as genéticas, podendo várias mudanças ocorrer ao mesmo tempo. E, talvez mais
relevante, por estarem em contato direto com o ambiente e às vezes dependerem
diretamente de fatores ambientais, como a presença ou não de uma determinada
substância, tais mudanças “provavelmente ocorrem preferencialmente em genes
induzidos a se tornarem ativos por condições novas” (Jablonka & Lamb, 2005,
p.144. Minha tradução), aumentando, assim, a chance de uma variação benéfica.
O que, por sua vez aumenta a velocidade da evolução não só aumentando a taxa
de mutação como também diminuindo a probabilidade de mutações deletérias.
1.6
Mendel contra Darwin?
Uma outra questão importante, não só para a história da biologia, mas para
uma melhor compreensão do darwinismo, é a conturbada relação entre a seleção
natural e as teorias da hereditariedade que durou praticamente desde o lançamento
da Origem das Espécies até aproximadamente 1920, 1930. Ao lançar seu grande
livro, Darwin sabia que uma das faltas mais graves que cometera era a falta de
uma hipótese adequada da hereditariedade. Ele chegou até a comentar que “as leis
que regulam a hereditariedade são geralmente desconhecidas” (Darwin, 2004,
p.29). Logo antes deste comentário fez uma espécie de análise probabilística da
72
hereditariedade dizendo que, dado os fatos, a probabilidade nos força a aceitar a
existência da hereditariedade mesmo que ainda não conheçamos as suas leis, ou
seja, utiliza o argumento já apresentado da herdabilidade que diz que se os filhos
se parecem mais com os pais do que com a média da população, então algo é
herdável.
Curiosamente por volta desta mesma época Mendel publica o seu famoso
artigo sobre as ervilhas que, alguns anos mais tarde, fundaria o que hoje
chamamos de genética. Não sabemos ao certo se Darwin chegou a conhecer o
trabalho de Mendel, mas Mendel conhecia o trabalho de Darwin, tendo lido a
Origem, e aceitado a teoria da evolução por seleção natural (cf. Freire-Maia, 1995,
p.33). Sabe-se que o trabalho de Mendel, apresentado em 1865, não teve muito
destaque. É comum ouvir que ele só foi citado doze vezes até o ano de 1900!
Sabe-se também que Mendel mandou seu trabalho para várias pessoas, mas
aparentemente não incluiu Darwin na sua lista. Sem uma boa teoria da
hereditariedade Darwin recorreu ao que ele mesmo chamava de “teoria provisória
da pangênese”, em suas próprias palavras:
Segundo esta hipótese, toda unidade ou célula do corpo emite gêmulas ou átomos
subdesenvolvidos que se transmitem à prole de ambos os sexos e se multiplicam
por autodivisão. Esses átomos podem permanecer subdesenvolvidos durante os
primeiros anos de vida ou durante sucessivas gerações e o seu desenvolvimento em
unidades ou células, semelhantes àquelas das quais derivam, depende da sua
afinidade e união com outras unidades ou células anteriormente desenvolvidas na
devida ordem do crescimento (Darwin, 2002, p.271)
As gêmulas, então, seriam criadas em todas as células do corpo e, através do
sangue se dirigiriam para as células sexuais e se fixariam ali. Na fecundação
haveria uma espécie de mistura entre as gêmulas dos progenitores e, no
desenvolvimento do indivíduo elas se manifestariam nas células semelhantes às
células das quais se originaram. Esta explicação de Darwin para a hereditariedade
é tipicamente uma explicação para a herança de caracteres adquiridos. As gêmulas
poderiam mudar na medida em que suas células somáticas mudassem. Como
acabamos de ver, esta separação entre a hipótese de Darwin e de Lamarck não
pode ser feita com muito rigor e a teoria da pangênese mostra isso com clareza.
No entanto, o que nos interessa aqui é que a teoria da pangênese é uma teoria da
mistura, uma teoria que é, inclusive, bastante aceitável na falta de um
conhecimento das leis mendelianas da hereditariedade.
73
A razão para que as teorias da mistura sejam aceitáveis é que “de fato, os
fenótipos de mães e pais reais freqüentemente se misturam na prole” (Ridley,
2006, p.62). No entanto, o que Mendel descobriu é que a mistura dos fenótipos
não implica na mistura dos genes. Os genes podem agir como unidades discretas,
mas ter o seu efeito de maneira contínua. Existem, é claro, genes discretos para
efeitos discretos, como genes para a presença ou ausência de uma estrutura
qualquer. No entanto, quando muitos genes influenciam um único traço
fenotípico, conhecido pelo nome de poligenia, o caráter influenciado vai variar de
maneira contínua. Isto fica ainda mais evidente se tal caráter tiver ainda um forte
fator ambiental, como por exemplo, a nutrição do indivíduo ou a exposição ao sol.
O exemplo mais comum de um caráter que é influenciado geneticamente e tem
uma variação contínua é a altura e também a cor da pele (cf. Maynard-Smith,
1993, p.67).
No entanto, por mais razoável que seja acreditar em uma teoria da mistura
dada as evidências fenotípicas, tal teoria é extremamente nociva ao Darwinismo.
Já na época de Darwin, o engenheiro escocês Fleeming Jenkin apresentou uma
crítica importante contra a teoria da hereditariedade por mistura que praticamente
mostrava que a evolução por seleção natural não poderia ocorrer deste modo. O
motivo é simples: se a hereditariedade se dá deste modo, qualquer caractere tende
a se diluir em uma população. Jenkin realmente mostrou que se a hereditariedade
se desse por mistura, então o darwinismo poderia ser considerado como refutado.
Para deixar este argumento mais claro, podemos imaginar uma população
feita de frascos de tinta preta. Surge, então, uma variação que consiste em um
indivíduo de tinta branca. No primeiro cruzamento entre este indivíduo branco e
algum outro preto a prole teria um tom de cinza. Mas já no primeiro cruzamento
deste novo indivíduo cinza com outro preto, o cinza se tornaria escuro e assim por
diante até que a população toda chegasse em um cinza tão escuro que seria quase
indistinguível do preto. Ou seja, a mistura tende para a homogeneidade da
população (cf. Dawkins, 2005, p.125). A seleção natural não teria como selecionar
um traço que se misturasse com outro qualquer. Em oposição a isso, a teoria
mendeliana seria como se existissem cápsulas de tinta preta e branca: as cápsulas
se misturariam, mas cada uma delas permaneceria da mesma cor. Só neste
segundo caso a seleção natural poderia escolher qual cápsula estaria melhor
adaptada.
74
Embora esta seja uma crítica importante à teoria de Darwin, a própria
observação da natureza deveria mostrar que esta homogeneização não acontece de
fato. Os fenótipos se misturam, mas não a ponto de criar esta uniformidade da
qual falava Jenkin. Tal uniformidade deveria acabar com todo o tipo de variação,
e a variação dentro e fora das espécies é justamente uma das constatações
fundamentais de Darwin! A teoria “provisória” da pangênese acabou se
mostrando bastante durável, pois um outro fato muito curioso da história das
idéias evolucionistas é que mesmo com a redescoberta de Mendel ainda tivemos
que esperar cerca de 20 anos até que a genética mendeliana fosse unida à evolução
darwinista.
O trabalho de Mendel foi redescoberto, aproximadamente no mesmo ano, a
saber, 1900, por um pequeno grupo de biólogos, dentre os quais se destacava
Hugo de Vries. Seria de se esperar, para quem se acostumou com a “visão
recebida” do darwinismo, que tal redescoberta viesse com um fôlego de ar fresco,
mas este não foi o caso. A interpretação comum do darwinismo feita na época é
que ele estava comprometido com traços que variavam continuamente. Tal fato
provavelmente se devia ao expresso gradualismo de Darwin. Mas a genética
mendeliana mostrava uma típica variação discreta dos caracteres. Para os
primeiros mendelianos como de Vries e William Bateson, este fato mostrava que
a evolução operava através de saltos, o que significava que o lento gradualismo de
Darwin estava errado. Os primeiros mendelianos se declaravam anti-darwinistas e
diziam ter refutado o darwinismo (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.31)! Nas
palavras de Futuyma:
No começo do século vinte, a teoria da mudança evolutiva de Darwin estava em
seu ocaso; ela era rejeitada não somente pelos geneticistas mendelianos, mas
também por muitos paleontólogos que esposavam teorias ‘ortogenéticas’, ou
direcionais (...) (Futuyma, 2002, p.10).
No início do séc. XX, por causa do saltacionismo de De Vries e outros, a
teoria da evolução era frequentemente declarada morta. Tal discussão só foi
resolvida entre as décadas de 20 e 30 por J.B.S. Haldane, S. Wright e R.A. Fisher.
Foi Fisher que, unindo as duas teorias, mostrou como a evolução pode ser
compreendida através de pequenas mudanças genéticas. Já tivemos a
oportunidade aqui de mostrar a idéia fundamental de Fisher através da analogia
com um microscópio que se está querendo corrigir o foco (capítulo 1). Não muito
75
tempo depois, na década de 40, uma nova síntese ocorreu. Esta uniu a síntese
chamada por Mayr de fisheriana, que uniu Mendel e Darwin, mas utilizando ainda
exemplos simples e restritos e sem ser capaz de lidar com a macroevolução e com
a origem da biodiversidade, com uma teoria mais geral da evolução em grande
escala proposta, principalmente, por T. Dobzhansky, J. Huxley e pelo próprio
Mayr, entre outros (cf. Mayr, 2005, p.140).
Esta segunda síntese foi chamada de Síntese Moderna, nome dado pelo
próprio Julian Huxley. Hoje é comum chamá-la também de neodarwinismo ou
síntese evolutiva. Embora Mayr faça questão de separar esta síntese da síntese
anterior, a visão recebida costuma tratar as duas como sendo uma síntese só que
uniu a microevolução entendida sobre a ótica de genética com a macroevolução
capaz de explicar a biodiversidade e a especiação. Esta grande união de micro
com macro formando um conjunto só é a principal responsável pelo que
chamamos aqui de “visão recebida” do darwinismo.
1.7
“Uma vez tendo galgado a escada mendeliana, é preciso jogá-la
fora”? (Dennett, 1998, p.61)
A união da genética mendeliana com a evolução por seleção natural foi uma
grande conquista para o darwinismo, mas mais recentemente as perspectivas
trazidas por Mendel têm sido consideradas como muito simplistas ou até mesmo
erradas. Os problemas na genética mendeliana começaram logo no seu conceito
mais fundamental, a saber, o conceito de gene, e é principalmente dele que
trataremos aqui. Como vimos, a união final entre a genética e a macroevolução se
deu na década de 40. Não muito tempo depois, em 1953, Watson e Crick
desvendaram a estrutura molecular do DNA e logo o DNA passou a ser
identificado com o gene mendeliano. Antes que esta identificação fosse feita, os
quatro nucleotídeos, adenina (A), citosina (C), timina (T) e guanina (G), eram
considerados não como o próprio gene e sim como uma seqüência repetitiva que
servia somente de esqueleto para os genes, estes seriam, no caso, constituídos por
proteínas (cf. Maynard-Smith, 1993, p.70).
76
Uma vez que o DNA foi codificado e identificado com gene, a genética pôde
se desenvolver plenamente. Descobriu-se que os nucleotídeos se unem em trincas,
chamadas de códon, sendo que cada trinca codifica um aminoácido, com exceção
de três trincas que funcionam como uma espécie de pontuação do DNA,
marcando um sinal de parada (UAA, UAG, UGA14). Como esta codificação é
realizada através do RNA e dos ribossomos não é importante aqui. O importante é
que estes quatro nucleotídeos podem se unir em 64 trincas diferentes. Como
existem 20 aminoácidos distintos que eles codificam, então o código genético
permite com que trincas diferentes codifiquem o mesmo aminoácido.
Normalmente é o terceiro nucleotídeo da trinca que pode ser mudado sem que se
mude o aminoácido. A Valina, por exemplo, pode ser codificada por GUU, GUC,
GUA ou GUG. Estes vários aminoácidos codificados pelas várias trincas de um
gene se unem e formam uma proteína com uma estrutura tridimensional
específica. É esta particular característica estereoespecífica que é importante para
determinar a função de uma dada proteína.
No entanto, a relação entre os aminoácidos e o DNA não é tão simples como
parece. Como já foi dito, cerca de 95% do material genético humano, por
exemplo, não codifica nenhuma proteína e este DNA não codificador muitas
vezes está “embaralhado” no meio do próprio DNA codificador. A parte não
codificadora que é descartada na leitura do DNA é chamada de intron, já as partes
que são separadas para serem lidas e traduzidas em RNA são chamadas de exons.
Os introns são muitas vezes longas seqüências de DNA repetitivo e “sem
sentido”. Só este pequeno detalhe já seria suficiente para mostrar que a relação
entre um pedaço do cromossomo e uma proteína que é decodificada por ele é
muito mais complexa do que parece ser a primeira vista. Mas esta relação ainda se
torna mais complicada.
Se quisermos identificar um gene com uma parte física de um cromossomo,
como uma seqüência de nucleotídeos entre o sinal de início e um sinal de parada
que codifica uma proteína, teremos que identificar o gene com o que é chamado
de cistron. Esta identificação é muito comum, mas não é tão imediata e óbvia
quanto parece, pois “genes são muito complexos e extremamente difíceis de
serem definidos” (Futuyma, 2002, p.50). Dawkins segue a definição de Williams
14
A letra U se refere ao Uracil, pois quando o DNA é transcrito para o RNA, o nucleotídeo Timina
é trocado pelo Uracil.
77
para quem o gene é melhor compreendido como um pacote de informação, nas
palavras de Williams:
O DNA é o meio, e não a mensagem. Um gene não é uma molécula de DNA; é a
informação passível de ser transcrita, codificada pela molécula ... o gene é um
pacote de informação, não um objeto (Williams, 1992, 11. in: Sterelny & Griffiths,
1999, p.100. Minha tradução).
Esta definição de gene como um pacote de informação e não como um
pedaço específico de DNA, um cistron, visa deixar o conceito de gene mais
adequado ao estudo da evolução. Tratar o gene como um cistron pode ser muito
útil quando estamos falando da relação entre um indivíduo específico e o seu
genótipo. Neste caso podemos considerar um certo cistron fisicamente
reconhecido nele como um gene específico. Mas ao tratar da evolução esta relação
fica mais confusa. Falamos de um gene que se espalha por uma população através
de inúmeras gerações por um período de milhares ou até milhões de anos.
Considerar que neste caso um gene pode ser identificado com um cistron seria
errado. Aqui não é uma cadeia física de DNA que interessa e sim as suas
múltiplas cópias que se espalham pela população. Nas palavras de Dawkins:
A vida de uma molécula física qualquer de DNA é bastante curta – talvez uma
questão de meses, certamente não mais que a duração de uma vida. Mas,
teoricamente, uma molécula de DNA poderia viver sob a forma de cópias de si
mesmas por cem milhões de anos. (Dawkins, 2001, p.57)
Podemos deixar a separação entre gene e cistron mais clara com um simples
experimento de pensamento: se algum indivíduo qualquer conseguisse traduzir
seus genes para um outro tipo de portador que não fosse o DNA, ele ainda poderia
ser considerado como tendo os mesmos genes, pois carregaria a mesma
informação. O cistron pode ser quem carrega a informação, mas o gene não é o
cistron físico e sim a informação que ele carrega (cf. Dawkins, 1996, p.29)15. “O
que importa é a informação do gene, não sua continuidade física” (Ridley, 2006,
p.335). Como já foi dito, em outras áreas da biologia não há grandes problemas
em identificar o gene com o cistron. Este tipo de problema conceitual é comum na
biologia: vários conceitos são usados de maneiras diferentes dependendo da área
da biologia como, por exemplo, o conceito de espécie.
15
Deve-se ressaltar que Maynard-Smith está correto ao dizer que o conceito de informação usado
na biologia não está claramente definido (1993, p.79)
78
Mas mesmo se o gene fosse identificado com um pedaço físico de um
cromossomo ainda teríamos muitos problemas, pois a relação entre uma seqüência
de DNA e o seu efeito fenotípico não é um-para-um e sim muitos-para-muitos. A
relação “um gene uma proteína” está errada de duas formas: algumas proteínas
são codificadas por mais de um gene. Um caso típico é a hemoglobina que é
montada por quatro genes. Neste caso, temos uma relação muitos-um. Mas há
também o caso mais contraintuitivo de um gene só capaz de montar proteínas
diferentes. Isto é possível através do processo de junção (splicing) alternativa.
Neste caso, o mesmo gene, agora considerado como um pedaço físico do
cromossomo, pode ser lido de mais de uma maneira criando, assim, a relação ummuitos. O que acontece é algo que pode ser chamado de “mistura de exons”.
“Muitas vezes um transcrito de RNA é emendado de formas variadas, produzindo
diferentes mensageiros, e em última análise, proteínas diferentes” (Futuyma,
2002, p.51). Um caso conhecido é o do gene slo, que é muito importante para a
montagem dos pêlos do nosso sistema sensório acústico. Pêlos com graus de
sensibilidade diferentes são codificados pelo mesmo gene lido de várias maneiras
diferentes (cf. Ridley, 2006, p.48). Um caso ainda mais intrigante nos é relatado
por Dawkins quando ele nos fala de um vírus de RNA:
Há um ‘quadro’ que se move ao longo da seqüência do RNA, lendo três letras de
cada vez. É óbvio que, sob condições normais, se o quadro começa a ser lido no
lugar errado (como na chamada mutação frameshift), a leitura fica totalmente sem
sentido: os grupos de três que são lidos se mostram em desacordo com aqueles que
são significativos. Mas esses vírus brilhantes efetivamente exploram a leitura com
deslocamento de quadro. Eles obtêm duas mensagens pelo preço de uma,
embutindo uma mensagem inteiramente diferente na mesma série de letras quando
esta é lida com deslocamento de quadro. Em princípio poderiam ser obtidas até três
mensagens pelo custo de uma, embora eu não conheça nenhum exemplo disso
(Dawkins, 2005, p.180)
Vemos então o exemplo mais claro de relação um-gene-muitas-leituras.
Estes vírus seriam capazes de algo tão espantoso quanto escrever duas frases
distintas não só utilizando as mesmas letras, mas as utilizando também na mesma
seqüência espacial mudando só o ponto onde a frase começa a ser lida. Todas
estas considerações, somadas a outras que não serão tratadas aqui, nos levam a
questionar se seria possível reduzir a antiga genética mendeliana que trata
principalmente de diferenças fenotípicas explicadas através de experimentos de
procriação, à genética molecular, capaz de compreender em detalhes a estrutura
79
molecular do DNA e o seu funcionamento. A questão está em aberto e suas
respostas variam desde que será possível realizar esta redução no futuro até a
resposta de que genes, no sentido mendeliano, não existem e por isso devem ser
abandonados (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.36). Alguns biólogos consideraram
que precisaríamos de mais uma síntese entre a teoria da evolução e as novas
descobertas da biologia molecular, mas outros foram mais longe, considerando
que a biologia molecular, com tudo de novo que aprendemos sobre o
funcionamento dos genes, teriam refutado o darwinismo, pois este se baseava em
uma genética mendeliana (cf.Mayr, 2006, p.149). Mas cabe lembrar que o
surgimento da genética mendeliana também foi considerado como refutador do
darwinismo (seção 1.6).
Os detalhes desta discussão são muito específicos e não nos interessam aqui.
O importante é ter em mente que ao contrário do que nos é indicado pela “visão
recebida” da biologia, o próprio conceito de gene e, principalmente, de gene como
sendo identificado com um pedaço de DNA que codifica uma proteína é, para
dizer o mínimo, inútil para uma boa parte da biologia. A própria genética, que
leva o seu nome, pode, no futuro, descartá-lo, embora isso seja improvável. Mas a
clássica relação “um gene para uma proteína” esta sim já foi descartada por uma
relação muito mais complexa “muitos para muitos”.
1.8
Evo-Devo
Há ainda um último complicador que não diz respeito exatamente à relação
entre um gene e uma proteína e sim sobre a relação entre os genes e seus traços
fenotípicos. Acontece que os avanços da chamada biologia evolutiva do
desenvolvimento, ou evo-devo, nos mostraram que diferenças fenotípicas podem
não ter sua origem em diferenças nos genes e sim em diferenças no momento e no
local do desenvolvimento embriológico onde os genes foram ativados.
Historicamente a evo-devo foi muito desacreditada por causa da chamada lei da
recapitulação de Haeckel: que a ontogenia recapitularia a filogenia. O erro desta
teoria estava em achar que a embriologia seria uma recapitulação dos estágios
80
adultos dos ancestrais do indivíduo em questão (cf. Maynard-Smith, 1993, p.311).
Até Darwin parece ter caído neste erro, como vemos na seguinte passagem:
Agassiz e muitos outros eminentes juízes insistem no fato de que os animais
antigos se parecem, até certo ponto, com os embriões dos animais atuais de mesma
classe; insistem também sobre o paralelismo existente entre a sucessão geológica
das formas extintas e o desenvolvimento embrionário das formas atuais. Esta forma
de analisar está muito bem de acordo com a minha teoria (Darwin, 2004, p.375).
No entanto esta lei está errada, não há recapitulação das formas adultas
ancestrais, o que acontece é que as formas embrionárias atuais conservaram traços
das formas embrionárias de seus ancestrais, e não traços dos ancestrais adultos. O
que a nova versão da evo-devo descobriu é que o processo embrionário não
depende só dos genes existentes mas também da “ativação e desativação de
determinados genes em diferentes momentos e posições ao longo da
embriogênese” (Carroll, 2006, p.19). Como estes “interruptores” não são
considerados como genes, então podemos dizer que o processo embrionário, e
consequentemente o fenótipo que resultará dele, depende muito menos dos genes
do que normalmente se considera (cf. Carroll, 2006, p.108), como vimos no caso
da evolução epigenética (seção 1.5).
Em pouquíssimas palavras, a evo-devo nos mostra como estruturas muito
diferentes podem ser literalmente criadas com os mesmos genes. A idéia que se
encontra por detrás desta teoria é que muitas das mudanças evolutivas podem ser
compreendidas em termos de modularidade, repetições e variações quantitativas
das mesmas estruturas. Compare, por exemplo, um cão e uma cobra. São duas
espécies muito diferentes, mas se pensarmos em termos da evo-devo, elas se
mostram muito mais parecidas do que intuitivamente imaginamos. Se fizermos
algumas mudanças quantitativas as semelhanças entre estas espécies começam a
aparecer. Imaginemos o seguinte: diminuamos mentalmente o tamanho do
cachorro ao mesmo tempo em que alongamos o seu corpo. Multipliquemos, então,
o número de vértebras do cachorro. Agora tiremos as patas e os pêlos, no lugar
dos pêlos coloquemos as escamas que são basicamente construídas com a mesma
substância das unhas do cachorro. O animal que assim criamos mentalmente
certamente não é uma cobra, mas agora já está muito semelhante a uma e fizemos
tudo isso com variações quantitativas das estruturas do cachorro. Prosseguindo
com este experimento poderíamos torná-los ainda mais parecidos. Usando as
81
mesmas estruturas básicas de um cão chegamos a um ser que se assemelha a uma
cobra. Esta é a idéia de modularidade, repetição e variação quantitativa que se
encontra na evo-devo. Vendo os animais pelo ponto de vista da evo-devo,
começamos a perceber que muitas espécies distintas podem ser compreendidas
como modificações diferentes da mesma coisa.
Podemos começar a pensar em determinados grupos – insetos, aranhas e lacraias,
ou aves, mamíferos e répteis, assim como seus parentes fósseis há muito extintos –
não tanto como singularidades, mas como variações de um tema comum (Carroll,
2006, p.150).
Isto acontece porque muitas vezes estruturas completamente diferentes são
construídas literalmente com os mesmos genes. A única coisa que os diferencia é
o momento em que estes genes entrarão em ação no processo embrionário e a
localização onde este efeito surgirá.
Animais completamente diferentes não somente eram construídos com os mesmos
tipos de ferramentas, mas eram construídos com os mesmos genes! (Carroll, 2006,
p.67).
Curiosamente Darwin estava mais certo do que ele mesmo imaginava
quando repetia que “a natureza é pródiga em variedades, mas avara em inovações”
(Darwin, 2004, p.201). Para deixar esta idéia ainda mais clara podemos utilizar a
metáfora criada por Dawkins que nos fala da diferença entre macromutações
“Boeing 747” e “Stretched dc8” (Dawkins, 2001, p.344). Macromutações do tipo
“Boeing 747” são macromutações que se dão ao acaso. Aqui ele faz menção à
crítica de Fred Hoyle que afirmava que a criação de estruturas complexas, como o
olho, através da evolução por seleção natural é tão improvável quanto um furacão
passar por um ferro-velho e montar um Boeing 747 por acaso. Ou seja, é tão
improvável que pode ser considerado impossível.
Contra esta visão errônea da evolução, Dawkins propõe outra mais cabível e
mais adequada: é a da macromutação “Stretched dc8” que, como o nome nos
indica, é só um avião dc8 comum que foi alongado. A diferença entre estes dois
tipos de mutações é que a do dc8 é muito mais razoável. O Stretched dc8 segue
basicamente a mesma estrutura do dc8, só que alongada. Seria necessária só uma
mutação que diga “alongue tudo”, ao contrário da imensa quantidade de mutações
necessárias para criar um Boeing 747 do nada. O tipo de mutação “Stretched dc8”
82
é o que explica o já comentado efeito catraca (seção 1.1): a evolução não tem que
construir o Stretched dc8 do nada, ela o constrói a partir do dc8. Ao fazer um
novo avião a “catraca” evita que o que já tinha sido feito seja perdido, ela retém os
passos que já tomou. Acreditar que a evolução se dá por mutações tipo “Boeing
747” é justamente o erro que se origina por não compreender o papel “catraca” da
evolução. A evolução não se dá ao acaso como sugerido por Hoyle, ela não tem
que desenvolver tudo do zero, apenas “melhora” o já existente.
Neste caso específico, Dawkins está falando sobre macromutações, mas
isso não é relevante aqui, o ponto é que as mudanças evolutivas não são invenções
novas que deram certo do tipo “Boeing 747” e sim a reutilização da mesma
invenção antiga com alguma mudança na regra de sua construção do tipo
“Stretched dc8”. É este tipo de fenômeno que a evo-devo nos mostra com clareza
e, ao fazer isso, nos mostra que o papel dos genes na construção dos fenótipos
pode ter sido superdimensionado. Deste modo, a definição comum do que é um
gene e de qual é o seu papel tem sido abalada pelas novas descobertas tanto da
evo-devo quanto da genética molecular. Os genes mendelianos “construtores de
fenótipos” passam a ser considerados mais como uma simplificação abstrata de
nível superior do que propriamente uma estrutura física da célula.
1.9
Diversidade e Variação
Como já foi dito, uma visão comum da natureza é a de que há pouca
variação entre as espécies (seção 1.1). Aceita-se que grande parte desta variação
está entre uma espécie e outra. É claro que existe uma grande variação e uma
grande diversidade de espécies. Já foram catalogadas cerca de 1,75 milhões de
espécies vivas e cerca de 0,25 milhões de espécies extintas. Estima-se que o
número total de espécies esteja entre 10 e 100 milhões (cf. Ridley, 2006, p.497).
Estes números impressionantes mostram a diversidade e pluralidade da natureza,
havendo ainda muito mais diversidade dentro das próprias espécies.
A constatação da variação intraespecífica é uma das grandes diferenças entre
Darwin e seus contemporâneos, razão pela qual foi considerada aqui como a sexta
83
grande teoria de Darwin. Mayr não a classificou assim, no entanto nos diz que “a
natureza e a extensão da variabilidade era a diferença crucial entre Darwin, que
pensava em termos de população, e seus oponentes essencialistas” (Mayr, 2006,
p.98). Por isso Darwin é considerado como um dos pais do pensamento
populacional, que será melhor explicado na seção 9.3.
Em pouquíssimas palavras, o pensamento populacional é fim do
essencialismo na biologia. O que existe não são essências e sim indivíduos. As
essências que deveriam definir uma espécie são só uma abstração probabilística da
freqüência genética. A visão antiga que tínhamos era de espécies qualitativamente
diferentes entre si. Na visão antiga as diferenças encontradas dentro das espécies
eram irrelevantes. Na nova visão trazida pelo pensamento populacional elas são
de extrema importância, pois são elas que nos permitem quantificar a evolução.
Na visão antiga a diferença entre as espécies era a única diferença que importava,
pois era a única diferença essencial. Na visão nova a diferença entre as espécies é
também uma diferença quantitativa, pois o que define as espécies são as
freqüências gênicas de uma população. Nas palavras de Mayr:
É essa variação entre os indivíduos peculiarmente diferentes que tem realidade, ao
passo que o valor estatístico mediano calculado dessa variação é uma abstração
(Mayr, 2005, p.104.)
Isto quer dizer que a seleção natural não precisa ficar esperando que novas
mutações surjam, pois em qualquer momento ela já conta com um estoque de
variações dentro da espécie onde ela pode atuar (cf. Ruse, 1995, p.37). É claro que
existem casos de espécies com pouca variação genética, como acontece
principalmente em pequenas populações que estão sofrendo uma forte pressão da
seleção natural. Na verdade, desde Darwin já se sabia que existia muita variação
intraespecífica, mas a quantidade de variação acabou se mostrando maior do que o
esperado, como vemos na seguinte passagem:
A revelação da existência de toda essa variação foi um certo choque nos anos 20 e
30, quando a uniformidade genética era tida como certa. Ela resultou numa onda de
novas opiniões entre muitos geneticistas, liderados por Theodosius Dobzhansky:
uma população é um conjunto imensamente diverso de genótipos e não existe algo
como o genótipo do tipo selvagem ou normal; ao invés disso, a norma é a
diversidade. As palavras ‘normal’ e ‘anormal’ começaram a perder seu significado
(Futuyma, 2002, p.100 - 101).
84
A surpresa da quantidade de variação se deu porque a seleção natural não é
um processo que causa variação, muito pelo contrário, ela normalmente freia a
variação impedindo que mutações deletérias permaneçam. A seleção natural
normalmente contribui para fixar um gene dentro de uma população, isto quer
dizer que ela normalmente privilegia um gene em oposição aos seus alelos, outros
genes que competem pelo mesmo lócus, mesma posição nos cromossomos. Em
outras palavras, ela normalmente diminui a variação.
Os motivos para que muita variação ainda permaneça existindo são
numerosos. O mais óbvio é que nem todo o genoma está sujeito à evolução. Como
já foi dito, cerca de 95% do genoma humano não codifica proteínas. Dos genes
que codificam proteínas, como o código genético permite que diferentes trincas de
nucleotídeos codifiquem o mesmo aminoácido, então algumas mudanças são
sinônimas, isto é, não mudam a forma da proteína. São as mutações que
normalmente ocorrem na terceira posição do códon. Todas estas mutações que
não implicam em mudanças nas proteínas são consideradas como mutações
neutras ou silenciosas e dificilmente a seleção natural é capaz de eliminá-la.
Existem ainda outras razões para a manutenção da variação (cf. MaynardSmith, 1993, p.171). Em uma mesma espécie podemos ter tipos ligeiramente
diferentes adaptados a ambientes também ligeiramente diferentes. Devemos
lembrar dos cães, por exemplo, que embora sejam muito diferentes entre si, são
todos da mesma espécie. Há ainda a chamada vantagem do heterozigoto, quando o
indivíduo mais adequado é justamente aquele que tem dois alelos diferentes em
seu genoma, ao contrário do homozigoto que tem duas cópias do mesmo alelo. O
caso clássico da vantagem do heterozigoto é o da anemia falciforme: em partes da
África há uma quantidade incomum desta doença genética. Este fato acontece
porque os portadores heterozigotos do gene que causa esta doença não
desenvolvem a doença e ainda por cima são mais resistentes à malária. É
justamente o fato deles serem heterozigotos, ou seja, terem um alelo “sadio” e
outro portador da doença, que causa esta maior resistência à malária. Por isso, em
ambientes onde há muitos casos de malária, o heterozigoto é selecionado, mesmo
que isto aumente a probabilidade de cruzamento entre dois heterozigotos que
podem ter como filho um homozigoto, este sim desenvolverá a anemia falciforme.
Há também a chamada seleção dependente da freqüência (cf. Ridley, 2006,
p.156). Esta acontece quando o valor adaptativo de um gene depende da
85
freqüência em que ele é encontrado: quanto mais raro, maior seu valor adaptativo.
O exemplo clássico é o da relação entre os sexos (cf. Dawkins, 1996, p.99). Em
uma população onde há mais machos do que fêmeas, é melhor ter filhos que
sejam fêmeas, pois nesta população alguns machos não conseguirão procriar,
serão “becos sem saída” para os genes. Já em uma população onde há mais fêmeas
do que machos, a melhor “estratégia” é ter filhos machos, pois um mesmo macho
pode ter vários filhos com várias fêmeas. Esta espécie de “gangorra” da seleção
natural é justamente o que garante que a relação entre machos e fêmeas na maioria
das espécies seja meio a meio. A heterozigosidade causada pela vantagem do
heterozigoto ou pela seleção dependente da freqüência podem também causar
variabilidade genética. Esta variabilidade é constatada nas espécies existentes, nas
palavras de Ridley:
duas moléculas de DNA humanas, selecionadas aleatoriamente (incluindo duas
dentro de qualquer corpo humano), diferem em cerca de 1.000 sítios. O DNA
humano pode ser menos diverso do que o de muitas outras espécies (...). O DNA de
Drosophila possui uma diversidade nucleotídica quase 10 vezes maior do que o do
DNA humano (Ridley, 2006, p.191)
No caso da Drosophila melanogaster é estimado que exista pelo menos uma
mutação por mosca, por geração, afetando sua viabilidade (cf. Futuyma, 2002, p.
78). Estas explicações de porque há variação dentro das espécies são interessantes,
mas não são importantes para o presente trabalho. O que se deve levar em
consideração é que há muita variação e também muitos tipos de variação. São
vários os tipos de mutação: temos desde as trocas sinônimas que já vimos, até a
multiplicação de genomas inteiros como no caso já mencionado da poliploidia.
Entre estes dois extremos temos diferentes trocas simples de um só nucleotídeo.
Temos também a troca de fase, onde a leitura das trincas de nucleotídeos são lidas
na seqüência errada, como no caso do vírus que é capaz de passar “duas
mensagens pelo preço de uma”. Há o deslizamento, “quando a fita de DNA que
está sendo copiada desliza em relação à nova fita que está sendo criada” (Ridley,
2006, p.52-53), o que pode causar ou a perda ou a repetição de um grupo de
nucleotídeos. Pode haver uma leitura invertida do cromossomo, repetições de
cromossomos inteiros, etc. Há também a transposição, conhecida como “genes
saltadores” ou transposons onde um gene é capaz de copiar a si mesmo em outra
parte do genoma (cf. Waizbort, 2000, p.172). A mutação que faz as ervilhas de
86
Mendel serem mais altas ou mais baixa é um simples substituição de G por A em
um gene que produz uma enzima, isto faz com que uma variedade produza 95% a
menos de hormônio do crescimento. Já a diferença entre as ervilhas lisas e as
rugosas se dá por causa da inserção de uma seqüência de 800 pares de base em um
gene de uma enzima, que acaba reduzindo a síntese de amido e gerando sementes
rugosas.
Toda estas variações criadas podem ainda ser misturadas através do
processo de recombinação (crossing-over). Muitos seres são diplóides, ou seja,
tem metade de seus cromossomos dos pais e metade da mãe. Na formação do
gameta, espermatozóides e óvulos no nosso caso, só um de cada cromossomo é
passado para o filho por cada parente. Na fecundação eles se unem e formam um
novo ser diplóide. Se não houvesse a recombinação, o filho receberia
cromossomos idênticos aos do pai e aos da mãe que, por sua vez, seriam idênticos
ao de seus avôs e/ou avós, e assim por diante. Mas isso não acontece desta
maneira, os cromossomos que estão tanto no pai quanto na mãe, e que foram
recebidos dos pais deles, seus avós, se misturam durante o processo de
recombinação, durante a formação dos gametas. Assim, na criação do gameta, os
cromossomos que vieram do avô e da avó se unem em pares de cromossomos
semelhantes, se misturam e voltam a se dividir, ficando um de cada cromossomo,
agora misturado, em cada gameta.
A recombinação é algo semelhante a um embaralhar de cartas antes que
sejam divididas. Imagine que os cromossomos do avô em questão sejam só cartas
pretas e da avó sejam só cartas vermelhas. O filho deles terá metade do seu
cromossomo preto e a outra metade vermelho. Mas quando ele for produzir seus
espermatozóides, as cartas pretas e vermelhas se embaralham e depois voltam a se
dividir. Deste modo, seus espermatozóides terão uma gama de diferentes
combinações de cartas vermelhas e pretas. O mesmo acontecerá na formação do
óvulo da mãe.
Deste modo, a recombinação não cria diversidade genética, mas amplia a
possibilidade de variação fenotípica usando os mesmos genes. Possibilita
inúmeras combinações de genes nos variados gametas e a reprodução sexual ainda
permite que gametas diferentes se encontrem. Isto cria uma grande possibilidade
de diversidade fenotípica. No entanto, a recombinação não respeita a fronteira dos
87
genes, ele pode separar um gene no meio e juntar com outro. Nas palavras de
Futuyma:
Novas seqüências de pares de base, surgindo por recombinação intragênica,
poderiam codificar aminoácidos diferentes daqueles codificados pelas seqüências
dos progenitores (Futuyma, 2002, p.71).
Deste modo podemos ter uma mistura de dois alelos diferentes que acabam
por criar um terceiro alelo. Seria como se duas das cartas já citadas fossem
cortadas ao meio e depois combinadas. É um verdadeiro processo de variação
criando variação sem a necessidade do surgimento de uma nova mutação.
No entanto, mesmo se esta recombinação não existisse, a diversidade
genética ainda seria muito grande. Podemos ver isso pela taxa de mutação. “Uma
estimativa clássica memorável da taxa de mutação por gene por genoma [nos
humanos] é de uma em um milhão (10-6)” (Ridley, 2006, p.56). Como todo o
genoma é copiado cada vez que uma célula se reproduz e como as células têm que
se reproduzir várias vezes até que o óvulo e, principalmente, o espermatozóide
sejam produzidos, então a quantidade de mutações que ocorre cada vez que um
ser humano se reproduz é de aproximadamente 200 mutações (cf. Ridley, 2006,
p.207). Estes dados dizem respeito às novas mutações surgidas a cada reprodução.
O surgimento de novas mutações é um acréscimo na variabilidade genética de
uma população. Mas se não houvesse estruturas nas células capazes de corrigir as
mutações que ocorrem, teríamos uma taxa de mutação que poderia ser de até 1
para cada 100 (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.86). Ou seja, altíssima! É a
capacidade da célula de reparar seu próprio DNA que diminui drasticamente a
taxa de mutação.
Mantendo a taxa de mutação existente nos seres humanos, Cavalli-Sforza,
um dos maiores geneticistas vivos, nos diz que se tomarmos o DNA de um
espermatozóide (ou óvulo) e o compararmos ao DNA de outro espermatozóide
escolhido a esmo, verificaremos que, em média, haverá um par diferente de
nucleotídeos a cada mil pares. Portanto, existem pelo menos 3 milhões de
diferenças entre o DNA de um espermatozóide (ou óvulo) e o DNA de outro.
Todas elas originaram-se em algum momento por mutação, erros espontâneos
cometidos na cópia do DNA, que em geral envolve a substituição de um
nucleotídeo por um outro dos quatro (cf. Cavalli-Sforza, 2003, p.97).
88
Alguns vírus podem ter taxas de mutações ainda mais altas. O vírus da
AIDS tem cerca de 104 nucleotídeos e tem uma taxa de mutação de cerca de 10-4.
Como cerca de 1012 vírus novos são gerados diariamente em cada indivíduo
médio com AIDS, então:
podemos estar certos de que cada posição ao longo da extensão de 104 nucleotídeos
do vírus sofrerá mutação a cada dia em um paciente com AIDS. Na realidade, cada
mutação nucleotídica individual possível ocorrerá muitas vezes, juntamente com a
maioria das combinações possíveis de mutação em dois nucleotídeos (Ridley, 2006,
p.118)
Teremos, então, uma população de vírus todos diferentes entre si em relação
a pelo menos um nucleotídeo. Todos estes dados nos mostram a ubiqüidade da
variação no mundo natural. A seleção natural tem sempre muito espaço para atuar
e, como acabamos de ver, a sua atuação ainda retém muita variação. No entanto,
alguns fatos parecem estar em discordância. O primeiro deles é que o processo de
duplicação do DNA é quase perfeito com um número mínimo de erros. O segundo
é que a seleção natural precisa de uma baixa taxa de mutação para poder atuar.
Dawkins nos dá o exemplo do gene da Histona H4, um gene de 306
nucleotídeos que é possuído em uma sequência quase idêntica em seres tão
diferentes quanto vacas e ervilhas. O ancestral comum entre elas viveu há cerca de
1,5 bilhão de anos e deve ter possuído este gene, mesmo assim, em todo este
tempo, os genes da vaca e da ervilha se modificaram em só 2 dos seus 306
caracteres. O número de cópias perfeitas que foram feitas é inimaginável.
Dawkins diz que é como se uma datilógrafa conseguisse copiar a bíblia 250.000
vezes errando apenas uma letra em todo este processo (cf. Dawkins, 2001, p.187)!
É claro que esta imagem é um tanto simplista, e Dawkins admite isso, pois os
organismos possuem inúmeros instrumentos de revisão e correção de erro que são
os principais responsáveis pela alta fidelidade da replicação. Sem eles teríamos
cerca de 5.000 letras de DNA degeneradas por dia em cada célula humana (cf.
Dawkins, 2001, p.190).
Além disso, há o papel da seleção natural. Esta pode estar impedindo quase
qualquer mudança no gene da Histona H4, selecionando negativamente as novas
mutações. Tudo isso garante que certos genes sofrerão muito pouca mudança. Há
ainda o problema de que a taxa de mutação tem que ser relativamente baixa para
que a seleção ocorra, nas palavras de Sterelny & Griffiths:
89
Outra exigência da seleção acumulativa é uma taxa de mutação relativamente
baixa. Se a taxa de mutação for muito alta relativamente à força da seleção, então o
mecanismo que gera a variação soterrará os efeitos da seleção (Sterelny &
Griffiths, 1999, p.36. Minha tradução).
Muitas mutações ocorrendo ao mesmo tempo tornam a seleção inútil. A
seleção precisa de tempo para atuar, este tempo é contado em gerações. Quanto
mais baixa for a força da seleção, maior o tempo de que ela precisa até fixar um
gene, ou seja, até fazer com que um gene mutante passe a ser possuído por toda a
população. Se a taxa de mutação for muita alta, ela atrapalhará o processo de
seleção, pois ocorrerão mutações não só no gene em questão como também nos
outros genes já fixados na população com os quais este novo gene deve trabalhar
junto. Para a seleção fixar um gene, este deve ser “visível” para ela, isto quer dizer
que seus efeitos têm que apresentar uma certa consistência na melhora reprodutiva
dos indivíduos que o possuem. Isto só é possível se este gene puder se destacar em
relação a seus alelos, mas ele só conseguirá fazer isso se ambos estiverem em um
mesmo fundo, trabalhando com os mesmo genes. Se cada alelo de um mesmo
gene trabalhar com um conjunto de genes diferentes, não há como a seleção
descobrir qual é o melhor dos referidos alelos.
Como veremos ainda neste capítulo, uma parte importante do ambiente de
um gene são os outros genes com os quais ele tem que trabalhar (seção 1.12.5). É
em relação a estes outros genes que as novas mutações são selecionadas. Se uma
espécie tiver uma taxa de mutação muito alta, estas interações entre genes não
serão consistentes o suficiente para que tal mutação seja selecionada. Se tal taxa
alta de mutação disser respeito só a este gene e não a todo o genoma, então ela
tenderá a desfazer justamente o que a seleção está tentando fixar. Mas também se
a taxa de mutação for muito baixa, a seleção não terá com o que trabalhar. No
entanto, uma pressão seletiva baixa não encontrará problemas com uma baixa taxa
de mutação. Do mesmo modo uma forte pressão seletiva, pode trabalhar com
taxas mais altas de mutação, pois tenderá a eliminar todo o excesso de mutação
que atrapalharia a seleção.
Vemos, então, que existe um equilíbrio entre a seleção, que normalmente
elimina a variabilidade, e a mutação que a cria. Mas dentro deste equilíbrio não é
só possível, como é necessário para a seleção natural que exista muita variação e
diversidade. Considerar o mundo natural como tendo só variação entre as
90
espécies, mas pouca variação dentro das espécies é um dos erros mais comuns e
que mais atrapalham a compreensão de como a seleção natural de fato age. A
seleção natural não é uma longa espera de seres uniformes para que uma mutação
benéfica ocorra. Se fosse assim, os críticos que dizem que a seleção se dá ao acaso
estariam corretos, pois a chance de uma mutação ser benéfica é muito pequena.
Ao contrário disso, muita variação já existe quando a seleção passa atuar por
causa de alguma mudança no ambiente. Não é a seleção que fica esperando a
mutação, é a variação que fica esperando a seleção!
1.10
Cladismo: criando histórias
Desde os primórdios da biologia, uma das preocupações básicas tem sido a
classificação das espécies. A classificação mais conhecida, e ainda usada até hoje,
é a de Lineu que em seu Systema Naturae (1735) classificou as espécies em uma
ordem hierárquica crescente, usando o famoso método binômico com o nome do
gênero primeiro, e em maiúsculo, e o nome da espécie depois, em minúsculo,
ambos em Latim. Lineu também fez questão que a sua classificação não fosse
antropocêntrica e sim uma classificação que buscasse a ordem natural do mundo.
Mas em sua época Lineu não tinha nem os objetos físicos e nem as técnicas
matemáticas para fazer uma classificação mais rigorosa.
As técnicas de classificação se desenvolveram muito desde Lineu e hoje
encontramos várias escolas distintas de classificação. Uma das mais conhecidas é
a chamada taxonomia evolutiva, que classifica os animais levando em
consideração a sua história evolutiva. Há também os taxonomistas que ignoram a
evolução em seus estudos classificatórios e utilizam os padrões de semelhança
fenotípica entre as espécies, junto com poderosas ferramentas matemáticas, para
fazer suas classificações. A distinção e a discussão, às vezes exagerada, entre as
diferentes escolas de classificação não serão tratadas aqui (cf. Dawkins, 2001,
p.403 em diante). O importante é que pode haver várias formas de classificar as
espécies, mas só há uma história evolutiva verdadeira. Hoje em dia só uma escola
91
classificatória se preocupa em montar a real história evolutiva, é o chamado
cladismo.
Em primeiro lugar é preciso deixar claro que há uma distinção entre ser uma
boa teoria classificatória e ser uma boa teoria para montar a história evolutiva.
Uma classificação pode ter vários propósitos e nem em todos os propósitos a
história real precisa ser considerada. Em uma família humana, por exemplo, só há
uma história de descendência verdadeira, mas há várias formas de classificá-la:
podemos separar quem gostamos de quem não gostamos, quem mora em cada
estado, separar por idade, por sexo, por renda etc. O mesmo se dá na biologia. É
inegável que as ferramentas cladísticas, que serão brevemente apresentadas aqui,
são as mais capazes de descobrir a história evolutiva, mas isso não quer dizer que
ela seja a melhor teoria classificatória. No entanto, é preciso deixar claro que, se
buscamos, como Lineu buscava, uma classificação independente do ser humano,
então a cladística tem uma vantagem, pois não se importa exclusivamente com
semelhanças observáveis.
Há, é claro, fervorosos defensores da cladística. Podemos ver a sua origem
até mesmo em Darwin quando ele disse que “toda classificação real é, pois,
genealógica” (Darwin, 2004, p.442). Uma classificação genealógica é, de fato,
algo que distingue a classificação encontrada na biologia de outros tipos de
classificação. Afinal de contas, só indivíduos capazes de se reproduzir podem ter
linhagens genealógicas e só eles podem ser classificados deste modo.
O procedimento básico do cladismo é procurar por grupos taxonômicos
monofiléticos, em oposição a grupos parafiléticos e polifiléticos. Grupos
monofiléticos são grupos que contém todos os descendentes de um ancestral
comum e só estes descendentes. Grupos parafiléticos contêm alguns, mas não
todos os descendentes de um ancestral comum. Já os grupos polifiléticos podem
ser divididos internamente em outros grupos que contém ancestrais mais próximos
com grupos externos ao grupo polifilético do que dentro do próprio grupo. Para
deixar mais claro, imagine uma família que consiste em um avô (A), como dois
filhos (B e C) e quatro netos, sendo dois de cada filho (b e b’; c e c’). Considere
que só os netos estão vivos. O grupo b e b’ ou o grupo c e c’ são ambos
monofiléticos, pois ambos contêm os descendentes e só os descendentes de B ou
C. São o que chamaríamos de espécies irmãs. Já o grupo b, b’ e c é parafilético,
pois contém só os descendentes de A, mas não contém todos. Já o grupo b e c, e
92
também b’ e c, c’ e b, c’ e b’, são todos polifiléticos, pois os indivíduos dos seus
grupos são mais próximos de indivíduos externos do que entre si.
Grupos monofiléticos são os únicos que indicam uma descendência próxima
e os únicos que o cladismo aceita. Os problemas começam quando temos que
descobrir qual grupo é monofilético. Para isso os cladistas procuram as chamadas
homologias derivadas. As homologias e as homoplasias são caracteres
compartilhados pelas espécies. Os caracteres podem ser macroscópicos, como a
presença de algum órgão, ou molecular, como uma seqüência cromossômica. A
homoplasia é semelhante ao que era chamado de analogia (seção 1.3.4), ou seja,
algo compartilhado por duas espécies, mas que não estava presente em seu
ancestral comum. Neste caso as duas espécies desenvolveram tal caractere
semelhante independentemente por evolução convergente e, por isso, ele não
serve para nos dar a genealogia. Um bom exemplo que nos é dado por Dawkins é
o da ecolocalização nos morcegos e em alguns pássaros:
Observamos todos os milhares de espécies de aves e constatamos que a vasta
maioria delas não usa a ecolocalização. Só dois gêneros isolados o fazem, e nada
tem em comum um com o outro, exceto o fato de ambos viverem em cavernas.
Embora acreditemos que todas as aves e morcegos devem ter tido um ancestral
comum, se reconstituirmos suas linhagens até um passado suficientemente remoto,
esse ancestral comum também foi o de todos os mamíferos (incluindo nós mesmos)
e de todas as aves. A grande maioria dos mamíferos e a grande maioria das aves
não usam a ecolocalização, e é muito provável que seu ancestral comum também
não a tenha usado (tampouco ele voava – essa é outra tecnologia que evoluiu
independentemente várias vezes). Portanto, a tecnologia da ecolocalização foi
desenvolvida de modo independente por morcegos e aves. (Dawkins, 2001, p.146147)
Podemos perceber que este raciocínio é probabilístico. Seria possível que
todos os mamíferos e todas as aves tivessem ecolocalização, mas tivessem
perdido, sendo que só estas aves e morcegos tivessem retido. No entanto, isto
seria bastante improvável e com certeza muito menos provável do que acreditar
que estes dois grupos conseguiram desenvolver a ecolocalização separadamente.
Fazer a escolha mais provável, que é sempre a escolha que depende do menor
número de mudanças evolutivas, é algo comum e faz parte das técnicas
cladísticas, onde é conhecida como “princípio de parcimônia”. Nas palavras de
Dawkins:
93
Não é provável, especialmente se grande parte da evolução molecular é neutra, que
a mesma seqüência, palavra por palavra, letra por letra, viesse a aparecer em dois
animais não aparentados. (Dawkins, 2001, p.399)
Uma vez rejeitadas as homoplasias, ficamos com as homologias. Estes são
caracteres compartilhados e que estavam presentes no ancestral comum. Mas as
homologias também podem ser divididas em “ancestrais” e “derivadas”. Para
fazer esta diferenciação temos que ter um determinado grupo de espécies em
estudo. Se a homologia estava presente no ancestral de todos deste grupo, então
ela é uma homologia ancestral. Como está presente no ancestral de todo o grupo,
então não nos serve para dividir este grupo em várias espécies irmãs. Já se a
homologia surgiu depois deste ancestral comum entre as espécies estudadas, então
ela é uma homologia derivada e pode ser usada para dizer que este subgrupo de
espécies, que tem esta homologia derivada, estão mais próximos entre si do que
estão das outras espécies do grupo. Gould nos dá um ótimo exemplo encontrado
em um panfleto de museu:
Tubarões, salamandras, lagartos, cangurus e cavalos possuem, todos, uma espinha
dorsal composta de vértebras, e pertencem a um grande grupo chamado
vertebrados. Dos animais mencionados, apenas as salamandras, lagartos, cangurus
e cavalos possuem quatro membros. De modo que são mais aparentados e
pertencem a um grupo chamado tetrápodes, que significa ‘quatro pés’. Entre os
tetrápodes, os lagartos, os cangurus e os cavalos desenvolvem-se em ovos
impermeáveis, postos pela mãe ou mantidos dentro da mãe até o nascimento do
embrião. A membrana impermeável dentro do ovo é chamada âmnio, de modo que
os lagartos, cangurus e cavalos pertencem a um grupo chamado amniotas. Somente
os cangurus e os cavalos produzem leite para suas crias e têm três ossos nos
ouvidos para conduzir vibrações sonoras. De modo que eles são mais aparentados,
e pertencem a um subgrupo dos amniotas chamado mamíferos (Gould, 1997, p.314)
Podemos ver claramente como este folheto vai identificando as homologias
derivadas e separando os grupos através delas. Neste caso específico a
classificação cladística chegou ao mesmo resultado do que e classificação de
Lineu. Isto é muito comum, já que as diferenças fenotípicas com que ele trabalhou
normalmente são homologias derivadas. No entanto, o caso dos peixes e o dos
répteis apresenta divergências: alguns répteis, no caso os crocodilos, têm parentes
mais próximos com as aves do que com outros répteis; alguns peixes, no caso os
peixes pulmonados, têm parentes mais próximos com alguns mamíferos do que
com outros peixes. Por isso, para os cladistas, o grupo “peixes” e o grupo
94
“répteis” simplesmente não existem. Para não ficar só corrigindo a hierarquia de
Lineu, eles propõem uma nova forma de classificação chamada de filocódigo.
Há vários problemas que podem ser apresentados contra a classificação
cladística, dentre eles um dos mais importantes é que eles ignoram a
transformação filética, quando uma espécie se transforma em outra sem que haja
uma bifurcação, e também ignoram a blastação, onde uma espécie dá origem a
uma outra espécie, mas a espécie “pai” continua existindo (cf. Wilson, 1999,
p.57). Para os cladistas nada disso acontece, eles só levam em consideração as
bifurcações onde uma espécie dá origem a duas novas espécies irmãs. A
transformação filética não existe e a blastação é tratada como uma bifurcação
comum. No entanto, mesmo os críticos dizem que o cladismo é nossa melhor
teoria para conhecer a genealogia das espécies, mas criticam seu purismo. Nas
palavras de Gould:
O cladograma da truta, do ceratodonitídeo e do elefante é indubitavelmente
verdadeiro, como uma expressão da ordem de ramificação no tempo. Mas será que
a classificação deve basear-se somente na informação cladística? O celacantino
parece peixe, tem gosto de peixe, age como peixe e, portanto – num sentido
legítimo e além de uma obstinadamente tacanha tradição - , é um peixe (Gould,
1992, p.362).
No entanto, as disputas pela classificação não nos interessam aqui, desde
que fique claro que o cladismo é inquestionavelmente a nossa melhor forma de
descobrir a verdadeira genealogia das espécies. Na teoria, o cladismo é muito
simples e elegante, procura descobrir quais espécies são irmãs, descobrindo quais
grupos são monofiléticos através da identificação de homologias derivadas ou,
sem o jargão, descobrir quais espécies são irmãs descobrindo quais caracteres são
compartilhados por elas e só por elas. Mas colocar esta identificação na prática
pode ser bastante complicado. Ainda nas palavras de Gould:
Infelizmente a elegância conceitual não assegura uma fácil aplicação. A
dificuldade, nesse caso, está em determinar o que precisamente é ou não é um
caráter derivado compartilhado (Gould, 1992, p.357).
É claro que os cladistas contam com inúmeras técnicas, mas nenhuma delas
é reputada como infalível e quase todas dependem de análises probabilísticas
como o já citado princípio da parcimônia. Já as técnicas que não dependem deste
95
princípio podem entrar em franca oposição com ele, criando árvores filogenéticas
diferentes (cf. Futuyma, 2002, p.318).
A separação entre homologias e homoplasias pode ser feita porque no caso
das homoplasias o caractere em questão normalmente se diferencia em algumas
estruturas, mostrando que eles tiveram uma origem ancestral diferente. Um
exemplo é o das asas das aves e dos morcegos: ambos são asas e servem para
voar, mas a estrutura bem diferente entre as duas indica que elas tiveram uma
origem ancestral diferente. Mas homologias geralmente têm estruturas muito
parecidas entre si, mesmo quando há uma certa variação.
Já a separação entre homologias derivadas e ancestrais algumas vezes pode
ser fácil de se fazer, como no caso em que há um bom estudo fóssil justamente do
ancestral comum entre as espécies em questão. Neste caso, se o fóssil tinha o
caractere, então a homologia é ancestral, se não tinha é derivada. Quando não
temos o estudo fóssil, podemos utilizar a técnica da “comparação com o grupo
externo”. Escolhe-se uma outra espécie que já se sabe ser estreitamente
relacionada ao grupo que se está estudando, mas que não pertence
filogeneticamente ao grupo. O caractere naquele grupo provavelmente será o
caractere ancestral, pois, se seguirmos o princípio da parcimônia, esta é a hipótese
que depende de um menor número de trocas evolutivas. Mas, “como todas as
técnicas de inferência filogenética, a comparação com o grupo externo é falível”
(Ridley, 2006, p.458).
Para piorar, a maioria das técnicas filogenéticas nos dão o que é chamado de
“árvore sem raiz”, ou seja, nos dão a relação entre diversas espécies dizendo quais
são mais próximas entre si, mas não nos dizem quais, dentro de uma linha de
tempo, são mais antigas e quais são as mais recentes (cf. Ridley, 2006, p.463). É
como se no caso da família A, B, C, b, b’, c, c’, já citada, soubéssemos quais
parentes estão mais próximos de quais parentes, mas sem sabermos que A é o avô
e, por isso, o ancestral comum de todo o resto, a raiz desta árvore. Existem, é
claro, técnicas para descobrir onde fica a raiz. Uma técnica muito utilizada é
justamente o princípio de parcimônia: a raiz ficará localizada no ponto onde a
árvore proveniente dela será a árvore com o menor número de trocas evolutivas
em relação as outras árvores possíveis. Mas além desta suposição ser
probabilística e ser perfeitamente possível que uma árvore com mais trocas seja a
verdadeira, ainda há o fato de que quando se estuda um grupo grande de espécies
96
o número de árvores possíveis pode ser muito grande para ser humanamente
computável.
Há ainda um problema que talvez seja insolúvel, pois é dado como fato que
diferentes espécies, e até mesmo diferentes reinos, são capazes de trocar genes
entre si. Neste caso de transferência horizontal a classificação ramificada em
forma de árvore não faz sentido, pois ramos separados poderiam voltar a se
cruzar. Esta questão será melhor trabalhada na próxima seção. No momento o que
é preciso deixar claro é que a nossa melhor teoria para definir uma genealogia tem
problemas, mesmo quando utiliza evidências moleculares. A história da
taxonomia nos mostra uma grande quantidade de erros ao construir árvores
filogenéticas e a biologia molecular, embora seja um instrumento poderoso que
vai diminuir muito os enganos, ainda é capaz de falhar (cf. Ridley, 2006, p.475).
Mas mesmo quando não falha, em alguns casos simplesmente não há evidência
fóssil suficiente para se trabalhar com a genealogia de seres a muito extintos e, em
outros casos, os problemas são matematicamente muito extensos. Felizmente na
maioria dos casos as árvores filogenéticas podem ser construídas sem muita
contestação, mesmo dependendo de inferências probabilísticas. Mas esta técnica,
como qualquer outra técnica em ciência, é falível.
1.11
Juntos Somos Um
Por costume, ao pensar nos seres vivos, normalmente pensamos em seres
pluricelulares. Nossas imagens costumam dizer respeito a organismos muito bem
definidos onde se pode fazer uma separação clara entre o que é ele e o que não é.
Isto acontece mesmo quando consideramos diferentes organismos que cooperam
entre si, como peixes que limpam outros peixes, anêmonas onde vivem peixespalhaço, fungos que são criados por formigas etc. Mas não é raro que as relações
na natureza possam ser muito mais íntimas, tão íntimas que outrora diferentes
indivíduos deixem de ser considerados como indivíduos separados.
No caso de seres que co-evoluem, encontramos duas espécies que causam
uma pressão seletiva uma na outra de modo que elas evoluam juntas. Neste caso,
97
se for feito uma análise genealógica destas duas espécies encontraremos duas
filogenias espelhadas, ou seja, duas filogenias mantendo a mesma ordem de
ramificação. A simples co-adaptação entre duas espécies, o simples fato de que
uma está adaptada a outra e vice-versa, não pode ser considerado evidência
suficiente de co-evolução, pois é possível que, por acaso, duas espécies tenham
convergido de forma que eventualmente se adaptem uma a outra (cf. Ridley,
2006, p.635). Também é preciso separar co-evolução de evolução seqüencial. Esta
se dá quando uma espécie se adapta a outra, mas não vice-versa, ou seja, quando
uma espécie depende da outra e por isso se adapta a ela, mas esta outra não
depende dela e por isso evolui por outros motivos.
Talvez o caso mais comum de co-evolução seja o caso parasita-hospedeiro.
Neste caso já foram descobertas co-filogenias (cf. Ridley, 2006, p.649). O
hospedeiro está sempre evoluindo para se livrar do parasita e o parasita para
permanecer no hospedeiro. Há também o caso, que pode ser considerado
semelhante, entre predador e presa. Mas há o caso menos intuitivo de que os
diferentes genes de um mesmo indivíduo podem ser considerados como diferentes
unidades que estão co-evoluindo. Nas palavras de Dawkins: “Cada gene é
selecionado por sua capacidade de cooperar eficazmente com a população de
outros genes que ele tende a encontrar nos corpos” (Dawkins, 1998, p.251). O
ambiente de um gene não é só o meio exterior, mas são também os outros genes
com os quais ele deve cooperar para continuar existindo. Como um organismo
deve funcionar como um todo, uma mudança em um gene pode gerar uma pressão
evolutiva nos outros e vice-versa.
Esta imagem de que “somos colônias gigantescas de genes simbiontes”
(Dawkins, 2001, p.204) pode ser estranha, pois normalmente tratamos os
organismos como uma unidade e os genes são partes desta unidade. Mas na
história evolutiva, como foi apresentado no início deste capítulo, é provável que
os primeiros organismos tenham sido justamente indivíduos diferentes que
passaram a cooperar. Temos ainda hoje um ser vivo conhecido como volvox, que é
aproximadamente o tipo de colônia de umas poucas centenas de células
eucarióticas que se imagina que teriam dado origem aos primeiros seres
pluricelulares (cf. Dawkins, 1998, p.311). Bonner nos dá vários outros exemplos
deste tipo onde um organismo aparentemente pluricelular na verdade deve ser
98
melhor entendido como uma colônia de organismos unicelulares trabalhando em
conjunto para um fim comum (Bonner, 1980, p.72).
Esponjas também podem ser consideradas como uma colônia, mas mantém a
impressionante habilidade de se recompor quando são desfeitas. Margulis nos
conta de um procedimento onde duas esponjas diferentes, uma amarela e uma
laranja, são espremidas em uma gaze, desfeitas e tem os pedaços misturados.
Algumas horas depois elas se reorganizam perfeitamente (cf. Margulis, 2002,
p.166).
É compreensível que não se trate genes como indivíduos, embora não
necessariamente correto, como veremos na seção sobre os níveis de seleção (seção
1.12). No entanto, até entre indivíduos bem delimitados há cooperações estreitas.
Um caso bastante comum é a união entre um fungo com uma alga que é tão íntima
que passou a ser conhecida como líquen, ou seja, é conhecida como um indivíduo
só. Mas há também verdadeiras uniões entre diferentes indivíduos. “No
Paramecium duas células podem conjugar-se. As duas células permutam cópias
de seus DNAs e então se separam” (Ridley 2006, p.343). Neste caso ocorre uma
espécie de sexo não-reprodutivo onde há trocas de DNA entre dois Paramecium.
Mas uma troca de DNA entre indivíduos da mesma espécie parece algo comum, já
que não é muito diferente do sexo propriamente dito.
Algo aparentemente mais incomum também ocorre. Vimos na seção anterior
que o cladismo constrói a árvore evolutiva das espécies através de um processo
que visa descobrir os ramos (clado) destas árvores. Um pressuposto de toda esta
técnica é que os ramos, uma vez separados, não se unem mais. Isto também é um
pressuposto comum do próprio conceito biológico de espécies, pois este define
espécies através do intercruzamento, ou seja, ele nos diz que espécies diferentes
estão separadas por uma barreira de intercruzamento que não permite que elas se
unam de novo. Mas embora estes pressupostos estejam na maioria das vezes
corretos, eles não estão sempre corretos. “Os ramos da árvore da vida nem sempre
divergem; às vezes se juntam e produzem estranhos frutos novos” (Margulis,
2002, p.144).
Se tratarmos genes como indivíduos, então já sabemos que é possível que
eles “pulem” entre espécies e às vezes até distâncias maiores. Mas mesmo se não
os tratarmos assim, ainda somos deixados com a idéia de que genes de indivíduos
99
de espécies diferentes podem, de certa maneira, se misturar. Isto acontece através
da chamada “transferência horizontal, ou lateral, de genes”, também conhecida
como reticulação (cf. Wilson, 1999, p.309). Neste caso temos a transferência de
genes, principalmente entre bactérias, mas não da mesma espécie, que poderia ser
considerado semelhante ao caso do Paramecium, e sim entre bactérias de espécies
diferentes. Maynard-Smith chega a dizer que “as transferências de genes foram
cruciais na evolução da resistência a drogas” (1993, p.5. Minha tradução). A
transferência horizontal de genes entre bactérias poderia tornar até mesmo a
classificação destas espécies algo bastante arbitrário (cf. Mayr, 2005, p.207).
Temos, então, uma comprovação de que a evolução pode não ser sempre
weismannista como já havíamos falado na seção sobre o lamarckismo (seção 1.4).
Mais intrigante ainda do que a transferência de genes entre bactérias é a
transferência horizontal entre níveis hierárquicos ainda mais distantes. Nas
palavras de Ridley:
Os genomas também evoluem por transferência gênica horizontal. Esta (também
chamada de transferência gênica lateral) ocorre quando um gene do genoma de uma
espécie é copiado no genoma de outra espécie. É um evento raro, mas os projetos
de seqüenciamento demonstraram que ele ocorre com uma freqüência inusitada ao
longo do tempo evolutivo. Provavelmente é mais freqüente em bactérias. Até se
conhecem genes que se transferiram entre arques e bactérias. É provável que,
algumas vezes, genes se transfiram de bactérias para eucariotos pluricelulares, mas
atualmente é difícil garantir que algum gene, aparentemente bacteriano, encontrado
no genoma de uma planta ou animal seja um exemplo de transferência gênica
horizontal (Ridley, 2006, p.585)
Vemos, então, que a transferência gênica não se dá só entre bactérias, mas
pode se dar até entre reinos diferentes como entre arques e bactérias e, talvez, até
entre bactérias e eucariotos como nós! Dawkins vai ainda mais longe e diz que
“parece quase certo” que os genes responsáveis pela construção de um tipo de
hemoglobina nas raízes de plantas da família das ervilhas pode ter sido trazido de
animais com algum vírus atuando como intermediário (Dawkins, 2001, p.259).
Teríamos, então, um gene de um animal, passando para uma planta através de um
vírus! Nas palavras de Waizbort:
Vírus e plasmídeos de bactérias também podem se incorporar ao material genético
de células somáticas eucariotas (animais, vegetais, fungos, protozoários) e até
mesmo em células sexuais. Incorporando seus genes de microrganismos no genoma
de espécies ‘superiores’, saqueando o patrimônio genético desses seres e levandoos para além do limite do núcleo e da própria célula, essas minúsculas estruturas
estão misturando genes de espécies as mais distintas (Waizbort, 2000, p.172) .
100
Recentemente várias pesquisas surgiram mostrando que a transmissão lateral
de genes de bactérias para eucariotos é mais comum do que se pensava,
principalmente no que diz respeito ao gênero Wolbachia que vive em grande parte
dos artrópodes existentes e até mesmo em vermes. Em muitos casos há evidências
da transmissão dos genes deste gênero de bactérias para o genoma do hospedeiro,
mas no caso da mosca-de-fruta Drosophila ananassae praticamente todo o
genoma da Wolbachia foi transmitido para o da mosca16. Tal tipo de transmissão
entre reinos diferentes pode parecer surpreendente quando acontece naturalmente,
mas é cotidiano nos laboratórios de engenharia genética de todo o mundo.
Para as análises cladísticas, principalmente as que usam evidências
moleculares, isso beira o desespero, pois neste caso a semelhança entre os
genótipos não será devida à convergência: há de fato o mesmo gene em dois
genótipos que deveriam ser muito distantes. “É possível até que Archea, Bacteria
e Eukarya nem tenham uma filogenia normal, em forma de árvore” (Ridley, 2006,
p.479)
No entanto, há uma relação ainda mais estreita do que a da transferência
gênica horizontal, são casos extremos de simbiose. “Entende-se por simbiose a
união em uma unidade funcional única de dois ou mais organismos evoluídos
separadamente” (Maynard-Smith, 1993, p.119. Minha tradução). Casos mais
simples, mas ainda assim surpreendentes, são encontrados como o de uma espécie
de platelminto que não tem boca porque algas fotossintéticas fornecem toda a
energia que necessita (cf. Behe, 1997, p.191-192). Mas o caso mais conhecido de
uma verdadeira simbiogênese, que é a fusão de dois organismos distintos, é o das
mitocôndrias.
As mitocôndrias são organelas presentes em todos os eucariotos, inclusive
nós. São o que no ensino secundarista de biologia era chamado de a “fabrica de
energia das células”. Mas as mitocôndrias, que no caso do ser humano só são
passadas de mãe para os filhos, tem o seu próprio material genético. Uma bióloga,
chamada Lynn Margulis, afirma que elas eram antigas bactérias que se uniram por
simbiose a outra bactéria para formar o que hoje conhecemos como eucariotos.
Em suas próprias palavras: “No interior das células de todos nós existem, neste
16
Cf. http://www.wolbachia.sols.uq.edu.au/ Neste endereço é possível encontrar vários artigos e
livros sobre a Wolbachia
101
momento, antigas bactérias que usam oxigênio para gerar energia. Trata-se das
mitocôndrias” (Margulis, 2002, p.103). Recentemente está idéia foi reforçada com
estudos moleculares que mostraram que os genes das mitocôndrias são mais
semelhantes aos genes de bactérias de vida livre do que aos genes dos núcleos das
células onde elas vivem (cf. Ridley, 2006, p.555). Exatamente o mesmo se dá com
os cloroplastos, que estão presentes nas plantas. Mas no caso do homem, a relação
pode ser ainda mais estreita:
alguns genes mitocondriais foram transferidos para o núcleo. O DNA nuclear dos
seres humanos atuais contém genes que descendem dos dois incorporadores
eucarióticos originais. É difícil estudar o processo de transferência de genes da
mitocôndria para o núcleo em animais, porque o genoma mitocondrial é
relativamente constante. Em plantas, entretanto, os genes parecem ser transferidos
mais frequentemente (Ridley, 2006, p.584)
Temos, então, um desafio, para dizer o mínimo, a idéia de que duas
linhagens, quando separadas, nunca voltam a se unir. Por mais improvável que
isto seja, não é impossível e em escala evolutiva podem ser encontrados alguns
exemplos. Isto sem levar em consideração que estes exemplos só foram possíveis
porque, no caso das mitocôndrias e dos cloroplastos, existiam bactérias livres para
nos indicar a possibilidade da simbiogênese. Se elas não existissem as
mitocôndrias e os cloroplastos nunca teriam sido identificados como antigas
bactérias. Isto levanta a hipótese de que uniões ainda mais íntimas do que estas
poderiam ter acontecido, mas nunca serão descobertas. “De fato, pode ser que
nunca saibamos quantos de nossos genes, sejam eles ‘úteis’ ou ‘lixo’, tiveram sua
origem em plasmídeos inseridos” (Dawkins, 1999, p.226. Minha tradução).
Normalmente não pensamos nas nossas mitocôndrias como organismos
externos invasores. Seria errado pensar assim, elas fazem parte da própria
formação das células eucarióticas. Há a possibilidade de que outros seres que hoje
se unem por uma relação simbiótica passem a ser considerados, no futuro distante,
através de um processo de co-evolução, como um indivíduo só. Isto poderia se dar
não só com organismos unicelulares, mas também com os pluricelulares. Um caso
muito conhecido é o das vespas que servem como polinizadoras dos figos:
Cada uma de centenas de espécies de figo é polinizada somente por uma espécie de
vespa hospedeira-específica. É provável que a divergência em uma população local
do figo ou da vespa, por deriva genética ou seleção, induza uma variação
coevolucionária na outra. (Futuyma, 2002, p.524)
102
Tais vespas são tão especializadas e tais figos tão dependentes delas que é
possível que, em um futuro, as vespas sejam consideradas só como “a forma como
o figo se reproduz”. Futuros biólogos podem só descobrir que esta reprodução se
dá através de descendentes de uma vespa da mesma maneira que descobriram que
as mitocôndrias são antigas bactérias, ou seja, quando compararem o genoma
delas com o genoma de descendentes de outras vespas, que não se uniram por
simbiose ao figo, e perceberem que elas são mais próximas das vespas do que do
próprio figo. Mas se nesta época não existirem mais descendentes livres de vespas
pode ser que eles nunca descubram. Deste modo temos que um indivíduo pode
sim ser formado pela simbiose de dois outros indivíduos e este tipo de união é
mais do que uma simples possibilidade teórica, é um fato da biologia.
1.12
Quem Seleciona o Quê?
Uma discussão ainda muito presente na filosofia da biologia é a discussão
sobre os níveis de seleção. Várias são as propostas que muitas vezes são
defendidas de forma ardorosa. Temos a clássica seleção dos indivíduos, que é a
que normalmente é ensinada nas escolas e que é talvez a maneira mais intuitiva de
se pensar na seleção. Temos também a seleção de espécies, que também é
intuitiva quando se fala que algo é “para o bem da espécie”, mas que foi muito
criticada. Há a seleção de grupo, onde a união do grupo pode ser um traço
característico. Dificilmente separável desta há a seleção de parentesco, onde o
grupo é formado por parentes. E há, é claro, a controvertida seleção de genes.
Embora exista muita discussão sobre qual o nível da seleção, deve-se deixar claro
que praticamente ninguém defende que a seleção só atue em um único nível
destes. A discussão não é sobre “qual é o único nível onde a seleção pode atuar” e
sim sobre “qual é o nível mais importante e que nos apresenta as melhores
interpretações do trabalho da seleção natural”.
Apresentamos aqui um breve esboço de toda esta discussão. Um
aprofundamento maior seria impossível, pois este tema ocupa prateleiras inteiras,
mas seria, sobretudo, desnecessário. Mas antes de qualquer coisa é preciso deixar
103
claro qual é a importância deste debate. Ridley acredita que definir qual é o nível
da seleção importa muito, pois assim podemos eliminar as explicações que estão
no nível errado (cf. Ridley, 2006, p.338). Não há dúvidas que uma resposta para
esta pergunta apresenta este papel didático. A prova disso está no fim quase total
da seleção de espécies que continha explicações erradas ao defender que certas
características eram para o bem da espécie.
No entanto temos que ter cuidado em não levar a metáfora muito longe e
achar que existe realmente uma seleção como existe na seleção artificial. Não é a
seleção natural que tem que ser entendida como um tipo de seleção artificial, com
uma espécie de agente selecionador e algo selecionado. Ao contrário, é a seleção
artificial que tem que ser compreendida como um tipo de seleção natural, onde os
desejos e intenções do ser humano são tratados como parte do ambiente ao qual os
organismos devem estar adaptados (seção 1.3.1). Não podemos esquecer que ‘ser
selecionado’ quer dizer simplesmente ‘deixar mais descendentes do que a média
da sua população’. “A seleção não é causada pela sobrevivência e reprodução
diferenciais; ela é sobrevivência e reprodução diferenciais e nada mais” (Futuyma,
2002, p.159). Neste sentido, o melhor seria adotar, como Darwin adotou, a
expressão de Herbert Spencer de “sobrevivência dos mais aptos”. Nas palavras de
Darwin:
Dei a este preceito, em virtude do qual uma variação, por mínima que seja, se
conserva e se perpetua, se for útil, a denominação de seleção natural, para indicar
as relações desta seleção com que o homem pode operar. Contudo, a expressão que
o sr. Herbert Spencer emprega, ‘a persistência do mais apto’, é mais exata e
algumas vezes mais cômoda (Darwin, 2004, p.76)
Vemos que o termo “seleção natural” foi mais uma escolha didática
necessária para mostrar que o que a natureza faz não é nada estranho, pois é muito
similar ao que os homens fazem há séculos. “Seleção Natural” era uma expressão
válida quando se queria provar a existência deste processo, mas trazia consigo
uma imagem enganosa de que havia de fato um agente e um objeto da seleção.
Muito mais exato é imaginar que os mais aptos sobrevivem, ou deixam mais
prole, e os menos aptos perecem, ou deixam pouca prole em comparação com os
mais aptos.
Neste caso ainda vale a pergunta “o que é ‘mais apto’: os genes, os
indivíduos, a espécies etc.?” Mas a questão se torna mais branda já que fica
104
evidente que, quando um nível sobrevive, ele leva naturalmente outros níveis
juntos. A pergunta não é mais sobre qual objeto um certo agente seleciona e sim
sobre qual objeto podemos dizer que sua aptidão faz diferença no sucesso
reprodutivo. É claro que isso não implica em afirmar que não há conflito entre
níveis. Eles existem e é este problema que apresentaremos aqui.
1.12.1
Seleção de Espécies
Uma imagem comum da evolução é que ela se dá em benefício das espécies.
Em certo sentido isto está correto, já que a evolução é um evento que ocorre com
populações e não com indivíduos. No entanto, isto não quer dizer que são as
próprias espécies que são selecionadas. Existem alguns problemas com este tipo
de seleção. O primeiro deles diz respeito à própria existência de “espécies”. Este
problema não será tratado aqui. Partindo do princípio de que as espécies têm pelo
menos algum tipo de existência, encontramos o problema de que de um modo ou
de outro elas são constituídas por indivíduos e indivíduos normalmente competem
entre si.
A chamada “luta pela sobrevivência” raramente implica em uma luta real,
ela normalmente implica em uma disputa por recursos como comida, água, local
para dormir, parceiros sexuais, sol, etc. Neste sentido, esta “luta” é muito mais
rigorosa entre os indivíduos da mesma espécie do que entre indivíduos de espécies
diferentes. Cada grama que uma zebra come, por exemplo, é uma grama que as
outras zebras não vão mais poder comer. Cada raio de sol que um planta pega é
um raio que sua vizinha não pegará. Até as verdadeiras lutas entre predador e
presa podem ser melhor compreendidas como uma disputa dentro da mesma
espécie: zebras, por exemplo, não têm que correr mais rápido do que os leões, elas
só precisam correr mais rápido do que outras zebras. A disputa de quem corre
mais rápido se dá dentro da própria espécie de presas e não entre predador e presa.
É neste sentido que Dawkins diz que as árvores são elevadores de plantas. Se elas
pudessem cooperar entre si ficariam perto do solo e não gastariam uma imensa
quantidade de energia com seus majestosos troncos. No solo poderiam pegar a
mesma quantidade de luz do sol que pegam no alto sem este gasto extra de
105
energia. Mas isso não acontece, pois uma planta qualquer poderia furar o “acordo”
e crescer mais do que as outras, se fizesse isso pegaria mais sol e tiraria o sol das
outras, seus descendentes, então, seriam mais numerosos e herdariam esta
característica. Logo teríamos uma floresta de árvores altas descendentes daquela
primeira.
Este argumento contra a seleção de espécies é conhecido como argumento
do traidor. Um grupo formado por altruístas pode ser subvertido por um egoísta
que vai se beneficiar do altruísmo dos outros, mas sem ter que pagar os custos.
Gould nos apresenta outros indícios de que não são as espécies as beneficiadas
pela seleção (cf. Gould, 2003, p.399): há os órgãos para o combate sexual, muitos
deles são inúteis para qualquer outra coisa que não seja na busca de parceiros. Na
verdade, muitos deles, como a cauda do pavão, chegam a atrapalhar a
sobrevivência do seu portador. Um órgão deste tipo em nada ajuda a espécie,
embora os beneficiem na competição com outros pavões pela escolha das fêmeas,
ou seja, beneficia o indivíduo. O mesmo pode-se dizer das lutas entre machos
pelas fêmeas. Há ainda outra questão: se estamos tratando de seleção em níveis
superiores, o que há de tão especial nas espécies? Porque leões, zebras, golfinhos
etc. não se unem em prol de toda a classe Mammalia?
No entanto, embora largamente desacreditada, a seleção de espécies não foi
abandonada. Ela ainda é considerada possível em certas situações peculiares.
Existem algumas características que podem ser melhor compreendidas como
características de espécies e não de indivíduos, alguns exemplos são: distribuição
geográfica, heterogeneidade do acervo genético, tamanho populacional, estrutura
populacional e, talvez o mais controverso, reprodução sexual. Como foi dito no
começo deste capítulo, não trataremos aqui da origem do sexo. Por hora a única
questão que é importante é saber que no sexo cada indivíduo envolvido contribui
com apenas 50% de seu material genético. Este é um custo muito alto se
pensarmos que na reprodução assexuada podemos passar todo nosso material
genético. Uma das explicações para que o sexo exista é que as espécies sexuadas,
por permitirem uma adaptação ao ambiente mais rápida, são selecionadas em
detrimento das espécies assexuadas, pois mutações surgidas em diferentes
indivíduos podem se unir em um só.
Para que a seleção de espécies exista, a espécie tem que ter uma
característica que não possa ser reduzida às características de seus indivíduos.
106
Tais características têm que ser relevantes para a sobrevivência e para a extinção
de espécies. Mas tudo isso é inútil se tais características não forem herdáveis pelas
suas espécies-filhas. O tamanho de uma população, por exemplo, pode ser
relevante para a sobrevivência de uma espécie, mas provavelmente não é uma
característica herdável (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.205). Ainda há discussão
sobre se este tipo de seleção de fato existe. No entanto, parece haver um consenso
de que “a seleção de espécies pode ocorrer, mas ela não parece fazer grande
coisa!” (Dawkins 2001, p.393). Ou seja, a discussão gira mais em torno de quão
relevante ela é do que em torno de sua existência.
1.12.2
Seleção de Grupo
Como espécie é um nível taxonômico muito alto, parece ser mais plausível
diminuir o nível para um mais observável. Assim surge a seleção de grupo.
Muitos animais na natureza de fato vivem em comunidades. Estes grupos têm
uma existência inquestionável e muitas vezes são dentro dos próprios grupos
pequenos que surgem novas espécies. No caso de grupos, seria mais razoável
pensar que alguns destes teriam estruturas capazes de protegê-los dos chamados
traidores. Se um grupo puder fazer isso então ele terá uma vantagem em relação
aos grupos egoístas e consequentemente, terá uma maior chance de sobreviver e
de produzir novos grupos que podem herdar esta sua característica. Mas os grupos
não têm necessariamente que ser altruístas. Um grupo onde exista uma estrutura
social para troca de favores pode ser chamado de um grupo egoísta, pois um favor
só é feito mediante uma recompensa, mas mesmo assim o fato destes indivíduos
se ajudarem mutuamente pode aumentar o valor de aptidão do grupo como um
todo. Em tais grupos podemos dizer que sua aptidão é maior que a soma da média
da aptidão dos indivíduos do grupo. Nas palavras de Mayr:
Se a aptidão de um grupo for maior ou menor que a média aritmética dos valores
de aptidão dos indivíduos que o compõem, devido à interação entre indivíduos ou
à divisão do trabalho e outras ações sociais, então o grupo como um todo pode
servir como objeto de seleção (Mayr, 2005, p.163)
Isto quer dizer que para a seleção de grupo ocorrer, características do grupo
como um todo tem que contribuir diretamente para aptidão do indivíduo. Só neste
107
sentido é que podemos dizer que um dado indivíduo se beneficia, ou não, de estar
naquele grupo. Sabemos que a seleção de grupo é possível e experimentos onde
ela acontece já foram realizados em laboratório (cf. Ridley, 2006, p.331).
Recentemente Elliot Sober e David Sloan Wilson tem defendido a seleção de
grupo tratando até a seleção de parentesco, que veremos a seguir, como um caso
especial da seleção de grupo. A importância deste tipo de seleção ainda está em
discussão. A seleção de grupo sofre dos mesmos problemas que a seleção de
espécie: a característica do grupo tem que ser herdável e tem que ser do próprio
grupo e não do conjunto de indivíduos. E isto tudo só é possível, é claro, em
indivíduos que formam grupos sociais, o que diminui a relevância deste tipo de
seleção para a evolução como um todo.
1.12.3
Seleção de Parentesco
Na seleção de parentesco temos um tipo especial de grupo que é formado
por parentes próximos. Há, como notou Mayr, uma certa dificuldade em
discriminar a seleção de parentesco e a seleção de grupo (cf. Mayr, 2005, p.162),
mas veremos que elas podem ser tratadas de maneiras diferentes. A seleção de
parentesco nos diz que se um gene dá origem a um indivíduo que vai se comportar
de maneira a ajudar seus parentes próximos, então este gene vai ajudar cópias de
si mesmo nestes outros indivíduos. O gene não está de maneira altruísta ajudando
suas cópias às custas de si mesmo, o que acontece é que um gene que ajuda outros
genes como ele, se tornará, com o tempo, mais comum no acervo dos genes (gene
pool) daquele grupo. Por exemplo, um gene para comer seus próprios filhos
provavelmente logo se extinguirá. Um pai que tem este gene comeria seus
descendentes e este seria o fim do gene. Entretanto um gene para alimentar os
seus filhos provavelmente sobreviveria, um pai com este gene alimentaria seus
filhos e aumentaria a possibilidade deles sobreviverem e se reproduzirem
passando, deste modo, este mesmo gene adiante. Com o tempo, é possível que
este gene se torne comum em toda a espécie, mesmo levando em conta que o ato
de alimentar seus filhos faz com que o pai gaste energia, se coloque em risco e
perca um tempo que ele poderia estar usando fazendo mais filhotes. Isto quer
108
dizer que este ato não beneficia ao pai enquanto tal e sim aos seus filhos, que
carregam seus genes.
A seleção de parentesco segue o que ficou conhecido como regra de
Hamilton (cf. Ridley, 2006, p.327). Esta diz que há um custo C por praticar o ato
que beneficia o outro, há o benefício B e há a chance R de que o gene responsável
por praticar o benefício esteja no beneficiado. Neste caso, se RB > C, então o gene
para beneficiar seus parentes se espalhará, ou seja, se no resultado final o gene
acabar beneficiando cópias de si mesmo, então ele se tornará comum. Como R é a
chance deste mesmo gene estar em outros indivíduos, então a tendência é que se
beneficie só parentes próximos, pois no caso de parentes distantes, R será muito
pequeno. No caso da ave que beneficia seus filhotes, a chance deste gene estar em
cada um de seus filhotes é de 0,5, então o benefício final tem que ser pelo menos
o dobro do custo.
Por esta relação se dar entre parentes ela foi chamada de seleção de
parentesco, mas a seleção de parentesco não é uma seleção de grupo e sim um
caso de seleção de gene, que veremos em breve, pois são eles os principais
beneficiados. Por este motivo Trivers fala que “a melhor maneira de compreender
a importância do parentesco é tomar a visão do gene em relação às interações
sociais” (Trivers, 1985, p.45). Para deixar claro que a seleção de parentesco é no
fundo uma seleção de genes podemos pensar que se um indivíduo tiver um gene
para beneficiar outros indivíduos e estes outros indivíduos não tiverem este
mesmo gene, então este indivíduo terá todo o custo, diminuindo, assim, as suas
chances de procriação que, obviamente, também diminuiriam as chances deste
gene se propagar. Tal comportamento altruísta geneticamente determinado
acabaria desaparecendo. Algo ainda mais grave se daria se este comportamento
não fosse geneticamente determinado e sim um comportamento aprendido ou
inventado. Neste caso, tal altruísta solitário simplesmente morreria junto com o
seu altruísmo. A seleção de parentesco parece só funcionar quando o gene
causador da ação altruísta pode ser encontrado no beneficiário de tal ação.
Tal consideração levanta problemas com a chamada seleção de grupo e com
sua tentativa de ser uma seleção por conta própria. Tais grupos sociais têm que ter
comportamentos que aumentem a aptidão de todos os indivíduos de seu grupo. Se
estes comportamentos forem geneticamente determinados, então a seleção de
grupo pode ser compreendida como uma seleção de genes: alguns genes se tornam
109
mais comuns por ajudarem genes iguais a si. Se tais comportamentos forem
aprendidos, ou poderíamos dizer culturalmente determinados, então a seleção de
grupo ficaria restrita a um seleto grupo de espécies existentes capazes de aprender
e transmitir aprendizagem, composto em sua maioria por mamíferos. Mas mesmo
nestes grupos capazes de aprender, a seleção de grupo ficaria restrita aos
comportamentos sociais que de fato são aprendidos, pois em tais grupos pode
haver também comportamentos sociais geneticamente determinados. Ou seja, a
seleção de grupo teria sua importância muito reduzida. Sem contar que ainda
assim a própria capacidade de apreender seria geneticamente determinada, o que
poderia fazer tudo ser reconsiderado como mais um caso da seleção de genes17.
1.12.4
Seleção de Indivíduo
O nível mais comum e intuitivo de seleção é a seleção de indivíduos. São
os indivíduos que se adaptam ao meio, são eles que se reproduzem, são eles que
morrem. Ernst Mayr é um fervoroso defensor deste tipo de seleção como nos
mostra o seguinte fragmento:
Desde Darwin até os dias de hoje, a maioria dos evolucionistas (...) tem
considerado o organismo individual como principal objeto de seleção. Na realidade,
o fenótipo é a parte do organismo que está ‘visível’ para a seleção (Mayr, 2005,
p.159).
Ele está certo ao dizer que não está sozinho. Gould, por exemplo, concorda
com ele, mas faz uma ressalva importante, a saber, é preciso antes de mais nada
definir o que pode ser considerado um indivíduo no mundo natural. Este problema
já foi visto aqui ao tratar de seres que se unem por simbiose (seção 1.11). Liquens
são considerados indivíduos, mesmo sendo a união de um fungo e uma alga; o
volvox, que é aquela união de algumas centenas de células, já tem um status mais
questionável; algumas esponjas podem passar por estágios onde suas células
vivem separadas por algum tempo e, como vimos, têm a capacidade de se
recompor quando desfeitas; alguns rizocéfalos passam por cinco metamorfoses,
17
Há ainda a possibilidade de considerar este tipo de seleção de grupo, onde o comportamento é
aprendido, como uma seleção de memes co-evoluindo com genes (seção 4.9), mas tal caso não
será tratado nesta seção.
110
sendo que em uma delas eles não são mais do que uma única célula; algumas
plantas permanecem perfeitamente vivas, mesmo tendo perdido grande parte de
seu corpo (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.71).
A visão comum que temos dos indivíduos como um organismo integrado e
coeso, com um fora e um dentro bem definido etc. não vale para a maioria destes
casos. Para tentar dar conta desta questão, Gould propõe uma definição de
indivíduo biologicamente aceitável:
um indivíduo deve ter um ponto de partida (ou de nascença) claro, um ponto de
encerramento (ou de morte) claro e estabilidade suficiente no intervalo entre um e
outro para ser reconhecido como uma entidade. Essas três primeiras propriedades
bastam para definir um ‘indivíduo’ no sentido mais abstrato. Mas uma entidade
precisa de duas outras propriedades para fazer parte do processo darwiniano de
competição reprodutiva: um indivíduo darwiniano deve ser capaz de gerar filhos, e
esses descendentes devem ser produzidos por um princípio de hereditariedade que
os faça assemelhar-se aos pais, com a possibilidade de haver alguma diferença
(Gould, 1997, p.412).
No entanto, esta definição de nada serve ao defensor da seleção de
indivíduos, pois como vimos, e como veremos em seguida, tanto as espécies
quanto os genes podem cumprir estas regras e, deste modo, serem considerados
como indivíduos. O próprio Gould admite que “genes e espécies também são
indivíduos darwinianos, e a seleção também pode atuar sobre essas entidades
maiores e menores” (Gould, 1997, p.413). Ele acaba dizendo que não há uma
definição inequívoca de indivíduo (cf. Gould, 1997, p.413).
Mas a seleção de indivíduo ainda nos parece válida, pois como afirma Mayr,
são os fenótipos que são visíveis para a seleção. Talvez fosse mais correto chamála de seleção fenotípica. Eles podem fazer parte de espécies e podem ter sido
criados pelos genes, mas são eles que de fato lutam, sobrevivem e se reproduzem.
Esta visão pode ser a mais intuitiva, mas se olhada de perto perde aos poucos sua
plausibilidade. Todos concordam que a seleção natural só pode agir naquilo que
tem hereditariedade, os indivíduos têm hereditariedade, mas ela é derivada de seus
genes. Um leão, por exemplo, que tenha um caractere muito útil, mas que não seja
hereditário, pode até, em um primeiro momento, deixar um bom número de crias,
ou seja, teria sido selecionado diretamente, mas suas crias não teriam este
caractere. Não haveria um processo de evolução e sim uma seleção natural de um
só passo. Seria uma seleção natural sem a já mencionada característica de
“catraca”, ou seja, sem reter o caractere para possibilitar a acumulação de
111
mutações. O próximo passo começaria de novo do zero. Tal tipo de seleção não
tem importância nenhuma para a biologia.
1.12.5
Seleção de Genes
Não existe seleção natural sem hereditariedade e o principal portador de
hereditariedade é o gene. Organismos se reproduzem, mas não são copiados. O
mesmo acontece com genomas em seres sexuados, eles são fragmentados. Só o
que é de fato copiado pode se tornar mais comum ou mais raro em uma
população. O gene, entendido de maneira informacional, ou seja, como sendo o
mesmo gene em suas múltiplas cópias, pode ter sua freqüência ajustada em
relação aos outros genes e, neste sentido claro, pode ser selecionado contra ou a
favor.
Existem casos claros de seleção genética. Eles acontecem quando o
beneficiário da reprodução é o gene e não o indivíduo ou a espécie. O chamado
efeito carona é um deles. Sabemos que no genoma humano temos cerca de 95%
de DNA não codificador. Mesmo que se encontre uma função para alguma parte
deste DNA, ainda teremos uma grande parte que é replicado sem que ocasione
algum benefício para o indivíduo. Estes genes existem por benefício próprio e em
nada auxiliam o indivíduo. Temos também a chamada distorção de segregação,
quando acontece um verdadeiro conflito intragenômico, isto é, quando um dos
dois alelos que temos em cada um de nossos genes é capaz de aumentar a sua
chance de passar para os gametas (cf. Sterelny, 2001, p.37). Um gene também
pode aumentar a chance do espermatozóide onde ele está fecundar um óvulo
aumentando a velocidade deste espermatozóide, mas tal gene não traz
necessariamente algum benefício para o indivíduo (mas poderia trazer em
espécies onde vários indivíduos fecundam a mesma fêmea).
Casos como estes onde um gene se beneficia às custas do indivíduo são
exemplos conhecidos e não controversos do selecionismo dos genes. Como
Dennett nos mostra, a pergunta Cui Bono? “Quem se beneficia?” É a que dá a
resposta de quem está sendo selecionado. Mas os casos onde aparentemente é o
112
indivíduo o selecionado levantam mais problemas. Mayr, um grande crítico da
seleção de genes, nos diz:
Vários genes têm valores adaptativos diferentes conforme o genótipo em que se
encontram. O selecionismo gênico também é invalidado pela pleitropia de muitos
genes e a interação de genes que controlam componentes poligênicos do fenótipo.
(Mayr, 2004, p.158)
A pleitropia e a poligenia já foram vistas aqui (seção 1.7). A pleitropia é a
capacidade de um gene afetar diversas características fenotípicas e a poligenia é o
seu oposto, ou seja, a capacidade de uma só característica fenotípica ser afetada
por vários genes. É a pleitropia e a poligenia que nos mostram que a relação entre
genoma e fenótipo é do tipo “muitos para muitos”. Para Mayr, então, a seleção de
genes só seria possível se a relação entre genótipo e fenótipo fosse como uma
planta baixa e não como uma receita, ou seja, fosse uma relação “um para um”. Só
neste caso poderíamos dizer que a seleção natural pode “ver” os genes. Para Mayr
as mudanças nas freqüências dos genes em uma população não seriam a causa da
seleção e sim o resultado dela. Uma crítica semelhante é feita por Sober ao
diferenciar seleção de e seleção para. A seleção pode ser para indivíduos, mas
pode também acarretar uma seleção de genes (cf.Sterelny & Griffiths, 1999, p.77).
Mas poderíamos defender que a recíproca é que é verdadeira e dizer que a seleção
é para genes e acarreta uma seleção de indivíduos portadores daqueles genes.
No entanto, esta é uma crítica por demais simplista. A defesa de que a
relação entre genótipo e fenótipo é como uma receita foi feita justamente, como
vimos, pelo principal defensor do selecionismo gênico: Richard Dawkins. Não
podemos dizer que ele ignora esta relação! Os defensores da seleção de genes de
maneira nenhuma ignoram os organismos e defendem que a seleção busca só os
genes. Dawkins deixa isso claro em inúmeras passagens. Em suas próprias
palavras:
Uma vez que tenhamos entendido o fato de que os genes trabalham juntos em
equipes, é obviamente tentador chegar à conclusão de que hoje em dia a seleção
darwiniana faz sua escolha entre equipes rivais de genes – concluir que a seleção
passou para os níveis mais altos de organização. Tentador, mas do meu ponto de
vista errado no nível profundo. É muito mais esclarecedor dizer que a seleção
darwiniana ainda faz sua escolha entre genes rivais, mas que os genes favorecidos
são aqueles que prosperam na presença de outros genes que estão sendo
simultaneamente favorecidos na presença um do outro (Dawkins, 1996, p.134).
113
Podemos até discordar do que ele diz, mas não é possível dizer que ele
ignora que genes trabalhem juntos de inúmeras formas. No próprio Gene Egoísta
ele diz que escolher o gene como unidade de seleção é uma questão de rigor (cf.
Dawkins, 2001, p.31). Dizer que a seleção é a rigor de genes quer dizer que nós
podemos tratar a seleção como se fosse de indivíduos, mas a rigor é mais
instrutivo e preciso reconhecer que é de genes. Isto nos mostra que ele não nega a
naturalidade de se escolher o indivíduo como unidade de seleção, não nega o
papel do organismo. “A idéia de que o gene é a unidade de seleção não nega a
realidade ou a importância dos organismos” (Sterelny & Griffiths, 1999, p.61.
Minha tradução). A questão é que agora estes genes funcionam como times e é a
capacidade de cooperar dentro destes times para construir fenótipos bem
adaptados que será selecionada. A falha em perceber isso está diretamente
relacionada com a falha em perceber que o ambiente de um gene pode ser
constituído também de outros genes. Neste sentido, um gene que trabalha em
conjunto com outros genes está se adaptando ao seu ambiente.
Uma outra crítica comum, e errada, que se faz ao selecionismo genético é
dizer que ele está comprometido com o determinismo genético. Alguém é um
determinista genético se defende que os genes terão seu determinado efeito
fenotípico independente do ambiente onde ele se desenvolva. Entretanto é
largamente aceito que são raros os genes que terão sempre o mesmo efeito
independente de qualquer influência ambiental. Esta é uma confusão comum,
principalmente quando falamos em comportamentos, no entanto, dizer que algum
comportamento é geneticamente determinado normalmente quer dizer que dado
certo ambiente ele entrará em vigor. Não quer dizer que ele entrará em vigor seja
de que modo for!
Um gene que determina uma certa característica normalmente a determina
em um determinado ambiente, em muitos casos este ambiente é o
desenvolvimento embrionário. Como este gene só costuma ser achado dentro de
certas circunstâncias normais, então podemos dizer, para simplificar, que ele
determina algo, mas de maneira nenhuma queremos dizer que ele terá o mesmo
efeito independente do ambiente em que ele se encontre. Tal simplificação causa
confusão quando não se faz uma leitura mais atenta e, principalmente, quando já
se lê procurando algo para criticar. O determinismo genético no sentido de que o
114
produto final de um gene independe de seu ambiente simplesmente não existe (cf.
Sterelny & Griffiths, 1999, p.13).
É claro que o selecionismo genético requer algum tipo de coerência nos
efeitos de um gene. Se um mesmo gene tivesse efeitos muito diferentes em
organismos semelhantes, não haveria como selecioná-lo. Os genes, normalmente,
só são selecionados indiretamente através dos fenótipos que ajudam a criar. É
preciso que seus efeitos sejam consistentes para que ele seja “visível” pela
seleção. Esta condição não é muito difícil de obter, é, na verdade, a regra e não a
exceção. O mesmo gene normalmente terá o mesmo efeito em um mesmo
ambiente ou em um ambiente muito semelhante. Isto é o suficiente para seleção
de genes atuar. “O selecionismo de genes pode defrontar-se com diversos
problemas, mas o determinismo genético não é um deles” (Sterelny & Griffiths,
1999, p.59. Minha tradução).
No entanto, há uma crítica um pouco mais séria contra o selecionismo de
genes. Como mostramos, uma das principais defesas desta visão é que são os
genes os responsáveis pela hereditariedade. No entanto, isto não é plenamente
verdade. O gene não é a única coisa que é passada adiante e sim toda uma célula
fecundada, no caso dos seres sexuados. Isto quer dizer que há também a herança
chamada epigenética (seção 1.5). Um indivíduo não herda só os genes, ele herda
também outras estruturas celulares sem as quais os genes não funcionam.
Como os genes dependem de um ambiente celular para passar as suas
informações e dependem tanto que, como já foi mostrado aqui, mudanças no
ambiente celular podem causar mudanças na expressão do mesmo gene
(pleitropia), então há um sentido bem claro onde esta herança epigenética também
transmite informação. Neste caso, os genes não seriam os replicadores, o
replicador seria todo o sistema genético e epigenético unido. A diferença entre o
replicador e seu portador, seu veículo, perderia em parte o sentido. Entretanto
parece haver uma assimetria entre a informação genética e a informação
epigenética. Esta parece atuar mais como uma espécie de “ruído” capaz de
interferir na transmissão daquela (Sterelny & Griffiths, 1999, p.106). Sem contar
que todas as estruturas epigenéticas tiveram que ser, em algum momento, criadas
a partir de informações genéticas. Um óvulo antes de ser fecundado teve sua
estrutura epigenética construída a partir de informações genéticas da mãe. O
115
mesmo vale para o óvulo que deu origem a mãe dele e assim por diante até o
aparecimento da primeira estrutura epigenética.
Vemos então que há uma longa discussão sobre qual é a unidade da seleção.
Mas há algo que todas estas diferentes visões da seleção natural concordam: não
há seleção sem hereditariedade. Mesmo as espécies têm que ter características
hereditárias para que possam ser selecionadas. A questão da unidade de seleção
pode ser compreendida de certa forma como a questão de qual é o replicador, ou
seja, qual ser é capaz de criar cópias de si mesmo e que sua aptidão influencia na
sua replicabilidade. Por isso a questão mais abstrata que encontramos no início
deste capítulo (seção 1.2), onde falamos em replicador sem deixar claro qual
replicador é este, ainda permanece válida mesmo para alguém que discorde do
selecionismo gênico.
1.13
O Fim do Passeio
Um longo caminho dentro de múltiplas questões da biologia foi percorrido
até aqui, algumas questões foram mais históricas, mas muitas questões tratadas
estão entre as descobertas e avanços mais recentes de biologia evolucionista.
Infelizmente, dado o tamanho de empreitada, não foi possível perder o caráter
fragmentário do texto que se mostrou subdivido em partes nem sempre
intimamente relacionadas. Tal descuido será compensado com uma efetiva
utilização de todos os temas tratados aqui na explicação do que a memética é, do
que ela não é, de quais são suas principais críticas e possíveis respostas. Os
assuntos já tratados foram colocados aqui em seqüência por um simples motivo
didático para facilitar a compreensão, já que alguns explicavam conceitos
utilizados nos outros. No entanto, todos serão revisitados e novamente explicados
quando suas informações forem necessárias para o desenvolvimento do texto. Mas
antes de tratarmos da memética ainda é preciso mais um pouco de biologia para
esclarecer algumas questões que deram origem a muitas confusões.
2
Dawkins com Pitadas de Gould
A visão recebida da biologia para o público geral normalmente se deve ao
estudo de biologia no colégio e à televisão. Quando há um interesse um pouco
maior é fácil encontrar alguns livros e coletâneas de artigos sobre biologia. Dentre
eles, os que normalmente fazem mais sucesso, porque têm uma linguagem
acessível para o público geral, estão os sempre ótimos livros de Richard Dawkins
e Stephen Jay Gould. Dawkins e Gould são os principais divulgadores do
evolucionismo. O próprio Gould, citado por Dawkins, chega a dizer que “Richard
e eu somos as duas pessoas que melhor escrevem sobre a evolução” (Dawkins,
2005, p.330).
Embora os dois sejam fervorosos evolucionistas e também ferrenhos críticos
do Design Inteligente, teoria que tenta refutar a seleção natural propondo a
necessidade de um projetista para a natureza, eles têm suas discordâncias internas.
Como o debate entre Gould e Dawkins se deu em público e como foi justamente
entre “as duas pessoas que melhor escrevem sobre a evolução”, se criou muito
estardalhaço sobre a questão. Tudo isso aumentado pelo fato de que Gould tem
uma maneira panfletária de debater, exagerando propositalmente as suas asserções
para criar impacto ao dizer coisas do tipo “o darwinismo foi refutado” ou “a
seleção natural não é capaz de explicar a evolução” etc.
Este debate tem sido produtivo para o estudo e desenvolvimento da biologia,
mas prejudicial para a sua divulgação. Frequentemente é possível encontrar
pessoas que, por uma má interpretação de Gould, acham que os próprios biólogos
descobriram falhas na evolução e que ela é uma teoria em risco. No entanto, isso
não é verdade, o próprio Gould afirma que o debate entre os dois em nada abala o
evolucionismo e nem mesmo a existência da seleção natural e do gradualismo.
Ele, no máximo, redimensiona o papel de certos processos. Mas, na maioria das
vezes, Gould sequer está querendo criticar estes processos do modo como são
descritos na biologia. Ele normalmente está mais interessado em derrubar uma
certa “imagem comum” deste processo, um certo tipo de “visão recebida do senso
comum sobre o evolucionismo”.
117
Neste sentido, não é necessário tomar parte neste longo embate, embora
algumas vezes isto seja impossível de evitar. O importante é mostrar como este
embate não altera a visão e as questões da biologia evolucionista do modo como
foi apresentado aqui. Mas não tomar parte já é escolher um lado, pois nega que as
supostas revoluções propostas por Gould aconteceram.
Este embate entre Gould e Dawkins é, na verdade, proveniente de uma
interessante divergência na própria biologia, a saber, as diferentes visões de Fisher
e Wright (cf. Dawkins, 1999, p.238). Estes dois grandes biólogos em muito
contribuíram para o estudo da evolução, mas tinham algumas discordâncias sobre
o modo como ela se dava. Nas palavras de Ridley:
Os biólogos distinguem entre uma escola de pensamento evolutivo de ‘Fisher’ e
uma de ‘Wright’. Fisher mantém que populações naturais são geralmente muito
grandes para que a deriva seja importante, que interações de valores adaptativos
epistáticos não interferem com a atuação da seleção, que adaptações evoluem por
seleção dentro de uma população e que a evolução adaptativa pode prosseguir
tranquilamente em direção ao pico de valor adaptativo mais elevado. O pensamento
de Wright é que as populações são pequenas, que deriva e valores adaptativos
epistáticos são importantes e que a evolução é a responsável por torná-las presas
em picos locais ótimos. Os biólogos atuais raras vezes se colocam simplesmente,
como membros de uma escola ou de outra, mas a controvérsia entre essas duas
visões inspirou, e continua a inspirar, importantes pesquisas evolutivas (Ridley,
2006, p.248).
Para deixar esta distinção mais clara temos que pensar a adaptação de uma
maneira geográfica, a chamada topografia adaptativa, inventada por Wright. Uma
paisagem adaptativa é semelhante a uma superfície com vales e montanhas de
diferentes alturas e profundidades. Quanto mais alto o pico da montanha maior é o
valor adaptativo do caractere em questão. A seleção natural seria o processo pelo
qual se dá a escalada de um determinado pico. Como descer do pico significa
diminuir a aptidão, uma vez em um pico local, a seleção vai atuar para que você
permaneça nele, mesmo se próximo dele houver um pico ainda maior, ou seja,
uma adaptação ainda melhor, mas separado por um vale, por um intermediário
mal-adaptado. A idéia de que é difícil atravessar um vale fica ainda mais evidente
se colocarmos de cabeça para baixo esta paisagem adaptativa. Assim, os picos se
transformarão nos vales e vice-versa. A seleção atuaria como a água, escorrendo
para os vales, mas ela não conseguiria subir os picos. É neste sentido que se diz
que a seleção busca só a perfeição local e não a perfeição global. Darwin mesmo
já havia dito isso quando disse que
118
a seleção natural tende apenas a tornar cada ser organizado tão perfeito, ou um
pouco mais perfeito, que os outros indivíduos da mesma região com os quais se
encontra em concorrência. É isto, sem contestação, o cúmulo da perfeição que se
pode produzir no estado selvagem (Darwin, 2004, p.209).
Além de defender que a seleção normalmente confina as adaptações em
picos locais, Wright também defendia que as espécies normalmente eram
divididas em pequenas populações. Como vimos no capítulo anterior, pequenas
populações são mais propensas a sofrerem a deriva genética, ou seja, são mais
propensas a se modificarem porque, por acaso, certo gene se tornou mais comum
do que outro (seção 1.1). O caso mais extremo é o efeito do fundador quando um
pequeno grupo funda uma nova população. Neste caso, as chances são grandes de
que este pequeno grupo não seja uma amostra estatística do grupo maior, podendo
mudar, assim, a freqüência de certos genes. Segundo Wright seria justamente a
deriva em pequenos grupos que possibilitaria a exploração de certos vales
adaptativos. A seleção nunca iria atuar diminuindo a aptidão, descendo o vale,
mas a deriva poderia ter este papel e esta descida poderia acabar encontrando uma
nova subida.
Já Fisher tinha uma visão diferente de Wright. Para ele as populações eram
grandes, o que impediria em larga escala o papel da deriva genética. Além disso,
ele pensava na paisagem adaptativa não de só um caractere, mas de múltiplos
caracteres. Neste caso a diminuição da aptidão de um caractere pode ser
compensada pelo aumento da aptidão em outro, o que implica em uma maior
mobilidade na paisagem adaptativa e uma chance muito maior de se encontrar o
pico com maior valor adaptativo em toda a paisagem. Para que estes múltiplos
caracteres possam evoluir separadamente, a relação epistática entre os dois não
pode ser forte, ou seja, seus efeitos têm que ser de certa maneira separados, o que
acontece em um não pode influenciar muito o que acontece em outro. Caso
contrário, voltamos a Wright e ficaríamos presos em um pico local.
Temos, então, a visão de Wright de populações pequenas mudando por
deriva e presas em picos locais e a visão fisheriana de grandes populações
escalando gradualmente picos ótimos através da seleção natural. Como a deriva
genética não é muito difundida para o público leigo e como normalmente se fala
em espécies e não em populações, a visão fisheriana acabou se tornando a mais
comum. Além disso, é só esta visão que está mais de acordo com a antiga, mas
119
ainda permanente, idéia de “perfeição da natureza”. Por isso Gould, que
poderíamos considerar um defensor das idéias de Wright, atacou a imagem
comum da evolução utilizando como alvo principalmente o adaptacionismo e o
gradualismo fisheriano. Mas nunca é demais repetir que isto em nada altera as
linhas gerais da evolução por seleção natural e que Gould, Dawkins, Fisher e
Wright são todos grandes evolucionistas e naturalistas. É muito importante
também deixar claro que a divergência entre Gould e Dawkins não pode ser
perfeitamente espelhada na divergência entre Fisher e Wright, no entanto esta
ajuda a compreender aquela (cf. Futuyma, 2002, p.425 & Plotkin, 2004, p.52).
Uma das críticas mais famosas de Gould é a que ele fez ao que chamou de
gradualismo. Esta crítica ficou famosa porque em oposição a ela Gould, junto com
Lewontin e outros, propôs o Equilíbrio Pontuado. Já foi apresentado aqui o
“microscópio de Fisher”, que foi uma resposta aos mendelianos que se achavam
anti-darwinistas e que diziam que a evolução se dá aos saltos (capítulo 1). Contra
eles Fisher mostrou que a evolução se dava, na verdade, através de pequenos
ajustes que melhoravam as adaptações gradualmente. A evolução se daria, então,
através de pequenos passos adaptativos que iriam gradualmente melhorando o
valor total de aptidão de um indivíduo, sempre mantendo, como uma catraca, os
bons passos já dados. Tal visão não era nova, Darwin já havia dito que “toda
vantagem, por mínima que seja, basta para assegurar a vitória” (Darwin, 2004,
p.490). Entre duas espécies diferentes teríamos, então, um grande grupo de
intermediários levemente diferenciados e todos em um crescente aumento de valor
adaptativo.
Gould, um paleontólogo, afirmava que o gradualismo trazia uma imagem
errada da evolução, a saber: a de uma ladeira levemente inclinada que é subida
pelas espécies. Esta visão da evolução em larga escala de fato se transformava em
uma imagem no papel quando as árvores genealógicas eram desenhadas com
todos os seus galhos igualmente inclinados. Contra a imagem da ladeira Gould
propôs a imagem da escada com o seu equilíbrio pontuado. Para este as espécies
passariam por longos períodos de estase, ou seja, sem nenhuma mudança
adaptativa significativa, que seriam quebrados por curtos períodos de rápida
especiação. “Uma tendência, propúnhamos, é mais como subir os degraus de uma
escada (interrupções e estase) do que deslizar por um plano inclinado” (Gould,
1992, p.260).
120
O equilíbrio pontuado nos ajudaria a compreender a incompletude do
registro fóssil. Embora encontremos intermediários entre as hierarquias superiores
como, por exemplo, entre répteis e mamíferos, répteis e aves, peixes e anfíbios,
etc. dificilmente encontramos intermediários entre duas espécies. Normalmente já
encontramos as espécies bem formadas sem encontrar os intermediários entre elas.
Isto seria perfeitamente explicado pelo equilíbrio pontuado, pois este prevê que os
eventos de especiação além de rápidos, se dariam em pequenas populações
isoladas e não na espécie como um todo. Assim, a falta dos intermediários não
seria um erro do registro fóssil, muito pelo contrário, seria esperado pelo modo
como a especiação ocorre.
Além disso, Gould mostrou que os períodos de estase não deviam ser
compreendidos como uma espécie de ausência, de falta de evolução. Mais do que
uma nova compreensão da evolução, as idéias de Gould inspiraram uma série de
trabalhos que nos ajudaram a compreender a estase. Isto pode parecer estranho
nos dias de hoje, nos quais observa-se uma forte pressão anti-evolucionista,
proveniente dos adeptos do Design Inteligente financiado pela extrema direita
americana, que colocam a própria idéia de evolução em jogo. Mas antes disso a
evolução não estava sofrendo muita pressão pública e o que era de fato difícil de
explicar era a estase, nas palavras de Monod:
Não é a evolução mas a estabilidade das ‘formas’ que poderia parecer dificilmente
explicável, senão quase paradoxal (...) quanto à ostra de 150 milhões de anos atrás,
tinha a mesma aparência, e, sem dúvida, o mesmo sabor da que se serve hoje nos
restaurantes (Monod, 2006, p.123).
O equilíbrio pontuado nos ajuda a deixar os períodos de estase mais
compreensíveis. Eles acontecem principalmente porque “espécies grandes,
vitoriosas, bem adaptadas, móveis e geograficamente disseminadas são
particularmente propensas à estabilidade” (Gould, 1997, p.402). Estas espécies, se
forem sexuadas e tiverem um alto índice de migração entre suas populações, serão
ainda mais propensas à estabilidade, pois o sexo pode agir como um
homogeneizador, impedindo que cada população se adapte a sua condição local.
Mas o sexo também pode acelerar a especiação em momentos de forte pressão
seletiva, pois como um maior número de indivíduos mal-adaptados vai morrer,
aumentará a chance de que dois indivíduos diferentes, como duas boas mutações
diferentes, se reproduzam. A evolução poderá, assim, se mover mais rapidamente.
121
Teremos, então, o equilíbrio pontuado auxiliado pelo sexo nos seus dois
processos.
Mas como não podia deixar de ser, Gould propôs esta teoria como se fosse
uma grande revolução e acabou criando duas caricaturas, uma de seus “inimigos”
e outra dele mesmo. A caricatura criada contra os chamados gradualistas é a de
que eles acreditam que a evolução se dá em uma taxa constante de mutação, como
se fosse uma verdadeira ladeira sem momentos de maior ou menor inclinação.
Mas ao fazer isso, como nos mostra Dawkins e Ridley, confundem-se dois
sentidos da palavra “gradual”. Há um sentido onde gradual quer dizer “não se dá
aos saltos”, neste sentido todos, inclusive Gould, como veremos, é gradualista.
Mas há outro sentido onde o que é gradual é a taxa de evolução, como se a
evolução tivesse, nas palavras de Dawkins, uma aceleração constante. Embora o
desenho das árvores genealógicas pareça indicar realmente uma aceleração
constante, ninguém de fato defende esta teoria (cf. Ridley, 2006, p.621). Ninguém
defende que a evolução se dê sempre com a mesma taxa, sem que existam
períodos onde a taxa seja praticamente nula e períodos onde ela seja alta. Mas
Gould confunde estes dois gradualismos como podemos ver neste fragmento:
Outros questionam a ligação, feita por Darwin, entre a seleção natural e a mudança
gradual e imperceptível, passando por todos os estágios imperceptíveis; alegam que
a maioria dos eventos evolutivos pode ocorrer muito mais rapidamente do que
Darwin previu (Gould, 1992, p.255).
A confusão feita por Gould está nesta oposição entre “mudança gradual e
imperceptível” e “ocorrer muito mais rapidamente”. Não há uma verdadeira
oposição
aqui,
é
perfeitamente
possível que
tais
mudanças
graduais
imperceptíveis ocorram muito mais rapidamente. Há, aqui, a confusão já citada
entre os dois sentidos de “gradual”. Uma leitura mais apressada dos textos de
Gould levaria qualquer um a pensar que no lugar do gradualismo darwiniano ele
coloca uma evolução que se dá aos saltos.
Ao contrário do que é comum supor, Gould não é um saltacionista e nem um
defensor dos “monstros promissores”. Ele mesmo já afirmou que “a teoria de
Goldschmidt nada tem a ver com o equilíbrio pontuado” (Gould, 1992, p.260).
Para ele, as adaptações mudam gradualmente, mas dentro de um período
geologicamente muito curto. Tais mudanças graduais ocorreriam em períodos de
dezenas de milhares de anos, um período que, geologicamente, é um piscar de
122
olhos. Mas é ele mesmo que diz: “não sou antagonista da mudança gradual;
acredito, mesmo, que esse tipo de alteração costuma prevalecer” (Gould, 1997,
p.173). O que Gould defende, então, não diz respeito a como as adaptações
mudam, pois para ele elas também mudam através de um processo gradual sem
saltos, e sim quanto tempo demora este processo de evolução das adaptações. Por
isso Dawkins pode dizer, sem cair em contradição, que “a teoria do equilíbrio
pontuado é em si mesma gradualista” (Dawkins, 2005, p.373). Não só é
gradualista como é perfeitamente aceita dentro da visão ordinária da evolução e
foi até apresentada pelo próprio Darwin:
embora cada espécie deva ter atravessado numerosas fases de transição, é provável
que os períodos durante os quais sofreu transformações, embora longos, se
calculados em anos, tenham sido curtos, em comparação com aqueles durante os
quais cada uma permaneceu sem modificações (Darwin, 2004, p.378)
Fica claro, então, que o equilíbrio pontuado pode ter ajudado na
compreensão dos grandes períodos da evolução, mas não é uma revolução dentro
do darwinismo e não é, nem nunca foi, uma refutação de que a evolução se dá de
maneira gradual. Mas Gould nunca deixou clara esta diferença entre os dois tipos
de gradualismos e parece ele mesmo ter se confundido. Já uma outra crítica de
Gould parecia que iria atingir o darwinismo mais profundamente, mas acabou
também não alterando a “visão recebida” em larga escala, a saber, sua crítica ao
adaptacionismo.
Adaptacionismo, como seu nome indica, é acreditar que cada traço em um
ser vivo qualquer é uma adaptação a alguma pressão ambiental, surgida pela
seleção natural. Seria acreditar que todos os seres vivos evoluíram através de
pequenas, graduais, adaptações que correspondem à melhor adaptação possível
àquele ambiente. Como o adaptacionismo explica as grandes mudanças da
macroevolução através dos pequenos passos adaptativos da microevolução, ele
também foi chamado de extrapolacionismo. Nas palavras de Gould:
todos os eventos evolucionistas de grande escala (macroevolução) eram produto
gradual e acumulado de inúmeros passos, sendo cada um deles uma minúscula
adaptação às condições mutantes dentro de uma população local (Gould, 1992,
p.13).
Em outras palavras, o adaptacionismo seria uma defesa da ubiqüidade da
seleção natural, todos os caracteres encontrados deveriam ser explicados através
123
de ajustes de seleção (cf. Sterelny, 2001, p.56). É neste sentido que Gould não se
considera um “darwiniano estrito” (Gould, 1992, p.24). São asserções como estas
que tendem a confundir e obscurecer um debate interno da biologia que acaba se
transformando em um debate contra a seleção natural nas mãos de alguns
pensadores mal-intencionados. Entre os “darwinianos estritos” Gould enquadra,
principalmente, Dawkins e Dennett, mas também grande parte dos defensores da
sociobiologia, psicologia evolucionária e memética. A estes Gould chama,
pejorativamente, de ultradarwinistas ou hiperdarwinistas: seriam aqueles que
exageram no seu darwinismo e acabam vendo darwinismo “em tudo”.
Para Gould, o principal problema do adaptacionismo é a chamada “hipótese
do bom projeto”, que é assumir que todas as estruturas dos organismos estão
sempre bem adaptadas ao seu meio ambiente e é por isso que elas existem. Deste
modo, alguém escolhe alguma característica de um animal e faz uma narrativa
histórica de como ela surgiu e qual a vantagem adaptativa que ela tem para ter se
tornado tão comum. “Como muitos autores observaram, as explicações evolutivas
são inegavelmente narrativas históricas” (Dennett, 1998, p.329). Tais narrativas
freqüentemente não são testadas, por este motivo Gould diz que “virtuosidade na
invenção substitui a capacidade de testar como o critério de aceitação” (Gould,
1998, p.54). Elas são o que ficou conhecido como “just so story” (história assim
mesmo), uma história defendida só pela sua plausibilidade e por uma certa
“preguiça” intelectual de considerar e testar as outras opções18. Nas palavras de
Ruse:
Eles [Gould e outros] argumentam que para todos os casos os entusiastas da
evolução conseguem arranjar uma história ‘mais ou menos’ adaptacionista. Em
conseqüência, acabamos por ter diante de nós um quadro pseudo-científico,
panglossiano e metafísico do mundo, no qual tudo acontece da melhor maneira
possível, do ponto de vista da adaptação, por força da seleção natural (Ruse, 1995,
p.43)
Esta estratégia foi chamada de Panglossiana, uma referência ao personagem
que Voltaire criou para parodiar a idéia do melhor dos mundos possíveis de
Leibniz. É justamente esta sagacidade que Gould repudia. Tais histórias não
podem ser feitas porque nem tudo no organismo é uma adaptação, algumas coisas
são simples contingências históricas. Nem tudo no organismo precisa ter uma
18
Leda Cosmides, em uma conferência realizada na UFRJ em 2006, disse considerar tal termo
inadequado, pois “just so storys, na verdade, é só um termo ofensivo para ‘explicação’”.
124
função e mesmo aquilo que tem uma função não precisa ter surgido para cumprir
aquela função. Um exemplo dado é o queixo humano, ele existe por causa da
forma como o maxilar surge. Procurar uma função própria do queixo seria errado.
E o ultradarwinismo é o adaptacionismo levado ao extremo, levado para
além da biologia. Por isso, Gould o considera um erro e diz se preocupar
principalmente com os praticantes de outras disciplinas que “apaixonam-se por
sua simplicidade enganosa”. O principal exemplo que ele dá de tal praticante é,
exatamente, Daniel Dennett (cf. Fabian, 1998, p.36).
Além disso, há um problema ainda mais profundo que Gould considera no
cerne do adaptacionismo, é o problema que ocorre quando uma destas narrativas
históricas criadas para dar conta da evolução de um traço fenotípico se mostra
errada. Neste caso, os adaptacionistas ao invés de considerar que tal traço poderia
não ser uma adaptação, simplesmente inventam uma nova história para substituir
a antiga. Deste modo, o fato de que tal caractere é uma adaptação semi-ótima
selecionada pela seleção natural nunca é posto em dúvida (cf. Futuyma, 2002,
p.272). Neste sentido, pelo menos em alguns casos, Gould pode ser considerado
correto, como podemos ver no seguinte fragmento:
Weismann professava sem hesitar que ele era um panselecionista. ‘Não há qualquer
parte do corpo de um indivíduo ou de qualquer de seus ancestrais, nem mesmo as
partes mais insignificantes, que não tenha surgido de outra maneira a não ser pela
influência das condições de vida’ (1886:260). Ele admitiu, entretanto, que ‘estas
são apenas convicções, não provas reais’ (Mayr, 2006, p.116).
Temos, então, um famoso adaptacionista declarado, mas como podemos ver,
ele considera isso um convicção e não um fato provado. O mesmo podemos dizer
de todos os outros auto declarados adaptacionistas, como Dawkins e Dennett, este
inclusive diz que “o raciocínio adaptacionista não é opcional; ele é a alma da
biologia evolutiva” (Dennett, 1998, p.247). Mas ao afirmar isso, nenhum deles
nega a necessidade de se testar, na medida do possível, estas narrativas históricas
evolucionistas (seção 9.6). O adaptacionismo é central na biologia não porque
todos os traços são de fato adaptações, mas porque ele é a principal ferramenta
para explicar adaptações. Uma vez descoberta uma adaptação, o mais razoável é
tentar descobrir como ela se originou por seleção natural, pois este é o principal
processo no surgimento de adaptações. Mas ninguém nega que tal traço possa não
ter surgido por seleção, no entanto, contar sempre com isso seria dar muito crédito
125
ao acaso. Acreditar que muitas adaptações surgem por contingência histórica seria
acreditar em milagres e ninguém, nem mesmo Gould e Lewontin, acreditam nisso.
Gould mesmo disse que “a seleção natural é o mecanismo predominante na
mudança evolutiva (uma proposição que não contesto)” (Gould, 1993, p.12). O
que ele contesta é que ela seja o único processo responsável pela evolução.
O pensamento panglossiano é tão constante e central na biologia, como disse
Dennett, que até mesmo Gould o utiliza largamente como pode ser observado em
praticamente todos os seus artigos nos quais ele desenvolve narrativas históricas
evolucionistas. No entanto, este uso fica ainda mais claro quando um verdadeiro
anti-darwinista e defensor do Design Inteligente, Michael Behe, critica Gould
ironicamente nos mesmos termos que Gould critica os adaptacionistas:
Ele supõe que o planejador agiria como ele o faria, que os polegares do panda
‘deveria’ ser dispostos de maneira diferente. Ele, em seguida, acha que essas
asserções são provas da evolução. (...) Gould nada fez além de inventar uma
história (Behe, 1997, p.230).
O polegar do panda é o nome de um elogiado livro de Gould onde ele
mostra justamente alguns caracteres de alguns animais que não podem ser
explicados como adaptações, ou seja, é um livro escrito para ser uma crítica direta
ao adaptacionismo. Mas Behe diz que Gould não apresentou provas empíricas
para embasar sua conclusão, simplesmente disse que o polegar do panda não é
uma adaptação ao seu meio. Ao fazer isso, Gould cria uma just so story nãoadaptacionista para tal caractere! Isto deveria ser o suficiente para mostrar que a
criação de tais narrativas históricas não é um capricho adaptacionista, ela é central
na biologia evolutiva e, como o próprio Gould admite que “a seleção natural é o
mecanismo predominante na mudança evolutiva”, então a maioria destas histórias
será adaptacionista.
Como já vimos, até Dawkins se mostra um defensor do neutralismo, ou seja,
da teoria que a maioria das mudanças evolutivas no nível molecular se dá através
de trocas neutras ou sinônimas que variam pelo acaso e não pela seleção natural
(seção 1.1). No entanto, mesmos os neutralistas não defendem que as mudanças
adaptativas se dêem de maneira neutra: elas seriam fixadas pela seleção natural.
Pode haver discussão sobre qual seria o papel da seleção: eliminando mudanças
ruins ou selecionando mudanças boas. Mas nenhuma destas opções tira o papel
central da seleção. Uma adaptação que se dá ao acaso é possível, mas improvável,
126
mudanças como estas não desempenharam um grande papel na evolução das
espécies. Mas há traços fenotípicos que não são propriamente adaptações e é uma
ênfase nestes traços que Gould quer dar.
Entre os processos que Gould pretende colocar no lugar das adaptações, um
em específico causa mais confusão, a chamada exaptação. Nas palavras de Gould:
Devemos restringir o termo adaptação somente para as estruturas que
desenvolveram para a sua utilidade corrente; as demais estruturas úteis, que
desenvolveram por outras razões, ou por nenhuma razão convencional, e
tornaram fortuitamente disponíveis para outras utilidades, nós as chamamos
‘exaptações’ (Gould, 1992, p.170).
se
se
se
de
Exaptações são estruturas que tinham uma certa função adaptativa, mas
acabaram sendo usadas com um outro propósito, como uma moeda ou faca que
pode ser usada como chave de fenda. Os exemplos são inúmeros: as penas das
aves serviam como um dispositivo térmico, mas acabaram sendo usadas no vôo,
as barbatanas dos peixes acabaram sendo os quatro membros dos tetrápodes, os
ossos do maxilar dos répteis se transformaram nos ossos do ouvido dos mamíferos
etc. As exaptações eram chamadas de pré-adaptações, mas este termo era
enganoso, pois passava a noção de que algo poderia surgir sem ser uma
adaptação, sendo só o futuro suporte de uma adaptação por surgir. Já eram
conhecidas por Darwin, como ele mesmo nos mostra:
Podem ser trazidos muitos exemplos de órgãos e instintos adaptados
originariamente para uma só finalidade que mais tarde foram usados para vários
fins distintivos (Darwin, 2002, p.657).
Elas não são só bem conhecidas, como são consideradas extremamente
comuns e uma das principais “ferramentas” da natureza na seleção natural. É por
causa delas que Darwin afirmava que a natureza “é pródiga em variações e avara
em inovações”. Dificilmente algo verdadeiramente novo surge, o mais comum é
uma invenção velha ser usada de outro modo. Mas se as exaptações são tão bem
estabelecidas dentro da “visão recebida” da evolução, o motivo de Gould para
destacá-las se torna obscuro.
O que pode ser percebido é que Gould pretende fazer uma diferenciação
entre exaptação e adaptação. O termo adaptação seria “somente para as estruturas
que se desenvolveram para a sua utilidade corrente”. Esta distinção é típica de
Gould e é uma das principais fontes de suas criticas aos adaptacionistas, pois se
127
alguém acredita que exaptações não são adaptações, então realmente muitos
caracteres nos seres vivos não são adaptações. Mas não há motivos para fazer esta
separação, exaptações são adaptações!
Se você voltar bastante no tempo, verá que todas as adaptações se desenvolveram a
partir de estruturas precedentes que tinham algum outro uso ou que não eram
usadas para nada (Dennett, 1998, p.293).
Não há motivos para fazer esta separação, mas Gould, junto com Vrba, a faz
sob o pretexto de eliminar o termo “pré-adaptação”. Nisto foram bem sucedidos,
mas ao fazer uma distinção entre exaptação e adaptação causaram muita confusão,
principalmente na sua crítica ao adaptacionismo. Há ainda um motivo menos
explícito e que também causa confusão: Gould diz que o termo adaptação só pode
ser usado para estruturas que surgiram “para a sua utilidade corrente”. Vemos aí
que este caractere teria que ter surgido “para algo” para ser uma adaptação, já na
exaptação ele não teria surgido “para” ela, foi simplesmente uma reutilização
fortuita. Ele está certo ao ressaltar que algumas vezes um caractere de um ser vivo
pode não ter surgido inicialmente “para” o motivo que ele é usado atualmente,
mas isso não faz com que o modo que ele é usado atualmente deixe de ser uma
adaptação.
A utilização da linguagem de que uma adaptação é “para algo” pode ser
utilizada, mas sempre com cuidado. Quando a presença ou ausência de um gene é
capaz de fazer uma diferença fenotípica, podemos dizer que este gene serve para
aquele caractere específico. Nunca esquecendo que um gene só terá um
determinado efeito em determinado ambiente. No entanto, há um sentido forte de
“ser para algo” que está errado. Dizer que as penas de um pássaro “são para”
manter a temperatura do corpo e não “para” voar, pois elas surgiram só com o
primeiro motivo, é errado. Um gene “é para” aquilo que ele é utilizado no
ambiente e não para aquilo que ele foi pela primeira vez utilizado.
Uma perspectiva que evitaria erros seria simplesmente não utilizar este tipo
de linguagem, estritamente falando, genes não são para nada, eles simplesmente
decodificam determinadas proteínas em determinados ambientes. Mas a idéia de
que genes são “para algo” é muito comum e compreensível dentro de um
panorama evolucionista onde estes mesmos genes foram fixados justamente
porque eram capazes de determinar a presença ou ausência de certos caracteres.
128
Neste sentido bem óbvio, tais genes eram “para” estes caracteres. O que evita o
erro de determinar o que um gene “é para” é ter sempre em mente que o efeito de
um gene vai depender, em alguns casos largamente, do ambiente e, por isso, o que
ele “é para” também dependerá do ambiente. A falta de compreensão deste fato
levou Gould a uma má-interpretação das extinções em massa, como veremos
neste mesmo capítulo.
Tendo considerado a exaptação só uma forma comum de adaptação, vemos
que o paradigma adaptacionista não está correndo perigo. Mas existem sim
caracteres nos seres vivos que não são adaptações ao ambiente presente, o
principal exemplo são os órgãos vestigiais. Estes são órgãos que não têm mais
nenhuma função, mas que permanecem existindo. Um caso clássico é a do osso da
pélvis em baleias. Baleias, é claro, não têm patas traseiras, por isso não precisam
de uma pélvis, mas seus ancestrais tinham patas traseiras. Hoje algumas espécies
de baleias conservaram uma pélvis rudimentar, um órgão sem finalidade nenhuma
e que só está presente porque, teoricamente, não houve pressão suficiente para que
a seleção a eliminasse. Mas o caso mais notório de órgão vestigial é o nervo
laríngeo recorrente, que já foi apresentado aqui quando se falava em homologias
(seção 1.3.4).
As “imperfeições físicas” nos mostram que vivemos em um mundo que
obedece as leis da física. Um animal não pode ter qualquer tamanho, qualquer
força, qualquer velocidade se isso for contra as leis da física. Embora a existência
de leis biológicas seja discutível (seção 9.2), as imperfeições biológicas nos
mostram que nosso mundo é também um mundo biológico e restrito pelas
possibilidades biológicas. Mas aqui também Gould não está falando nada de novo,
Darwin, mais uma vez, já dizia:
Nos mamíferos, por exemplo, os machos possuem mamas rudimentares; nas
serpentes um dos lóbulos dos pulmões é rudimentar; nas aves, a asa bastarda não
passa de um dedo rudimentar, e em algumas espécies, a asa inteira é tão rudimentar
que é inútil para o vôo. Quanto mais curioso não é a presença de dentes no feto da
baleia, que quando adultas não têm vestígios desses órgãos; ou a presença de
dentes, que jamais perfuram a gengiva, na maxila superior da vaca antes do
nascimento? (Darwin, 2004, p.471)
O que Gould aponta como problema aqui é o possível erro de se considerar
tais órgãos como adaptações. Eles não são adaptados a nada, muito pelo contrário,
às vezes chegam a atrapalhar. Identificá-los como algo selecionado pela seleção
129
natural seria um grande erro. Os adaptacionistas deveriam ter cuidado com
exemplos como esse. No entanto, órgãos vestigiais podem não ser atualmente uma
adaptação, mas já foram uma, e é perfeitamente possível construir uma história
sobre para que eles serviam e como eles viraram vestigiais. Este tipo de história,
contada por Gould várias vezes, seria também uma história adaptacionista
comum, como vimos na crítica de Behe ao polegar do panda.
Exaptações são adaptações e órgãos vestigiais foram adaptações, isto nos
mostra que a única critica real que Gould fez ao programa adaptacionista diz
respeito às restrições ao desenvolvimento, em particular ao desenvolvimento
embriológico, a chamada canalização do desenvolvimento. Normalmente, para
usar um exemplo comum, se conhecemos uma espécie onde os animais têm 20 ou
40 cm de cauda, naturalmente pensamos que pode nascer um indivíduo desta
espécie com 30 cm de cauda, mas pode ser que isto esteja errado, pois o modo
como o desenvolvimento embriológico desta espécie se dá pode não ser capaz de
produzir indivíduos com caudas de 30 cm, só de 20 ou 40. Há, então, uma
restrição no desenvolvimento e seria errado achar que os indivíduos com 30 cm de
cauda não existem porque são selecionados contra este caractere. Muito pelo
contrário, pode ser uma ótima adaptação ter cauda de 30 cm, mas simplesmente
não é possível nesta espécie em questão. Além disso, alguns caracteres como, por
exemplo, o queixo humano, pode não ter uma função própria, seria só um
subproduto da forma como a mandíbula se desenvolveu (cf. Futuyma, 2002,
p.270). Procurar uma função específica para ele seria errado.
Aqui sim parece que encontraremos uma verdadeira divisão entre Gould e
Dawkins. Há uma verdadeira discussão sobre a amplitude do espaço de formas
possíveis. Dawkins e Dennett acreditam que, dado o tempo necessário, a seleção
natural pode explorar um número muito grande de formas diferenciadas. Já Gould
acredita que o número de formas possíveis é pequeno. Estas restrições se dariam
principalmente pelo forte valor epistático, ou seja, porque há uma sintonia fina no
trabalho entre os genes que dificilmente pode mudar sem que o produto final seja
monstruosamente afetado. O modo como se dá o desenvolvimento embriológico
impediria muitas mudanças, pois pequenas mudanças nele causariam grandes, e
provavelmente mal-adaptadas, mudanças no fenótipo.
Para deixar este problema mais claro, Dawkins e posteriormente Dennett,
utilizaram a imagem do “Museu de Todos os Animais Possíveis”. Este seria um
130
espaço imaginário de múltiplas dimensões, cada dimensão dizendo respeito há
algum tipo de variação em um determinado caractere. Assim, no que diz respeito
ao tamanho de um certo tipo de cauda, teríamos todas as variações de tamanhos
em uma dimensão, de formas de cauda em outra, de cores em outra, de espessura
em outra etc. Cada indivíduo de fato existente ocuparia um determinado ponto
neste espaço de múltiplas dimensões e os vizinhos dele seriam justamente os
indivíduos mais parecidos com ele. Deste modo Dawkins pode dizer:
Alguns biólogos acham que, à medida que caminharmos pelos longos corredores do
museu, encontraremos gradações suaves em todas as direções. Aliás, grandes áreas
do museu nunca foram visitadas por criaturas de carne e osso e, de acordo com essa
abordagem, somente seriam visitadas se a seleção natural ‘quisesse’ se intrometer
naquelas áreas. Um grupo diferente de biólogos, com os quais simpatizo menos,
mas que podem estar certos, acha que grandes áreas do museu estarão sempre
interditadas para a seleção natural; a seleção natural poderá esmurrar ansiosamente
a porta de entrada de um certo corredor e nunca ser admitida, porque as mutações
necessárias simplesmente não podem surgir. (Dawkins, 1998, p.244)
Temos, então, uma visão clara da separação entre estes dois grupos. Um
acha que o espaço de manobra para a seleção é rico, finamente graduado e só não
foi visitado por falta de tempo e/ou por falta de pressão seletiva. Estes podem ser
propriamente chamados de selecionistas ou fischerianos. Já um outro grupo,
inspirados em Wright, acha que os altos valores epistáticos impedem o surgimento
de muitas mutações e, deste modo, a seleção natural se encontra restrita, devendo
trabalhar com as variações que lhe restam.
Uma vez feita esta distinção, é preciso deixar claro um ponto crucial: Gould
não nega a seleção natural e Dawkins não nega as restrições estruturais. Ao
contrário do que pode parecer, não há discussão sobre a existência ou não de
restrições ao desenvolvimento. Todos concordam que há. A discussão diz somente
respeito a quão importantes são estas restrições. Infelizmente, a discussão pública
feita entre Dawkins e Gould e a persistência deste de chamar seus oponentes de
adaptacionistas, ou selecionistas ou até darwinistas estritos, causou e ainda causa
muita confusão. A primeira confusão é quanto a existência da seleção natural: já
vimos que Gould não a nega e nem mesmo tira a sua importância no surgimento
de adaptações. Já a segunda confusão é uma caricatura dos selecionistas como se
estes não acreditassem na existência de restrições. Mas Dawkins nos diz:
Julga-se que a caricatura de darwinista acredita que o corpo é uma argila
infinitamente maleável, pronta para ser moldada pela onipotente seleção em
131
qualquer forma que ela possa favorecer. É importante entender a diferença entre o
darwinista da vida real e a caricatura (...) essa caricatura não existe de fato.
Infelizmente, algumas pessoas acham que existe, e julgam que, por discordarem
dela, estão discordando do próprio darwinismo (Dawkins, 2001, p.448 e 451).
Esta caricatura do darwinista hiperselecionista que acredita que qualquer
coisa é possível não corresponde a ninguém em particular. Ninguém nega o papel
das restrições, o que está em discussão é o quão importante ela é e, neste caso, há
um debate perfeitamente válido e dentro do próprio darwinismo. Ambos os lados
têm que admitir que não possuem provas conclusivas para refutar o oponente e,
então, a discussão se resume ao que cada um acha que deve ser verdade. Dawkins
e Gould por várias vezes admitem que dão ao seu devido lado um poder maior nos
processos evolutivos, mas sem prova nenhuma disso (cf. Dawkins, 2001, p.131 &
Gould, 1992, p.53).
No entanto, nem todas as restrições se devem à sintonia fina do
desenvolvimento embriológico: há restrições que poderiam ser chamadas de
históricas. São momentos onde um certo caractere se tornou comum por simples
acaso e com a evolução subseqüente foi se tornando cada vez mais difícil dele
mudar. É o que Dennett chamou de fenômeno QWERTY. Estas são as primeiras
seis letras de praticamente qualquer teclado de computador. Os teclados não estão
organizados em ordem alfabética porque, quando só existiam teclados em
máquinas de escrever, organizá-los em ordem alfabética causava problemas:
certas letras que eram muito utilizadas uma próxima da outra, e que eram de fato
próximas uma da outra no alfabeto, tendiam a enganchar uma na outra quando se
digitava algo rapidamente. Deste modo, foi necessário desenvolver uma seqüência
de letras onde aquelas que eram muito comumente escritas juntas se encontravam
separadas o suficiente para evitar o engate das teclas. Assim se originou este
teclado que começa com as letras qwerty. Quando os computadores surgiram, não
era mais necessário organizar as letras de tal forma, elas podiam ser colocadas de
volta em ordem alfabética, mas como todos já estavam acostumados com o modo
como elas eram organizadas, o qwerty continuou.
Temos aqui um caso de uma decisão histórica que acabou congelada,
mesmo quando não era mais necessária, uma vez que ela tenha surgido torna-se
difícil se livrar dela. Fenômenos parecidos com este existem na natureza, são
“acidentes congelados” que dificilmente mudam. Um exemplo que Gould gosta
de dar são dos quatro membros dos tetrápodes, segundo ele, não há explicação
132
adaptativa para termos só quatro membros, simplesmente descendemos de um ser
que tinha quatro membros. Um exemplo mais marcante é o já apresentado nervo
laríngeo recorrente (seção 1.3.4). Existe a possibilidade que o próprio código
genético seja um exemplo, não se sabe se a relação entre cada trinca de
nucleotídeos e seu aminoácido é como é porque algum outro modo não seria
quimicamente possível, neste caso seria uma restrição físico-química, ou se isto se
deve ao fato de que tal código é realmente o melhor entre os inúmeros possíveis,
então ele se deveria à seleção natural. Pode ser também que ele seja um simples
caso de acidente congelado que dificilmente poderia ser mudado.
A existência de tal tipo de restrição é inquestionável, mas diferente do
exemplo anterior, esta restrição não tem que ter necessariamente uma relação
direta com o desenvolvimento embriológico. Este poderia ser capaz de construir
um ser diferente, mas que não seria viável por um outro motivo qualquer. Uma
mãe, por exemplo, pode recusar filhotes que ela considere como mal-formados,
mesmo que esta má-formação seja, na verdade, uma ótima adaptação. O que todos
concordam é que em qualquer caso real é sempre muito difícil saber se um
caractere de um determinado ser vivo existe por causa da seleção, das restrições
ou de ambos. O que realmente Gould critica é somente a pressa de alguns em
decidir logo que foi a seleção o principal responsável e nisto ele pode estar certo,
embora, como já foi dito, a seleção seja de fato a nossa melhor explicação para o
surgimento de adaptações.
A idéia de que as restrições moldam os seres vivos fez Gould procurar por
grandes padrões nas formas dos animais. Se o poder das restrições fosse muito
grande, seria esperado um número limitado de formas possíveis, só com pequenas
variações dentro destas formas. A estas formas gerais Gould deu o nome de
bauplan, ou “planta baixa”. Estas seriam formas básicas de se construir seres
vivos. Ter quatro membros, por exemplo, seria uma característica muito comum e
que diferenciaria os tetrápodes. A partir desta idéia de que há algumas poucas
formas fundamentais, Gould pôde distinguir entre disparidade e diversidade.
Disparidade seria justamente o número de formas fundamentais, já diversidade
seria o número de possíveis variações desta forma. Seres humanos, chimpanzés,
orangotangos, gorilas etc. todos têm a mesma forma básica, não há diferença de
disparidade, mas há diferenças que garantem a diversidade. A disparidade seria
133
medida principalmente pelo número existentes de filos, uma das maiores escalas
da hierarquia de Lineu.
Munido desta diferença, Gould pôde dizer que na explosão cambriana,
momento há cerca de 550 milhões de anos, que aparentemente durou cerca de 5 à
10 milhões de anos onde “subitamente” surgiram um número grande de novas
formas de vida que até então não existiam, houve um súbito aumento de
disparidade e, desde então, a disparidade diminuiu, mas a diversidade aumentou.
A explosão cambriana seria a responsável pelo surgimento de praticamente todos
os filos que existem hoje e também por alguns que deixaram de existir. Seria uma
espécie de “‘máquina de fazer filos’” (Gould, 1997, p.146). Além disso, os filos
que permaneceram existindo não sobreviveram porque eram melhores adaptados,
mas simplesmente por acaso, ou seja, poderiam muito bem ter sobrevivido outros
filos que não os presentes.
Ignorando o perigo da possível recaída no essencialismo, existem alguns
problema sérios com esta visão. Um filo tem que ser identificado por alguma
característica altamente conservada, mas qual característica é essa é uma questão
muito difícil, ainda mais se tratando de filos que teoricamente teriam sido
extintos:
Deve haver algum princípio que mostre, por exemplo, que a variação no número de
patas entre os artrópodes seja um aspecto genuíno da disparidade, enquanto que a
variação no número de pelos nas narinas dos primatas não o é (Sterelny, 2001,
p.106. Minha tradução).
Se já é difícil identificar qual seria esta característica em um filo existente,
em um filo que teria sido extinto isto se torna praticamente impossível. Em um ser
com, por exemplo, vinte pernas e quatro antenas, não há como saber qual
característica definiria o filo. Pode ser qualquer uma das duas, as duas ou até
nenhumas delas. As características nem sempre têm que ser óbvias. Uma das
características que marca a separação entre répteis e mamíferos, como vimos, é
que alguns ossos do maxilar dos répteis viraram ossos do ouvido do mamífero,
algo que está longe de ser uma característica definidora óbvia.
A dificuldade em dizer como definir um filo, ainda mais um que “acabou de
surgir” ou um que “deixou de existir” mostra que Gould incorreu em uma falácia
tipicamente essencialista: achar que um filo novo já nasce pronto como se fosse
um filo e não uma espécie que vai se diversificando tanto em outras espécies
134
filhas que, no futuro, suas características passam a ser consideradas como
demarcando um filo. Esta é a falácia que ficou conhecida como “coroamento
retrospectivo”.
Filos não nascem já filos, não brotam por conta própria. O que surge são
sempre novas espécies. Ou melhor, são novos indivíduos separados de seus
parentes próximos por alguma barreira reprodutiva. Para um filo ser designado
como tal, devem existir algumas características altamente conservadas em
inúmeras espécies a partir de um descendente comum que tinha estas
características. Mas para uma característica ser designada como “altamente
conservada” ela deve ter sido altamente conservada! Não é possível que algum
grupo de características diferentes que tenha surgido e depois desaparecido seja
considerado como designador de um filo que nunca existiu. Além disso, quando
estas características surgem, elas não são características de um filo nascente e sim
de uma nova espécie que, seja por que motivo for, eventualmente terá tantas
espécies filhas, ou melhor, netas, bisnetas, etc. que será considerado como um
filo.
Como Dawkins notou muito bem, dizer que filos surgem de uma maneira
diferente das espécies é o mesmo que dizer que em uma árvore os troncos grossos
surgem de uma maneira diferente dos troncos finos (cf. Dawkins, 2005, p.379).
Isto está claramente errado, pois todos os troncos grossos foram uma vez troncos
finos e qualquer tronco fino atualmente existente pode vir a ser um tronco grosso
no futuro. Não há nada de especial em um determinado tronco fino que garanta
que ele seja um verdadeiro pretendente a ser tronco grosso. Do mesmo modo,
filos não surgem por conta própria já predestinados a ser filos, só surgem novas
espécies que talvez dêem origem a novos filos. A idéia de que um novo filo possa
nascer já sendo um novo filo só pode ser compreendida a partir de uma visão
essencialista da biologia.
No final das contas, o que Gould quer mostrar com a explosão cambriana,
além de mostrar que existiriam grandes padrões na evolução, é que não existiriam
motivos baseados na seleção natural para dizer por que alguns filos sobreviveram
e outros não. Em outras palavras, quer mostrar o papel do acaso e das
contingências históricas nas delimitações dos grandes padrões da evolução. Este é
o mesmo motivo que faz Gould insistir também no tema das grandes extinções em
massa. A extinção em massa mais conhecida é a que fica entre o cretáceo e o
135
terciário e que aconteceu por volta de 65 milhões de anos atrás. É a famosa
extinção onde um meteoro deve ter atingido a Terra e dizimado os dinossauros,
junto com cerca de 70% da vida no planeta. Esta é uma extinção muito importante
para nós porque foi por causa dela que os mamíferos puderam se desenvolver e,
eventualmente, chegar nos seres humanos.
O que Gould pretende mostrar é que nessas extinções há um grande papel
para a sorte: os indivíduos que sobreviveram a ela não sobreviveram porque
estavam bem adaptados a sobreviver em períodos catastróficos. Não houve
motivo adaptativo para a sua sobrevivência, as espécies que se extinguiram
poderiam ter sobrevivido e vice-versa. Em oposição a ele estaria uma visão de que
já havia um processo de extinção ocorrendo e que a queda do meteoro só o
agravou (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.303). Defender que o mesmo processo
que operava antes da queda operou durante os momentos de catástrofe seria
justamente a defesa do chamado extrapolacionismo, que já vimos aqui. Esta visão,
ao colocar toda a força na seleção e tirar o papel da sorte estaria indo longe
demais no seu adaptacionismo.
No entanto, Gould parece mais uma vez estar criticando um lugar vazio.
“Todo darwiniano ortodoxo concordaria inteiramente que as grandes extinções
são em larga medida uma questão de acaso” (Dawkins, 2005, p.361). Em um
sentido isto é bastante óbvio, ninguém em sã consciência acreditaria que algum
ser vivo já possuiria um caractere para sobreviver a uma queda de meteoro, como
se já soubesse o que iria acontecer. Mas há uma questão a ser explorada aqui:
como vimos, Gould acredita que o termo adaptação deve ser usado só para a
função que um caractere foi desenvolvido pela primeira vez, se ele é reutilizado
de outra forma, deixa de ser uma adaptação e passa a ser uma exaptação. Neste
sentido é em princípio óbvio que nenhum ser vivo poderia ter uma adaptação para
sobreviver a uma queda de meteoro.
Gould acha que nos períodos de extinção acontece algo diferente dos
períodos “normais” porque certas características “são para algo”. Neste sentido,
durante uma catástrofe elas estão sendo usadas de uma maneira diferente e que
elas não são “para aquilo”. Uma importante digressão deve ser novamente feita
aqui. Estritamente falando, genes não são “para” nada. Eles apenas funcionam de
determinada maneira em determinado ambiente, sendo que, e isto é muito
importante, os outros genes com os quais ele interagem são considerados como
136
partes do ambiente dele. Em outro ambiente externo ou interagindo com outros
genes, um determinado gene pode ter efeitos fenotípicos bem diferentes. Deste
modo, dizer que gene é “para” alguma coisa significa dizer que em um mesmo
ambiente ele tenderá a ter um mesmo efeito e, se for retirado ou modificado, o
efeito será diferente. Nas palavras de Dawkins:
Quando um geneticista, falando da Drosophila, se refere a um gene “para” os olhos
vermelhos, ele não está se referindo ao cístron que age como modelo para a síntese
da molécula do pigmento vermelho. Ele está implicitamente dizendo: há uma
variação na cor dos olhos da população; mantendo-se inalterados os demais fatores,
uma mosca com esse gene tem maior probabilidade de apresentar olhos vermelhos
do que uma mosca sem esse gene (Dawkins, 1999, p.21. Minha tradução).
Podemos ver, então, que ao se falar de um “gene para” o que interessa não é
o efeito de um pedaço de cromossomo e sim a diferença que a sua presença ou sua
ausência acarreta. “Os fenótipos não são causados pelos genes; apenas as
diferenças fenotípicas são causadas pelas diferenças dos genes” (Dawkins, 1999,
p.195. Minha tradução). Deste modo, este mesmo cistron, em outro ambiente, será
um “gene para” outra coisa.
Mas uma característica não é, no sentido estrito, “para” nada. Ela só
funciona bem em determinado ambiente e não há nada de anormal se ela
funcionar também em um ambiente de catástrofe, pois não era exclusivamente
“para o ambiente pré-catastrofe”. Se um ser vivo tiver uma adaptação que lhe
permita sobreviver bem em um ambiente catastrófico ocasionado pela queda de
um grande meteoro, então podemos dizer que ele tem uma adaptação “para” este
determinado ambiente, mesmo que ela não tenha surgido com este propósito
específico. Um exemplo seria uma espécie que pudesse hibernar por longos
períodos onde haveria uma baixa de nutrientes: ela teria desenvolvido isso para
situações ditas “normais”, mas esta também seria uma ótima adaptação “para” um
ambiente catastrófico não previsto. Deste modo, não há motivos para não se
considerar a sobrevivência dela um processo comum de seleção natural.
Isto de maneira nenhuma significa tirar o papel do acaso e de acidentes
históricos. O próprio surgimento daquela situação peculiar seria por mero acaso e
também por mero acaso aquela espécie teria uma boa adaptação para tal novo
ambiente. Mas uma vez que todas as peças estejam postas em jogo, a
sobrevivência ou não daquela espécie não seria por acaso e sim porque ela estava
mal ou bem adaptada ao novo ambiente. No entanto, foi por pura sorte que
137
naquele momento existiam espécies capazes de sobreviver àquele ambiente. O
acaso só teria um papel forte para representar naquelas espécies que estavam
justamente na área que foi dizimada pela queda do meteoro. Estas sim
simplesmente poderíamos dizer que estavam “no lugar errado, na hora errada”.
Mas mesmo neste caso extremo não seria errado dizer que elas estavam mal
adaptadas ao ambiente, sendo que neste caso o ambiente seria um gigantesco
meteoro caindo sobre elas!
Podemos perceber que durante toda esta longa discussão Gould tentou criar
revoluções que acabaram se mostrando no máximo ajustes à “visão recebida” do
evolucionismo. Em grande parte das vezes, o que Gould criticava já fazia parte do
próprio darwinismo ortodoxo e Gould parecia querer dar só uma ênfase a um
processo que já era conhecido, mas não muito comentado. Este seria o caso de
equilíbrio pontuado. Em outros casos, como no da exaptação, o que era proposto
era uma mudança terminológica que deveria, quase que por conta própria, “refutar
o adaptacionismo”. No caso aparentemente mais grave que dizia respeito ao papel
das restrições em oposição à seleção natural, a separação entre Gould e Dawkins,
que espelha a separação entre Fisher e Wright, é só um debate interno do próprio
darwinismo e onde ambos os lados simplesmente escolhem onde darão sua ênfase
sem que existam provas conclusivas para defender um lado em detrimento do
outro. Isto sem contar nas inúmeras vezes que Gould diminuiu sua retórica
panfletária e mostrou que ele não está em oposição ao que parece que está, como
quando diz que a seleção natural é o principal processo na evolução de
adaptações.
Toda esta gama de falsas revoluções nos faz perceber que o papel de antidarwinista que imputam a Gould está errado, embora possa ter sido incentivado
pelo próprio Gould. Grande parte de suas propostas estão corretas e,
principalmente, fazem parte do darwinismo quando bem compreendido. Por isso
uma oposição entre Gould e Dawkins é uma falsa oposição. No máximo é uma
questão de ênfase em alguns processos ou em outros e não uma verdadeira
dicotomia no seio do darwinismo contemporâneo.
3
Memes e Memética, um Início
Vimos anteriormente que é possível pensar na evolução por seleção natural
apenas analisando a sua estrutura abstrata e deixando de lado o substrato no qual
esta estrutura é realizada, ou seja, que é possível construir um esqueleto da
evolução sem a sua carne (seção 1.2). Análises como estas normalmente são
chamadas de funcionalistas, e significa que algo pode ser entendido não pelo
material com o qual é feito, mas pelo modo como funciona. O exemplo clássico é
o de um motor de carro, que poderia ser feito de várias maneiras e com vários
materiais, mas se cumprir a sua função ainda será considerado um motor de carro.
Dentro da biologia o funcionalismo ficou conhecido como Darwinismo Universal.
O Darwinismo Universal afirma que onde houver variação e reprodução
com hereditariedade, de modo que tal variação possa influenciar a probabilidade
de tal reprodução, e houver também uma quantidade finita de “nutrientes”
necessários para a reprodução e tempo para este processo se desenvolver, haverá a
possibilidade de um processo de evolução por seleção natural. Dado que esta
reprodução nem sempre será perfeita, podendo surgir novas variações, e dado que
dentre estas variações algumas poderão aumentar ainda mais o sucesso
reprodutivo, então algumas variedades se tornarão mais comuns do que outras
porque serão capazes de um número maior de reprodução. Tais variedades
poderão sofrer novas mutações que as tornem ainda mais eficientes em se
reproduzir. Este processo, onde mutações tornam algo mais eficaz de se
reproduzir, é o que se convencionou chamar de “seleção natural”. Já este outro
processo, no qual as mutações vão se acumulando, é o que se chama “evolução”.
Temos, então, um processo de evolução por seleção natural perfeitamente
compreendido sem nenhuma menção ao seu substrato. O fato de que tal análise
pode ser feita, de maneira nenhuma garante que temos aqui um processo abstrato,
ou como Dennett disse, algorítmico, que seria capaz de ser implementado em
vários substratos. Para manter o exemplo já dado, é claro que o modo da
construção de um motor de carro e o tipo de material com o qual ele foi
construído podem influenciar no seu desempenho. Se tal motor fosse feito de
139
manteiga, por exemplo, ele sequer funcionaria. Pode ser que o único motor de fato
possível seja o existente, neste caso nenhuma de suas variações possibilitariam o
seu funcionamento. Existiria, então, uma forte dependência entre o material e a
função, de tal modo que o funcionalismo daria lugar ao que se convencionou
chamar de reducionismo. Mas se este for o caso, deve ser possível explicar o que
há de “especial” em um determinado substrato para que ele seja o único existente
capaz de cumprir tal função.
Já vimos rapidamente que na filosofia da mente tais discussões acabam
originando a separação entre o funcionalismo, o reducionismo e o dualismo
(capítulo 2). Posições como as que Searle defendeu, de que o cérebro é o único
substrato capaz de ter mente, deveriam ser capazes de explicar o que há de
especial nos neurônios e que falta em todo e qualquer outro substrato existente.
Na biologia, a possibilidade de se compreender o darwinismo de maneira
abstrata causa consideravelmente menos controvérsia do que na filosofia da
mente. Já vimos que vários biólogos, dentre eles o próprio Darwin, fizeram
análises deste tipo. Mas mais importante ainda, vimos que já existem vários
processos onde a evolução por seleção natural é, de uma maneira mais ou menos
rigorosa, aplicada a outros substratos. Tal é o caso do sistema imunológico e dos
príons. Vimos também Cairns-Smith aplicando tal processo à replicação de
cristais, Jablonka aplicando-o à evolução epigenética e até Lee Smolin aplicandoo a universos inteiros! Estes são alguns dos casos conhecidos e já estudados,
embora, principalmente nos exemplos de Cairns-Smith e Lee Smolin, existam
fortes controvérsias. É por isso que Dawkins nos diz que “os genes são só os
exemplos mais óbvios de replicadores. Outros candidatos são os vírus de
computador e memes” (Dawkins, 2007, p.253). O mesmo podemos dizer dos
príons, cristais e, quem sabe, até de universos!
Além disso, o Darwinismo Universal tem certo poder preditivo na medida
em que acredita que seres vivos que possam existir em outros universos muito
provavelmente também se desenvolverão por um processo de evolução por
seleção natural, mesmo que sejam feitos de substratos diferentes do nosso. Na
verdade, como o nosso conceito de “vida” está muito associado aos processos
encontrados no nosso planeta, é possível que a procura de vida em outros planetas
fique limitada ao que conhecemos como vida aqui, de modo que outros “seres
vivos” completamente diferentes dos encontrados aqui sejam ignorados
140
justamente por serem diferentes. Neste caso, a descoberta de um processo de
evolução por seleção natural, seja em que substrato for, poderia ser um forte
indicativo de que há grandes chances de haver vida ali. Nas palavras de Dawkins:
As leis da Física supostamente são verdadeiras em todo o universo acessível. Há
qualquer princípio da Biologia que possivelmente tenha uma validade universal
semelhante? (...) haverá, ainda assim, um princípio geral que se aplique à toda
vida? Evidentemente eu não sei, mas se tivesse que apostar, confiaria meu dinheiro
em um princípio fundamental. Esta é a lei de que toda a vida evolui pela
sobrevivência diferencial de entidades replicadoras (Dawkins, 2001, p.213).
3.1
Richard Dawkins e o Nascimento dos Memes
Uma vez compreendido o que é o Darwinismo Universal, podemos
compreender o que é a memética simplesmente dizendo que ela é o algoritmo da
evolução por seleção natural aplicada diretamente à cultura. A única questão
pendente seria, na verdade, saber se este substrato tem todas as propriedades
necessárias para implementar a evolução darwinista, ou seja, se ele tem
reprodução com hereditariedade, variação intraespecífica, possibilidade do
surgimento de novas mutações, aptidão diferencial, falta de recursos para a
reprodução e tempo para o processo ocorrer.
Foi justamente para deixar mais intuitiva a idéia de que a evolução
independe do substrato que Dawkins cunhou, no último capítulo de seu livro O
Gene Egoísta, em 1976, o conceito de meme:
Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que transmita a
idéia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação.
‘Mimeme’ provém de uma raiz grega adequada, mas quero um monossílabo que
soe um pouco como ‘gene’. Espero que meus amigos helenistas me perdoem se eu
abreviar mimeme para meme. Se servir como consolo, pode-se, alternativamente,
pensar que a palavra está relacionada com ‘memória’, ou à palavra francesa même.
(Dawkins, 2001, p.214)
Um meme pode ser compreendido como uma unidade de cultura, um
comportamento ou uma idéia que pode ser passado de pessoa para pessoa. Os
exemplos de memes são inúmeros e os mais comumente citados são: a moda no
vestuário e na alimentação, cerimônias e costumes, arte e arquitetura, engenharia e
tecnologia, melodias, músicas, idéias, slogans, maneiras de construir arcos, o
141
alfabeto, a linguagem, queimar a bandeira americana, a religião, o xadrez, o
nazismo, a pornografia, os direitos humanos, o desconstrucionismo etc. Toda a
cultura, todos os comportamentos sociais, todas as idéias e teorias, todo
comportamento não geneticamente determinado, tudo que uma pessoa é capaz de
imitar ou aprender com uma outra pessoa é um meme.
A definição mais usada de memes foi dada por Susan Blackmore: “memes
são instruções para realizar comportamentos, armazenadas no cérebro (ou em
outros objetos) e passadas adiante por imitação” (Blackmore, 1999, p.17). Vemos
já aí a referência a questão: os memes estão só em cérebros ou se podem ser
encontrados em outros substratos também como livros, cds, fitas etc? Tal questão
será abordada aqui, mas algumas implicações só serão discutidas no último
capítulo (seção 10.8). Além disso, Blackmore fala de memes como “instruções”.
Deste modo ela habilmente foge de uma definição comum, usada por Dawkins e
Dennett, de memes como informação. É preferível utilizar esta definição, pois o
conceito de informação não está bem definido nem mesmo na biologia, como
muito bem observou Maynard-Smith (1993, p.79).
No entanto, é possível ao menos deixar um pouco mais intuitivo o que está
sendo chamado de informação. Uma possível definição utilizada nesta área diz
que informação é “qualquer tipo de estado mental, consciente ou não, que é
adquirido ou modificado pelo aprendizado social, e que afete o comportamento”
(Richerson & Boyd, 2006, p.5. Minha tradução). Qualquer mudança que cause
uma diferença no conteúdo de um estado mental será considerada como uma
informação. Se tal conteúdo será entendido de maneira externalista ou internalista
é uma discussão importante, mas não é uma questão que será tratada aqui. Utilizase o termo “conteúdo mental” apenas para diferenciar este termo de “estado
mental”, pois em certas concepções pode-se dizer que mudanças de humor podem
não alterar o conteúdo e neste caso tais mudanças não seriam relevantes para a
memética. Blackmore deixa bem claro que mudanças de humor não são passadas
por imitação, por isso não são meméticas. Mas, de outro modo, pode-se considerar
que mudanças de humor podem sim ser tratadas como transmissíveis e carregando
alguma espécie de informação em um sentido mais amplo.
O primeiro passo para falar em uma evolução memética é separá-la da
evolução genética. Veremos, no próximo capítulo, que a biologia já foi fonte de
várias outras abordagens que tinham o intuito de explicar o comportamento, em
142
particular o comportamento humano, e o advento e desenvolvimento da cultura.
Dentre estas destacamos a sociobiologia e a psicologia evolutiva. No entanto, é
preciso separar claramente a memética destes tipos de tratamento para a questão
da cultura. Estas abordagens explicam a cultura de alguma forma ligada a
evolução genética. Daí ter surgido a imagem da cultura amarrada em uma coleira
(leash) comandada pelos genes. Mas a memética, tratando-se de uma evolução por
conta própria, não considera aceitável a idéia de que a evolução da cultura é de
alguma forma comandada pela evolução dos genes e, particularmente nesta
questão, se aproxima mais das ciências humanas. Dawkins fez questão de ressaltar
isso assim que criou o conceito de meme:
Sempre que surgirem condições nas quais um novo tipo de replicador possa fazer
cópias de si mesmo, os novos replicadores tenderão a dominar e a iniciar um novo
tipo de evolução própria. Quando essa nova evolução começar não terá, em
nenhum sentido obrigatório, que se submeter à antiga. A evolução antiga de seleção
de genes, produzindo cérebros, forneceu o ‘caldo’ no qual os primeiros memes
originaram-se (Dawkins, 2001, p.215).
Deste modo, os memes passariam de pessoa para pessoa por imitação “em
um sentido amplo”, o que lhes garantiriam a hereditariedade. Como se daria
exatamente a passagem dos memes é uma questão em aberto. Dawkins fala da
imitação “em um sentido amplo”, pois quer incluir aí também outros processos de
aprendizagem cultural que não se dão exatamente por um processo imitativo. Já
Susan Blackmore, como veremos no final deste capítulo (seção 3.3), defende que
memes só passariam através da imitação “em um sentido estrito”, ou seja, através
de cópias do comportamento. Essa discussão será apenas tangenciada no presente
capítulo e tratada adequadamente no oitavo capítulo, pois o que importa aqui é
que os memes são passados, e não a forma como isso acontece.
Em uma primeira simplificação podemos pensar nos memes como "padrões
de comportamento": uma pessoa aprende a dançar imitando certo padrão de
comportamento. Este padrão pode ser bem adaptado ou não a esta pessoa. Será,
por exemplo, melhor adaptado se ela tiver um bom desempenho físico, um bom
ouvido para seguir o ritmo da música, uma boa estrutura cerebral capaz de
traduzir este ritmo em movimentos do corpo, uma boa memória corporal, um
gosto pelo tipo de música que está dançando, uma vida social que a leve a lugares
onde se pode dançar, etc. Tudo isso é o "ambiente" no qual este meme vai se
inserir. Se este for o caso, ele estará bem adaptado a este ambiente e poderá,
143
então, ser passado para outras pessoas, o que significa somente que esta pessoa
tenderá a influenciar outras pessoas a dançar, seja através de incentivo verbal, seja
dançando com elas, seja ensinando-as a dançar, ou mesmo somente sendo
observada e admirada.
Dawkins nos conta uma história interessante que exemplifica bem o que
pode ser chamado de um meme. Ele nos conta que teve uma aluna que tinha um
hábito bastante peculiar:
Quando lhe era feita uma pergunta que exigia um pensamento muito profundo, ela
espremia os olhos, abaixava a cabeça em seu peito, e então ficava imóvel por até
meio minuto, depois do que ela levantava novamente a cabeça, abria os olhos e
respondia a pergunta com fluência e inteligência (Dawkins, in: Blackmore, 1999,
p.vii. Minha tradução).
Tal comportamento seria só uma idiossincrasia particular se Dawkins não
tivesse resolvido fazer uma imitação dela para alguns colegas durante um jantar.
Surpreendentemente um filósofo de Oxford, que estava neste jantar,
imediatamente reconheceu tal padrão de comportamento como típico de
Wittgenstein e, baseado nisso, disse qual deveria ser o sobrenome desta aluna. Por
um acaso ele conhecia os pais desta aluna, ambos seguidores devotos de
Wittgenstein, e que tinham copiado estes gestos dele. A aluna era, então, pelo
menos a terceira geração deste padrão de comportamento, e Dawkins a quarta!
No entanto, não devemos pensar em memes só como cópias diretas de
comportamentos. Em seu livro O Rio que saía do Éden (1996), Dawkins nos
fornece uma análise muito interessante feita com a propagação de correntes de
cartas. Ele nos fala da “carta de São Judas” que circulou o mundo em várias
versões, sendo já conhecida pelos registros oficiais do correio americano que
relatam ser ela de uma época anterior a tais registros e exibir surtos epidêmicos
recorrentes. Dawkins faz uma análise de tal carta mostrando que podem ser
encontradas mutações que a torne mais provável de ser passada, aumentando,
deste modo, a sua freqüência. Afirmações completamente implausíveis, por
exemplo, tendem a mudar para afirmações mais plausíveis e que apelam não
diretamente para o medo, mas para o bom senso. Algo do tipo “talvez nada
aconteça com você, mas não é melhor prevenir do que remediar?” é muito mais
eficaz em se reproduzir do que “se você não mandar esta carta para sete pessoas
em uma quarta-feira você morrerá na quinta”. Modificações como estas vão
144
gradualmente tornando a carta cada vez mais eficaz e, por isso, Dawkins pode
dizer que “como no caso das correntes de cartas, o sucesso entre os replicadores
químicos é simplesmente sinônimo de freqüência de circulação” (Dawkins, 1996,
p.130).
Um exemplo simples de evolução por seleção de memes é o fato de que
endereços na internet competem entre si pela atenção do público. Embora seja
óbvio que o conteúdo da página eletrônica influencie nesta competição, podemos
ver que endereços na internet mais simples e objetivos têm maior chance de serem
lembrados e tenderão a prosperar. A previsão clara é que seu número aumente
consideravelmente. Enquanto isso, endereços mais complicados criarão uma
pressão seletiva para a existência de melhores sites de busca. Se todos os
endereços fossem simples, se fosse só uma questão de colocar o assunto que
alguém busca entre o “www” e o “com.br”, sites de busca seriam largamente
irrelevantes. Com a existência de sites de busca muito eficientes e muito usados, a
tendência é que a pressão seletiva por endereços mais simples diminua.
Já teríamos, então, um “objeto” de seleção que seria o meme que, através da
imitação, poderia se reproduzir com hereditariedade, ou seja, suas cópias seriam
significativamente semelhantes a ele mesmo. Perceber a existência da
hereditariedade neste processo é extremamente relevante. Vimos no primeiro
capítulo que podemos ter reprodução sem hereditariedade, como no caso de
nuvens e do fogo (seção 1.1), mas não é isso que parece acontecer na cultura.
Além dos exemplos já tratados, podemos pensar em sotaques, línguas maternas,
religiões, preferências políticas etc. Todos estes comportamentos culturais são
fortemente influenciados pelo comportamento dos pais. Já “surtos culturais” entre
as crianças, como ioiôs, bambolês, pula-pulas e virar o boné para trás são
comportamentos também herdados, mas normalmente dos pares, pessoas com a
mesma idade. Para a memética, se o comportamento foi transmitido pelos pais ou
por pares é algo largamente irrelevante. O que de fato importa é que ele foi
transmitido com hereditariedade. Embora possamos não saber como esta
hereditariedade se dá detalhadamente, isto não importa muito no momento. Para
se falar de herança comportamental basta que tais comportamentos sejam
“estatisticamente afetados pelo comportamento de seus pares” (Dawkins, 2005,
p.243).
145
Já a variação entre os memes é uma outra constatação que pode ser
confirmada por qualquer antropólogo, inclusive pode haver até um excesso de
variação que, como veremos no último capítulo, foi usado para criticar a
memética (seção, 10.5). Além disso, temos também o tempo necessário para
ocorrer um processo de evolução, até porque é largamente aceito, e evidente, que
as mudanças na cultura são muito mais rápidas do que na biologia, tão rápidas que
sua exagerada velocidade também é usada, como veremos no último capítulo,
como uma crítica à memética (seção 10.7). Falta, então, somente constatar se esta
variação é de fato adaptativa, isto é, se ela influencia diretamente na capacidade
de um meme ser copiado.
Já vimos o caso dos príons que são replicadores por conta própria, pois eles
só precisam encontrar um outro tipo determinado de proteína para induzi-la a
tomar a sua forma e, deste modo, se replicar. Mas replicadores independentes
como estes normalmente são raros e muito simples. Do mesmo modo que um
gene não se replica sozinho, pois precisa de toda uma estrutura celular complexa
para isso, os memes também não são replicadores por conta própria. Memes
precisam principalmente do aparato cognitivo-comportamental humano19 para se
replicar. É justamente por isso que os memes competem:
O cérebro humano e o corpo por ele controlado não podem fazer mais do que uma
ou algumas coisas de cada vez. Se um meme quiser dominar a atenção de um
cérebro humano, ele deve fazê-lo às custas de memes ‘rivais’. Outros artigos pelos
quais os memes competem são o tempo de rádio e televisão, espaço para anúncios,
espaço de jornal e espaço de estantes de biblioteca (Dawkins, 2001, p.219) .
Deste modo, memes competiriam por espaço para replicação. Memes podem
ser passados de mente para mente não só através de cópias do comportamento,
como, por exemplo, quando se aprende a dançar valsa, mas também através de
outros meios como livros, e-mails, cartas, internet, propagandas, televisão, rádio e
tudo mais que é capaz de passar cultura. Eles também competem por estes meios
de informação, como competem pela produção e pela publicação.
Para exemplificar a variedade e a competição entre memes podemos citar a
organização WIPO (World Intellectual Property Organization)20 que nos diz que
em 2005 foram apresentados cerca de 1.660.000 pedidos de patentes somente nos
19
Quais outros animais seriam capazes de evolução memética será parte do assunto do oitavo
capítulo.
20
Mais dados sobre a WIPO podem ser encontrados em http://www.wipo.int/portal/index.html
146
Estados Unidos. Se somarmos a este número as patentes registradas em outros
países, que deve ser consideravelmente menor, e somarmos também o número de
invenções que nem tentaram registrar patentes, ficaremos com um número
assombroso de novas invenções em um único ano. A maioria destas patentes
nunca sairá do papel para a linha de produção ou para a publicação. Das que
foram produzidas, poucas terão sucesso, e destas, poucas terão sucesso duradouro.
Fica clara, então, a enorme pressão seletiva para estas inovações. Isso sem contar
com as pressões seletivas “internas”, pois nem todas as idéias são perseguidas
pelos seus próprios criadores: algumas devem se contentar com uma brevíssima
existência mental. Quem há de saber quantas idéias inovadoras nunca vêem a luz
do dia?
Sousa e Sousa (2007) nos fornecem o exemplo da indústria farmacêutica:
para que cada remédio novo chegue ao mercado, entre 10 e 5 mil compostos
químicos são testados, destes, só cerca de 250 conseguem chegar aos testes préclínicos. Fica claro que a imensa maioria é recusada, sendo que mesmo aquele
único remédio que foi produzido pode não ser aceito bem pelos consumidores.
Dado este gigantesco número de tentativas até que algo dê certo, fica levantada a
questão: quanto este processo é de fato conscientemente dirigido por um agente
livre capaz de fazer escolhas bem direcionadas e o quanto é simplesmente
tentativa e erro? Sabemos que grande parte da visão de que o desenvolvimento
tecnológico se dá de maneira planejada e dirigida é motivado pelo fato de que os
erros são esquecidos e ignorados quando fazemos uma análise rápida deste
processo. Isso não acontece somente no processo tecnológico, pois Gould nos
apresenta exatamente o mesmo problema no processo científico (cf. Gould, 1997,
p.159 em diante)21.
Existe, por exemplo, um número limitado de livros impressos por ano. Um
meme será impresso em um livro se ele conseguir vencer os outros memes que
querem ser impressos. O que determinará o vencedor é a adaptabilidade do meme
ao ambiente. Assim sendo, se uma editora costuma publicar livros de literatura,
dificilmente publicará livros de filosofia. Os memes da filosofia não estão
adaptados ao ambiente da literatura, do mesmo modo uma banda de chorinho
21
Khun, Feyerabend e todos os sociólogos e historiadores da ciência também insistem neste fato e
nos apresentam vários casos de erros esquecido pela historiografia tradicional. Se feita uma análise
detalhada veremos que os erros superam em muito os acertos. O dito “progresso” da ciência e da
tecnologia se dá muito mais por tentativa e erro do que gostamos de supor.
147
dificilmente vai gravar um cd de Hard Core, etc. Todavia mutações podem
ocorrer: os livros de filosofia podem ficar cada vez mais parecidos com livros de
literatura. Se isso ocorrer, eles poderão ser impressos pelas editoras de literatura e
terão, assim, um maior sucesso replicativo. É esperado então que eles se tornem
cada vez mais comuns devido ao seu sucesso adaptativo. É uma questão em aberto
se neste caso citado o ambiente dos memes é o próprio ambiente da literatura,
como as gráficas, os livros e as livrarias, ou se é a mente das pessoas que
participam deste ambiente, os editores, os leitores, os gerentes das livrarias etc.
Nesta segunda hipótese, o ambiente dos memes será exclusivamente a mente e o
resto será considerado parte do comportamento memeticamente determinado. Nas
palavras de Dennett:
O estoque de mentes é limitado, e cada mente tem uma capacidade limitada de
memes, portanto, há uma forte competição entre os memes para entrar no maior
número de mentes possíveis. Esta competição é a principal força seletiva na
memosfera (Dennett, 1991, p.206) .
Deste modo, temos que memes competem por espaço para replicação. Há
um número muito maior de idéias, conceitos e comportamentos do que uma mente
é capaz de aprender e, principalmente, executar. Esta seria uma pressão seletiva
“interna” que se adicionaria a já tratada pressão “externa”. Como eles são
variáveis, é provável que tal variação seja adaptativa, no sentido de que pode
auxiliar ou atrapalhar nesta competição. Se auxiliar, será dito que tal meme foi
selecionado, pois, como vimos, ser selecionado significa somente ter um maior
número de cópias do que a média da população. Como tais memes podem sofrer
novos processos de variação e como esta nova variação pode ser adaptativa ou
não, então teremos um acúmulo de variações o que, na verdade, é o significado do
termo “evolução”. Cabe aqui a questão de saber se esta seleção se dá de maneira
que poderia ser chamada de natural ou artificial, ou seja, se existe um sujeito da
escolha capaz de decidir que memes entrarão ou não em sua mente. Tal questão
será tratada em breve e também no último capítulo (seção 10.10), mas é uma
questão que somente tangencia o assunto tratado, pois seja como for haverá
evolução por seleção.
Temos assim, todas as características necessárias para se entender o
processo da evolução cultural como um processo tipicamente darwinista e, deste
modo, podemos falar do algoritmo do darwinismo universal sendo instanciado na
148
cultura. Podemos, então, analisar a cultura a partir das técnicas desenvolvidas para
tratar da evolução biológica. A primeira análise feita por Dawkins foi direcionada
para o assunto mais controverso que ele gosta de tratar: a religião. Para Dawkins a
religião é o que acabou sendo chamado de “memeplexo”, ou seja, um conjunto de
memes que se unem em um todo coeso, pois cada meme particular se beneficia
desta união, exatamente do mesmo modo que genes diversos se associam na
construção de organismos. Nas palavras de Dawkins:
Talvez pudéssemos considerar uma igreja organizada, com sua arquitetura, rituais,
leis, música, arte e tradição escrita como um conjunto co-adaptado estável de
memes que se auxiliam mutuamente.
Para mencionar um exemplo específico, um aspecto da doutrina que tem sido
eficiente em compelir à obediência religiosa é a ameaça do fogo infernal (Dawkins,
2001, p.219).
A religião seria, então, constituída de diversos memes que se uniriam
justamente porque unidos eles são mais capazes de sobreviver e se replicar do que
separados. O conceito de deus22, por exemplo, que sozinho pode significar só uma
fonte suprema de poder, tem uma capacidade muito maior de ser passado adiante
se se unir com a idéia de que este deus é que garante um mundo justo, punindo os
maus e recompensando os bons.
Dawkins gosta de discutir a religião como um memeplexo simplesmente
porque ele gosta de criticar a religião. Mas duas coisas devem ficar claras: em
primeiro lugar, tratar a religião como um meme não é uma crítica por si só, pois a
ciência, e tudo mais que Dawkins escreve, também seriam memes. Em segundo
lugar, e mais importante, há aqui uma clara retórica enganosa, pois Dawkins não
nos dá uma análise consistente o suficiente para aceitar sua proposta, ele apenas
constrói um ótimo exemplo de uma just so story. O problema com este modo de
argumentação é que as just so story são enganosamente interessantes, mesmo sem
nenhuma evidência que as provem. Poderíamos dizer que elas são memes muito
eficazes! É exatamente por causa destas “narrativas sagazes sem fundamento
empírico” que, como vimos no segundo capítulo, Gould critica o panglossianismo
dos chamados “adaptacionistas”. É esta saída do adaptacionismo de dentro da
biologia para outras áreas que ele considera ainda mais perigoso, e está certo. Não
podemos aceitar explicações meméticas só porque elas nos parecem interessantes,
22
O termo “deus” será sempre usado em minúsculo no que se segue.
149
sagazes, criativas ou simples. É uma “simplicidade enganosa”, como disse Gould.
Uma boa narrativa memética necessita ter, como pano de fundo, uma análise
empírica mais detalhada, bem como análises psicológicas explicando o motivo de
certos memes terem mais sucesso do que outros. Não basta construir uma história
interessante, pois uma história assim é apenas uma estória.
Deixando de lado esta questão, e olhando-a pelos olhos de Dawkins,
podemos ver que de fato a idéia do temor do “fogo eterno” realmente se une a
idéia de “deus” possibilitando que elas se auxiliem e até se protejam mutuamente.
Talvez a expressão mais clara e aberta sobre este assunto seja a teoria de Pascal
que afirma que se não sabemos se deus existe ou não, é melhor apostar que ele
existe, pois se acreditarmos na sua existência e ele não existir, não teremos
perdido muito se comparado com o que perderemos não acreditando nele e com
ele de fato existindo. Neste segundo caso poderemos ter simplesmente uma
eternidade de sofrimento! Assim, por uma simples questão de probabilidade, é
melhor apostar que deus existe.
É interessante reparar que a formação de cultos, religiosos ou não, é um
ótimo exemplo do poder dos memes. E quanto mais rigoroso for o culto, melhor é
o exemplo. Muitos cultos religiosos exigem de quem adota a sua ideologia a total
abdicação dos valores mundanos em favor dos valores de tal culto. Deste modo, a
pessoa passa a trabalhar quase que exclusivamente para propagar tal culto. Os
memes deste culto tomam conta do comportamento dela. Isso poderia ajudar a
explicar porque mesmo em sociedades que tendem à secularização ainda
encontramos segmentos religiosos que parecem ficar cada vez mais rigorosos ou,
pelo menos, mantendo um rigor antigo que já não parece fazer sentido algum. A
memética nos diz que tais cultos não prosperam a despeito de tal rigor, eles
prosperam por causa de tal rigor. Quanto mais rigoroso, mais seus fiéis dedicarão
seu tempo à propagação de seus memes. Afinal, eles crêem “porque é absurdo”!
Como Dawkins muito bem mostrou, isso está presente em todo tipo de
religião baseada na fé. Ter fé, segundo ele, não é acreditar sem evidências, e sim
acreditar a despeito das evidências contrárias. Esta é uma das diferenças
fundamentais entre ciência e religião, pois um cientista pode crer fortemente em
suas teorias, mas evidências contrárias devem, no mínimo, abalar suas crenças.
Como nos disse Blackmore:
150
Conforme aponta Dawkins, os bons católicos têm fé; eles não precisam de prova.
De fato, é uma medida de quanto espiritual ou religiosa uma pessoa é o fato de ela
ter fé suficiente para acreditar em coisas completamente impossíveis sem fazer
perguntas, tais como se o vinho realmente se transforma em sangue. Essa
afirmativa não pode ser testada, porque o líquido dentro do copo ainda tem o gosto,
o cheiro e a aparência do sangue – é preciso ter fé para tomá-lo como sendo
realmente o sangue de Cristo. Se você for tentado pela dúvida, é preciso resistir.
Deus não é apenas invisível, mas ele ‘age de maneiras misteriosas’. O mistério é
parte do pacote, e tem que ser particularmente admirado e admitido. Essa qualidade
de estarem além de qualquer teste protege os memes da rejeição (Blakmore, 1999,
p.192. Minha tradução).
Religiões seriam, então, conjuntos de memes formando um memeplexo. Um
exemplo bem simples e intuitivo apresentado por Blackmore para esclarecer o que
é um memeplexo é o do símbolo da reciclagem: reciclar, por si só, é um meme ou
um conjunto de memes, mas tal meme se uniu a outro que é o símbolo da
reciclagem que todos conhecem. Esta união não só aumenta a reprodutibilidade de
tal símbolo, encontrado com frequência, mas também aumenta a reprodutibilidade
do meme da reciclagem, pois ao ver tal símbolo imediatamente o associamos com
a reciclagem. Assim, a união de dois memes aumentou a reprodutibilidade de cada
um deles individualmente.
Questões como a religião são extremamente controversas e Dawkins
particularmente gosta de colocar a mão neste vespeiro. Um outro vespeiro é tratar
o nazismo como um meme. Um nazista, por exemplo, ao defender o nazismo está
tentando passar este meme, ou memeplexo, para outras pessoas. Se as mentes
dessas outras pessoas forem um ambiente propício para o meme do nazismo se
instalar, ele assim o fará e tentará passar dessas pessoas para outras pessoas.
Muitos fatores podem tornar a mente mais propícia para o nazismo. Um muito
citado é a capacidade de obedecer regras sem questioná-las. Algumas análises
sobre como o nazismo surgiu colocam esta “habilidade alemã” dentre os motivos
para a proporção na qual se deu o nazismo na Alemanha. Podemos conjecturar
que em um país como o Brasil, onde algumas leis simplesmente “não pegam”, tal
meme teria uma dificuldade consideravelmente maior para se propagar. Mas tal
fator é claro que não foi o único: a idéia de uma raça pura, do nacionalismo, o
aumento no desemprego e sua posterior culpa sendo colocada sobre os judeus e
estrangeiros são alguns dos outros fatores necessários para a propagação do
nazismo.
151
Na verdade, o meme do nazismo é um exemplo um tanto complicado. Os
fatores que levaram ao surgimento do nazismo na Alemanha foram muitos e
poderíamos citar desde um anti-semitismo já presente na Europa até problemas
econômicos, passando, inclusive, por controvertidas pesquisas de psicologia
evolutiva (seção 4.4) que afirmam haver módulos cerebrais para uma espécie de
xenofobia, na medida em que distinguir o seu grupo de grupos rivais foi algo
importante na história evolutiva do homem. Mas o nazismo é um exemplo
interessante aqui em primeiro lugar porque parte da sua causa foi a própria teoria
da evolução, que depois de Darwin, com o seu primo Galton e outros, deu origem
ao programa eugenista que visava “limpar as raças”. Algumas vezes este
programa foi direcionado contra criminosos, como no caso de Cesare Lombroso,
outras vezes contra doentes mentais, como no caso da eugenia nos Estados
Unidos, e na Alemanha foi contra todos os que não eram arianos. Veremos um
pouco mais sobre esta questão no capítulo 5, mas para uma discussão mais
trabalhada há o brilhante livro de Gould A Falsa Medida do Homem (2003). A
questão é que todos estes fatores, sejam eles psicológicos, neurológicos,
econômicos ou sociais, por mais complexos que possam ser, do ponto de vista
memético são parte do ambiente ao qual um meme, ou memeplexo, deve se
adaptar. É sempre importante lembrar que o ambiente do meme não é apenas o
substrato físico dos memes nos cérebros, mas também os outros memes com os
quais ele deve competir ou com os quais ele deve trabalhar junto. Isso significa
que grande parte do sucesso replicativo do nazismo pode ter se dado porque já
existiam outros memes, como o anti-semitismo, que lhes eram propícios. Mas o
fato que nos interessa aqui é que o nazismo é hoje em dia considerado um claro
exemplo de como até mesmo uma péssima idéia pode se propagar rapidamente em
um ambiente que lhe é propício de uma forma que em tudo lembra a dinâmica de
uma epidemia.
O exemplo do nazismo foi propositalmente utilizado para deixar em
evidência um aspecto comumente citado dos memes. Estes são normalmente
tratados como parasitas ou vírus que se instalam em nossa mente por simples
benefício próprio. Assim como o vírus da raiva, que faz o cão salivar e ficar
nervoso, pois tal vírus só pode ser passado da saliva para o sangue, os memes
também se instalam em nossa mente e mudam o nosso comportamento para o
benefício próprio, é assim que eles se replicam. Os melhores memes são os que
152
melhor conseguem mudar o nosso comportamento permitindo que outras pessoas
possam nos copiar, ou melhor, copiar a eles. Estes memes serão mais comuns no
acervo dos memes, ou seja, eles terão mais sucesso replicativo do que os outros.
Existe uma discussão se a principal analogia dos memes seriam os vírus e as
doenças infecciosas, ou se seria a transmissão genética. Tal discussão não tem
nenhuma implicação mais profunda sendo só uma questão de escolha da analogia
que se considera mais intuitiva. Veremos que Cavalli-Sforza, particularmente,
gosta de tratar a cultura de maneira epidemiológica (seção 4.9). Dennett também
aprecia tal abordagem, mas com algumas ressalvas que serão tratadas em breve. Já
Dawkins costuma enfatizar mais a questão da replicação genética, embora
também fale do “vírus da mente”. Mas, como vimos, dentro de uma perspectiva
de seleção genética, de onde surge o conceito de gene egoísta, todo gene pode ser
tratado como um tipo de vírus, ou seja, uma entidade particular preocupada
somente com sua própria replicação. E se existem organismos é porque tais
entidades egoístas se uniram, pois unidas cada uma delas é capaz de aumentar o
seu número de cópias. Fica claro, então, que estas duas maneiras de se tratar os
memes não se diferenciam em nada relevante. No entanto, a analogia do vírus
permite um tratamento mais direto da memética com modelos da epidemiologia.
De qualquer modo, temos que memes se replicam em grande parte através
da imitação e competem por espaço em seu ambiente. Se isso acontece, ocorrerá
uma seleção de memes e, por conseguinte, uma evolução dos memes. Por
evolução dos memes entende-se que cada vez mais os memes serão mais eficazes
em fazer cópias de si. O que é importante aqui, e o que diferencia esta abordagem
das outras abordagens da cultura, é que agora surge a chamada perspectiva do
meme. Ou seja, a visão de que os memes mais comuns são comuns porque são
bons replicadores e isso quer dizer que os memes, assim como os genes,
trabalham em vantagem própria e não em vantagem do indivíduo ou do
organismo. Nas palavras de Dawkins “o que não levamos em conta anteriormente
é que uma característica cultural poderá ter evoluído da maneira como o fez
simplesmente porque é vantajoso para ela própria” (Dawkins, 2001, p.221).
Esta seria a resposta à pergunta que Dennett considera fundamental, a saber,
Cui Bono? “Quem se beneficia?” Do mesmo modo que a separação entre o gene e
o indivíduo fica mais clara na relação entre os dois onde os “anseios” são
diferentes, mas é o “anseio” do gene que vai dominar, é na relação entre o meme e
153
o organismo que fica mais clara a separação entre eles. Há, por exemplo,
mutações genéticas que impedem a transmissão dos memes, o autismo poderia ser
um exemplo. Mas há também situações onde é o meme que comanda. Os
exemplos mais citados são o do suicídio coletivo, da castidade, do controle de
natalidade e da adoção de pais férteis. Todos estes memes impedem a passagem
dos genes, por isso a transmissão deles não pode ser genética. Uma pessoa casta
não pode passar o gene da castidade adiante23. A explicação, pela perspectiva do
meme, para a existência do meme da castidade é que uma pessoa casta não tem
que gastar o seu tempo resolvendo problemas de família e de criação dos filhos,
assim sobra mais tempo para ela passar os seus memes e, dentre eles, o meme da
castidade. Tal explicação pode parecer estranha, mas a consideração que uma
pessoa casta pode se preocupar menos com os valores “mundanos” e assim passar
os valores “divinos” com mais eficiência é, de fato, um dos motivos declarados
para a existência do voto de castidade em muitas religiões (Dawkins, 2001,
p.220).
No entanto, é claro que esta não é toda a história memética da difusão da
castidade. Dawkins precisaria ainda explicar porque a castidade se mostrou bem
adaptada à mente do casto, quais foram as estratégias desenvolvidas para ela se
espalhar desta mente para outras e também porque dentre as várias pessoas que
entraram em contato com este meme, ele só se fixou em algumas. Por questões
como estas é que os textos que temos sobre memes, incluindo o livro de
Blackmore, não podem ser ainda considerados como um trabalho em memética.
Do mesmo modo, um biólogo que explicar que um pavão tem cauda grande e por
isso teve mais filhote, se esqueceu de explicar por que a cauda grande lhe propicia
isso. É uma explicação interessante, mas parcial. Enquanto não houver
fundamentação empírica é uma just so story.
Estes exemplos do que é ver a cultura através da visão dos memes
normalmente causam desconforto, pois neles são os memes que se replicam e não
nós que os replicamos porque queremos. São as palavras que querem ser ditas e
não nós que as queremos dizer. Pensemos no caso de cultos que fazem “lavagem
cerebral” e chegam até a levar ao suicídio coletivo, como o de Jim Jones.
23
Isso não implica que não possa haver um “gene da castidade”, pois pode acontecer aqui o
mesmo que acontece no caso da anemia falciforme: este gene pode ser um alelo recessivo em um
ambiente onde ser heterozigoto é positivamente selecionado.
154
Pensemos também no processo de criação artística onde um personagem de um
romance ou um quadro ou uma música parecem ter uma vida própria. A própria
idéia de propaganda, por exemplo, vem da idéia de que um comportamento pode
se propagar de pessoa em pessoa. Estes são casos em que sentimos claramente que
quem comanda são os memes, são eles é que querem ser passados. Esta é a
origem da visão de um meme como um vírus que invade nossa mente. Mas Susan
Balckmore e Dennett não concordam com esta visão, nas palavras do filósofo:
O porto seguro de que todos os memes dependem é a mente humana, mas ela
mesma é um artefato criado quando os memes reestruturaram um cérebro humano
para torná-lo um habitat melhor para os memes. (...)
Mas se é verdade que as mentes humanas são, em grau notável, as criações de
memes, então não podemos sustentar a polaridade de visão que analisamos
anteriormente; não pode ser ‘memes versus nós’, porque infestações anteriores de
memes já tiveram um papel importante determinando quem ou o que somos. A
mente ‘independente’ que luta para se proteger de memes alienígenas e perigosos é
um mito (Dennett, 1991, p.207).
Blackmore, concordando com Dennett, diz que o “eu” é um meme, ou
melhor, um conjunto de memes extremamente bem adaptados à nossa mente e
com uma forte estratégia protetora, onde tudo que não é ele é tido como perigoso
(cf. Blackmore, 1999, p.231). O “eu” é um complexo de memes do mesmo modo
como um organismo é um complexo de genes, cada um trabalhando em benefício
próprio. Tal questão será rapidamente trabalhada no último capítulo (seção 10.10),
mas já foi dito aqui que esta posição não é necessária para se compreender a
memética. Kate Distin, por exemplo, em um livro recente sobre a memética, fala
do papel de um agente da mudança memética que seria o sujeito de tal mudança
(cf. Distin, 2005, p.172).
Já a explicação de por que a mente humana foi criada pelos memes é uma
tentativa de explicar um fato ainda inexplicável dentro da antropologia, a saber, o
tamanho do cérebro humano e o surgimento da cultura. Não existe tese
comumente aceita até hoje sobre como o cérebro humano ficou grande tão rápido.
Também não existe uma tese comumente aceita de como podemos ter tamanha
capacidade de absorver cultura tendo um cérebro basicamente igual ao cérebro de
nossos ancestrais de 100 ou 150 mil anos atrás. Para abarcar tais problemas,
Dawkins, Dennett e Blackmore utilizam o princípio de co-evolução entre memes e
genes. Tanto a co-evolução, como as explicações para o rápido aumento na
155
capacidade craniana dos seres humanos serão tratadas na seção 4.9 e 5.4
respectivamente.
No entanto, Dawkins é criticado por ter voltado atrás nas suas considerações
sobre a memética (cf. Dawkins 1999, p.112). Chegou a dizer que a evolução
cultural não era de fato uma evolução no sentido rigoroso do termo, havendo
apenas algumas características similares (cf. Dawkins, 2001, p.319). Voltou a
falar que esta relação seria apenas uma de analogia, e embora reconheça que
algumas analogias levaram a grandes avanços nas ciências, diz que não se deve
levar analogias longe demais (cf. Dawkins, 2001, p.326). Mas posteriormente ele
disse que, na verdade, seus motivos sempre foram mais modestos do que criar
uma ciência dos memes. Ele só estava tentando mostrar o que era o Darwinismo
Universal, ou seja, mostrar que o importante dos genes não era o DNA, mas que
ele era um replicador. No entanto, em uma análise do problema sobre a
possibilidade de uma memética, feita para o prefácio do livro de Blackmore, ele
considera que as críticas feitas à memética não foram suficientes para refutá-la:
Creio que defendi de forma suficiente a analogia entre os memes e os genes,
estabelecendo-a como uma analogia persuasiva, e também deixando claro que as
objeções óbvias que lhe podem ser feitas podem ser respondidas de forma
satisfatória (Dawkins in Blackmore, 1999, p.xv. Minha tradução).
No prefácio deste livro ele diz que agora a verdadeira questão que deve ser
respondida é se tal analogia é útil, embora não dê uma resposta, diz se manter
aberto para propostas como as de Blackmore. Logo após ler o livro de Blackmore,
mas antes de sua publicação, ele questiona se a memética é boa ou má ciência e
conclui que ainda acha que é boa ciência, embora reafirme que alguns entusiastas
“se deixam arrebatar e vão longe demais” (Dawkins, 2000, p.383). No entanto, em
seu penúltimo livro ele considerou refutado o fato de que perdeu o entusiasmo
com os memes (cf. Dawkins, 2005, p.209). Já em seu último livro, Dawkins
parece estar bem menos cético em relação à memética. Faz uma defesa de que
memes, se bem entendidos, tem fidelidade, mostra o que é um memeplexo e como
ela não é diferente do que encontramos na genética e conclui: “Para mim algum
tipo de seleção natural memética parece oferecer uma explicação plausível para a
evolução detalhada de religiões específicas” (Dawkins, 2007, p.265).
No prefácio ao livro de Blackmore, Dawkins apresenta uma pesquisa que
fez com alguns termos em uma página de busca na internet. Na seguinte tabela
156
comparamos a incidência de tais termos na época (1998) com a incidência de tais
termos 10 anos depois24:
29 de Agosto de 1998
29 de Agosto de 2008
Memetic
5042
303.000
Sociobiology
6679
1.040.000
Extended Phenotype
515
54.400
Exaptation
307
46.900
Meme pool
352
122.000
Memeticist
163
2.890
Meme complex
494
5.490
Population memetics
41
607
Tabela 1: memes na internet
Podemos ver que existem discrepâncias enormes que provavelmente se
justificam porque as páginas de busca de hoje em dia são muito mais poderosas do
que as de 10 anos atrás. No entanto, para mostrar que houve realmente um grande
avanço fizemos variações das análises de Dawkins. Quando o termo memetic foi
buscado exclusivamente no título das páginas encontramos em um número de
17.500 páginas. Buscando o mesmo termo, mas desta vez só no título publicados
apenas no último ano encontramos o surpreendente número de 1.180! Se tal termo
for colocado no plural passamos a ter 856 ocorrências só para títulos no último
ano, e 21.800 só para títulos em qualquer época. Achamos mais páginas para
memetics do que memetic porque solicitamos a busca somente da palavra exata e
deste modo uma palavra e seu plural são considerados palavras distintas. Além
disso, encontramos também 5.220 arquivos em formato de pdf para memetics e
709 arquivos em doc. Ou seja, pode-se encontrar hoje mais arquivos em pdf com
o termo memetics do que era possível encontrar 10 anos atrás para qualquer
aparição da palavra memetic. Isto é uma ótima prova de como os últimos 10 anos
foram bastante produtivos nesta área.
24
Fiz esta busca exatamente 10 anos depois utilizando o maior agente de transmissão de memes da
contemporaneidade: o Google! Não foram buscados todos os termos que Dawkins originalmente
buscou.
157
3.2
Daniel Dennett e a Tentativa de Aborto da Memética
Quando Dawkins criou o meme de meme ele estava simplesmente querendo
mostrar que o importante do gene não era ser uma molécula da DNA e sim ser um
replicador. Tendo criado o conceito em 1976, por anos ele passou sendo pouco
citado e, quando o faziam era mais comum que fosse dentro de uma crítica. Mas
em 1991, com o livro Consciousness Explained, o filósofo Daniel Dennett passa a
adotar o conceito de meme na sua teoria da mente. Em 1995, com Darwin’s
Dangerous Idea, Dennett separa um capítulo inteiro do seu renomado livro para
defender o conceito de memes e discutir a possibilidade de uma ciência dos
memes, a memética. Deste modo, o meme do meme se mostrou muito bem
adaptado à sua mente e encontrou lá o seu mais renomado defensor. Dawkins
inclusive disse que Dennett é o mentor filosófico dos memes (cf. Dawkins in
Blackmore, 1999, p.xvi).
Em seu último livro, Quebrando o Encanto (2006), Dennett continua a usar
os memes, e todas as intuições oriundas desta análise da cultura, como central em
sua teoria, mais especificamente, em sua teoria sobre o surgimento e a
permanência das religiões. Embora agora se mostre mais cauteloso com os
exageros cometidos por muitos críticos e entusiastas da memética. Nos revela,
inclusive, uma fórmula interessante para se julgar tal questão: quanto mais crítico,
ou mais entusiasta, maior a probabilidade de estar falando besteira em relação ao
tema (cf. Dennett, 2006, p.93). O interessante é que normalmente tanto os críticos
quanto os entusiastas erram por exagerar nas analogias com a genética, ou seja,
por levá-las longe demais (seção 10.2). As analogias podem ser bastante úteis,
mas na maioria das vezes tem só um valor heurístico e não um valor científico, ou
seja, elas nos ajudam a entender, mas não provam nem demonstram
absolutamente nada. É preciso, antes de tudo, estudar a evolução cultural por ela
mesma, com todas as suas idiossincrasias que não tem análogos na evolução
genética.
Mas mais importante do que suas críticas às religiões foi o fato de que ele
passou a usar o conceito de meme como central em sua teoria da mente e da
consciência, esta, inclusive, para Dennett, “é, ela mesma, um grande complexo de
memes” (Dennett, 1991, p.210). Compreender profundamente a teoria da
158
consciência de Dennett fugiria do escopo deste trabalho, mas é interessante
conhecer superficialmente alguns dos seus pontos principais, visto que eles podem
ajudar a questão do papel do sujeito na evolução dos memes que trataremos no
último capítulo (seção 10.10).
Dennett é um funcionalista, isso significa que, para ele, estudar a mente seria
estudar o funcionamento do cérebro. A mente é o que o cérebro faz. Segundo
Dennett, o estudo do cérebro nos mostra que não há nele um controle geral ou um
lugar para onde tudo converge. A sua estrutura é, na verdade, a de vários grupos
de neurônios trabalhando paralelamente, mesmo quando estamos fazendo algo
simples como, por exemplo, observar uma figura colorida que se move. A
pergunta que normalmente surgiria daí seria “como uma estrutura que funciona de
maneira tão fragmentária pode dar origem ao fluxo contínuo da consciência que
parecemos perceber?” E a resposta de Dennett foi inovadora, ele disse “ela não dá
origem a tal fluxo”.
O mito do teatro cartesiano é como Dennett chama a teoria de que tal fluxo
existe. É justamente tal mito que ele pretende derrotar. Quem acredita neste mito
acha que as experiências conscientes, nossa vida mental, acontecem em algum
lugar, seja no nosso cérebro, seja em alguma substância mental. Para eles, a mente
é como um palco interno por onde o fluxo da consciência passa. Seríamos, então,
um observador que assiste a tal peça teatral. É como se houvesse em nosso
cérebro uma tela onde nossas experiências fossem projetadas. Deste modo,
quando observamos um quadrado azul que se movimenta da direita para a
esquerda em um fundo amarelo, temos uma área do cérebro que percebe o azul,
outra que percebe a forma do quadrado, outra que percebe o movimento e outra
que percebe o amarelo. Mas também teríamos um lugar onde todo este
processamento de informação converge, para então perceber um quadrado azul
que se move em um fundo amarelo. Este lugar seria o lugar da consciência, seria o
palco ou tela onde tudo se reúne, este seria o teatro cartesiano.
O cérebro então deveria fazer sempre duas coisas: primeiro processaria a
informação de cada circuito neural separadamente em suas respectivas áreas
cerebrais e depois reuniria tudo para formar uma experiência consciente do
conjunto. É o chamado problema da ligação (the binding problem). Só que não há
evidências de que exista no cérebro um lugar onde tudo se reúne ou onde tudo
deve passar e, para Dennett, e isso é o mais importante, não há necessidade de
159
haver tal lugar. Também não há necessidade alguma de que toda a informação que
já foi processada em áreas separadas do cérebro seja mais uma vez processada
para se tornar uma experiência consciente, como se tudo tivesse que ser feito duas
vezes.
Os detalhes da teoria de Dennett não são importantes para a presente
discussão. Mas podemos perceber que, para o filósofo, não há um fluxo único da
consciência, pois não há a reunião entre os diferentes circuitos especialistas. Cada
circuito neural faz o seu diferente trabalho paralelamente aos outros circuitos e
cada um cria seu próprio esboço que, na maioria das vezes, não terá muita
importância. Mas alguns esboços deste pandemônio paralelo conseguem ter um
papel funcional que vai comandar o comportamento de um ser humano.
A cada momento vários esboços estão sendo criados e desenvolvidos, qual
esboço será dito ou qual esboço comandará o comportamento depende de qual
pergunta é feita ou em qual situação a pessoa se encontra. A cada momento um
esboço pode ser mais forte do que o outro e nunca há o esboço que corresponda ao
verdadeiro texto. Para deixar tal visão mais intuitiva, o que é extremamente
difícil, podemos lembrar da situação comum onde só percebemos que estamos
ouvindo um barulho quando ele para. Não poderíamos ter ouvido só depois dele
ter parado, mas também não estávamos conscientes dele antes dele ter parado.
Esta situação só é inusitada para quem acredita em um único fluxo da consciência.
No modelo de Dennett já tínhamos o circuito neural que estava criando o esboço
sobre o barulho antes dele ter parado, ele só estava sendo muito pouco influente
em nosso julgamento e nossa memória sobre o que estava acontecendo à nossa
volta. O mesmo acontece quando só depois da, digamos, terceira batida de um
sino, percebemos que ele está batendo, mas percebemos já sabendo que ele está na
terceira batida. O esboço que estava contando estas batidas só estava tendo um
papel muito pequeno a representar, o que muda depois da terceira batida do sino.
Se alguém lhe perguntasse antes da terceira batida o que você estava fazendo,
você poderia responder algo como “lendo”. Se alguém lhe perguntasse depois,
você responderia “ouvindo o sino bater”. Assim Dennett pode dizer que “não há
fatos fixos a respeito do fluxo de consciência que sejam independentes das
sondagens particulares”(Dennett, 1991, p.138). Tendo isto em vista, não haverá a
possibilidade de se definir uma linha divisória entre o que deveria vir antes e o
160
que deveria vir depois da consciência. Para defender isso, Dennett propõe a teoria
dos múltiplos esboços (multiple drafts) que é assim resumida:
Não há um “fluxo de consciência” único e definitivo porque não há um Quartel
General central, um Teatro Cartesiano no qual “tudo se reúne” para exame de um
Significador Central. Ao invés de um fluxo único deste tipo (por mais largo que ele
seja), há múltiplos canais nos quais circuitos especialistas tentam, em um
pandemônio paralelo, fazer, cada um, o que tem que fazer, criando Múltiplos
Esboços ao longo do caminho. A maioria destes esboços fragmentários de
“narrativas” desempenham papéis de vida curta na modulação da atividade
corrente, mas alguns deles são promovidos para papéis funcionais mais avançados,
em rápida sucessão, pela atividade da máquina virtual no cérebro (Dennett, 1991, p.
253 – 254. Minha tradução).
Vemos, então, que em Dennett, o comando do comportamento, ou melhor, o
funcionamento do cérebro, se dá através de múltiplos esboços que, de uma
maneira quase literal, lutam pelo comando do comportamento. Deste modo,
podemos dizer que para Dennett o nosso comportamento é, na verdade, fruto de
uma guerra interna que origina um processo de seleção de memes em nossos
cérebros. Por este motivo, como já vimos, Dennett não acredita que se possa
considerar os memes como vírus que nos invadem, pois o conceito de “nós” não é
mais do que um meme ele mesmo. Foram os memes que transformaram os
macacos “seus hospedeiros involuntários, em algo totalmente novo: em
hospedeiros voluntários” (Dennett, 1998, p.355). O papel do meme na evolução
do homem ficará mais claro quando tratarmos propriamente desta questão na
seção 5.4. No momento, devemos apenas deixar claro o papel extremamente
importante que Dennett dá aos memes: são eles é que fazem uma pessoa ser uma
pessoa:
Seguindo Dawkins (1976), chamo os invasores de memes, e o tipo de entidade
radicalmente nova criada quando um determinado tipo de animal é adequadamente
suprido – ou infestado – de memes é o que costumamos chamar de pessoa.
(Dennett, 1998, p.355).
Embora Dawkins tenha sido o criador (ou seria descobridor?) dos memes,
foi Dennett que lhes deu a devida importância, tornando-o um conceito
fundamental dentro da sua teoria. As principais contribuições de Dennett foram
colocar os memes dentro de uma filosofia da mente mais ampla e explicativa,
além de iniciar as discussões sobre a memética. Foi Dennett também que trouxe à
161
tona algo que já existia, mas estava pouco desenvolvido em Dawkins, que é a
questão do que significa ser um “bom” meme.
Ser “bom” é um conceito valorativo que pode significar muitas coisas.
Podemos fazer uma divisão entre bons e maus baseada no nosso senso comum do
que é bom ou mau. O nazismo seria mau e os direitos humanos seriam bons, por
exemplo. Mas esta não é uma questão para a memética. A questão é que
independente dele ser um meme bom ou mau, ele pode ser um bom ou mal
replicador. O problema é que estas duas instâncias estão claramente separadas. O
nazismo seria largamente considerado como um “meme mau”, no sentido de
errado, enganoso, falso, mas mesmo assim ele se mostrou um ótimo replicador,
tendo tomado conta de nações inteiras e ainda existindo até mesmo hoje em dia.
Ser um bom replicador significa que ele consegue fazer um número considerável
de cópias de si mesmo e, na Alemanha nazista, tal meme se mostrou um ótimo
replicador.
Ainda no que diz respeito à ética, há uma outra questão que será só
rapidamente abordada aqui: a da responsabilidade pessoal. Dennett trata deste
assunto em detalhes em Freedom Evolves (2003). Algumas interpretações da
memética, como se nós fôssemos invadidos por vírus que nos comandassem,
tendem a levar a interpretações de que não teríamos responsabilidade alguma por
nossos atos. Mas já vimos que, segundo Dennett e Blackmore, não existe um
“nós” dominado pelos nossos memes, nós somos os nossos memes. Não podemos
nos desculpar, como Dennett muito bem colocou, dizendo que “um meme comeu
o meu dever de casa”, do mesmo modo que não podemos nos desculpar dizendo
que “meu cérebro comeu o meu dever de casa”. As ações de nossos cérebros e de
nossos memes são as nossas ações. Partimos do pressuposto aqui de que qualquer
ação terá uma fundamentação biológica, ou cultural (memética), ou, o mais
provável, alguma mistura entre ambas. Afinal de contas, se uma ação não foi
biologicamente direcionada ou culturalmente (memeticamente) direcionada, ou
uma mistura entre ambas, de onde ela terá surgido? Um “sujeito livre” que não é
nem biológico, nem cultural, é o quê? E, seja lá o que ele for, como podemos
responsabilizar, punir ou gratificar, algo que não seria nem biológico, nem
cultural?
Tendemos a acreditar, ou ao menos torcer, para que bons memes sejam os
bons replicadores, mas a única coisa que poderia garantir isso seria se nosso
162
cérebro, principal ambiente dos memes, fosse um ambiente que aceitasse mais
facilmente memes bons do que memes maus. Não há indícios claros de que isso
funcione assim. Mas de qualquer modo, deve ficar claro que a discussão ética
sobre o bem e o mal está separada da questão de se o meme é um replicador
eficiente ou não. É claro que, em última instância, toda esta discussão deve ser
considerada como um meme. Por este motivo surge aqui um outro problema: o
problema da verdade.
Assim como não há relação necessária entre bons memes e memes eficazes
em se replicar, não há também uma relação necessária entre estes e os memes
“verdadeiros”. Não é importante qual conceito de verdade esteja sendo usado
aqui. Se ele não for um conceito estatístico de verdade, ou seja, que considera
verdadeiro aquilo que a maioria das pessoas diz que é verdadeiro, então ele não
terá relação direta com a eficiência reprodutiva dos memes. Em outras palavras,
memes falsos podem ser replicadores mais eficazes do que memes verdadeiros.
Dennett nos dá o exemplo de que muitas idéias consideradas como refutadas se
difundiram, e foram muito publicadas em livros e artigos, simplesmente porque
professores de filosofia precisavam “de uma versão tão simples de uma má idéia
que até um calouro pudesse ser capaz de refutar” (Dennett, 1995, p.366).
Um bom exemplo de um meme falso que vem se adaptando muito bem às
circunstâncias atuais é o do criacionismo, que tenta ser ensinado nas escolas
americanas em oposição à evolução. Inicialmente o argumento era que a Bíblia
era a palavra de Deus e, por isso, deveria ser ensinada. Argumento que funcionou
muito bem na mente dos americanos até que surgiu o processo contra o professor
evolucionista John T. Scopes, em 1925, que visava barrar o ensino da evolução
nas escolas públicas25. Ele perdeu o processo, mas só teve que pagar uma pequena
multa, o que abriu espaço para os outros professores. Mas só em 1968 a Suprema
Corte americana considerou inconstitucional todas as leis estaduais que barravam
o ensino da evolução em escolas públicas, dada a liberdade de expressão da 1°
emenda constitucional americana. Logo depois disso veio o chamado
“criacionismo científico” que visava descobrir as pretensas “falhas na evolução”,
uma tentativa de tratar o criacionismo como alternativa cientificamente viável, em
oposição à evolução, e que deveria, por isso, receber tempo equivalente durante as
25
O filme “O Vento será sua Herança” é sobre este processo.
163
aulas de ciência. Mas em 1987 a Suprema Corte proibiu esta estratégia, também
baseada na 1° emenda.
Como o termo criacionismo já não era mais bem visto para fazer parte dos
currículos escolares de ciência, ele foi transformado em “Design Inteligente” com
o livro Of Pandas and People de 1989, de modo que o termo Deus passou a ser
chamado de “projetista”. O argumento era que existiam complexidades
irredutíveis na natureza que provavam a existência de projeto, mas não tínhamos
como saber quem era o projetista. Quando ficou provado que o design inteligente
não passava de criacionismo, em um julgamento em 2005, o debate se adaptou
mais uma vez e a discussão passou a ser em termos de “liberdade acadêmica” ou
“capacidade crítica”, algo muito mais difícil de combater, pois nenhum cientista,
juiz ou professor vai dizer que é contra o desenvolvimento da capacidade crítica
dos alunos. No entanto, se for feita uma filogenia deste debate, ficará claro que a
defesa de tal capacidade crítica é descendente direta da defesa do criacionismo
bíblico, na verdade, é a sua mais nova adaptação. Se o problema que eles
encontravam era com a 1° emenda, agora eles estão perfeitamente adaptados a ela.
O criacionismo bíblico foi gradualmente se adaptando e se transformando em algo
que pode ser aceito por uma mentalidade secular, passando de “dogma religioso”
para “defesa da liberdade acadêmica” e, deste modo, ainda tem conhecido sucesso
em um ambiente onde dogmas religiosos não podem ser ensinados fora das aulas
de religião.
Em um sistema jurídico onde uma emenda constitucional garante a
liberdade de expressão, tentar proibir o ensino do darwinismo, ou mesmo
restringi-lo, dificilmente passaria pela Suprema Corte. Por isso, essa tentativa se
camufla em uma defesa da liberdade crítica, aumentando em muito as suas
chances de sobreviver. Na natureza normalmente temos espécies inócuas se
mimetizando de espécies venenosas para poder sobreviver, mas aparentemente na
cultura, idéias venenosas se camuflam em idéias inócuas. É o famoso lobo em
pele de cordeiro, ou seria melhor dizer o cordeiro de deus em pele de cientista?
Podemos voltar ao meme do nazismo e lembrar que uma das propostas era
de que os arianos eram uma raça antiga e pura26. Tal conceito é hoje considerado
como evidentemente falso, mas isso não impediu que ele se espalhasse
26
Mais especificamente, seriam uma raça com descendência direta dos Brâmanes hindus.
164
rapidamente. Assim como o seu conceito correlato, e também falso, de que os
judeus não são seres humanos, ou não devem ser tratados como tais. O fato de que
memes falsos possam ter um gigantesco sucesso reprodutivo pode ser algo que
não queiramos que aconteça, mas não podemos culpar a memética por isso! Muito
pelo contrário, ela se mostra como uma ferramenta extremamente eficaz para
mostrar o motivo pelo qual isso acontece e, deste modo, nos prevenir que só
porque todos acreditam em algo não quer dizer que seja verdade. Que idéias falsas
podem ter um imenso sucesso cultural é algo que pode ser constatado por
qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento histórico. Isso indica, mas não
implica, que muito do que é defendido hoje pode se mostrar falso no futuro,
inclusive a própria memética. Mas dizer se uma teoria é falsa ou verdadeira não
diz respeito à memética, esta somente trata do fato de se ela é capaz de se replicar
eficazmente ou não.
A teoria memética não é contra a existência da razão e de princípios
racionais, estes podem muito bem fazer parte do ambiente ao qual memes devem
se adaptar, e memes podem também ser catalogados como racionais ou
irracionais, se for encontrado um critério para isso. A única coisa que a memética
afirma é que eles podem ser ótimos, ou péssimos replicadores, a despeito de sua
racionalidade e também da nossa racionalidade. Nas palavras de Dennett:
A única posição racional que a memética contradiz é a posição quase incoerente
que supõe que existem razões sem qualquer amparo da biologia, e que estão como
que penduradas de algum gancho imaginário (skyhook) cartesiano (Dennett, 2003,
p.187. Minha tradução).
Seria possível questionar que qualquer teoria capaz de distinguir verdade e
falsidade seria também um meme e, deste modo, também poderia ser largamente
aceita, mas ainda assim ser falsa. Isso é verdade! Deste modo, aparentemente a
memética acabaria com sua própria fundamentação. Mas mais uma vez deve ser
levado em consideração que isso não é um problema exclusivo da memética e sim
de qualquer teoria sobre a verdade. Seja lá que teoria for proposta para distinguir
verdade de falsidade, ela terá que ser capaz também de dizer se ela mesma é
verdadeira ou falsa. Mas, assim como um mentiroso estaria mentindo se dissesse
“eu sempre falo a verdade”, tal teoria pode se fundamentar como verdadeira,
dentro de seus próprios preceitos, mas ainda assim ser falsa! Nenhuma teoria da
verdade pode fundamentar a si mesma, pois seria um fundamento sem
165
fundamento, uma perfeita demonstração de uma petição de princípios. Veremos,
no capítulo sobre filosofia da ciência (capítulo 9), que devemos concordar com
Popper quando este diz que todo o nosso conhecimento, principalmente no que
diz respeito ao mundo empírico, é sempre tentativo, conjectural. O importante
aqui é que embora a memética não possa se fundamentar como verdadeira, isso
não é um problema dela, mas sim um problema de qualquer teoria da verdade,
problema este que é conhecido desde os céticos da antiguidade (cf. Leal-Toledo,
2008) e é um fato que qualquer epistemólogo pode constatar.
Mais uma vez, ao contrário de vermos aí uma fraqueza da memética,
devemos ver sua força, pois outras teorias da verdade não costumam ser capazes
de explicar porque idéias falsas podem ser tão permanentes. Se tivéssemos posse
de um conceito rigoroso e bem fundamentado de verdade, seria esperado que ele
pudesse ser utilizado para simplesmente limpar a humanidade de toda a falsidade
e mentira. Mas tal fato nunca se deu e provavelmente nunca se dará, e a memética,
ao contrário de muitas teorias, pode explicar o motivo disso: teorias falsas podem
ter um alto valor replicativo. A memética é capaz de explicar que não adquirimos
uma determinada idéia baseada em sua veracidade, mas sim baseada em sua
adequação à nossa mente. Assim ela é capaz de explicar porque a falsidade é tão
difundida e permanente na história da humanidade. Ao contrário de muitas
teorias, temos na memética a explicação pragmática para a existência constatada
da falsidade. Richerson e Boyd, embora não chamem a sua teoria de memética,
mostram muito claramente como este processo pode se dar (cf. Richerson &
Boyd, 2006, p.152).
Um dos processos tratados por Richerson e Boyd diz simplesmente que
pessoas tenderão a copiar o que a maioria está fazendo. Dennett e Dawkins tratam
exatamente do mesmo assunto falando de uma espécie de “seleção sexual dos
memes” (Dennett, 1998, p.367). Na seleção sexual, um caractere é escolhido
simplesmente porque é escolhido. Pavões tem caudas grandes simplesmente
porque fêmeas de pavão escolherão machos com caudas grandes. Deste modo,
machos com caudas grandes têm maiores chances de se reproduzir dando origem
tanto a outros machos, também com caudas grandes, quanto a outras fêmeas
também com o impulso de se reproduzir com machos com caudas grandes. Ou
seja, não há motivo adaptativo nenhum a não ser o fato de que este caractere
auxilia na reprodução. Um macho com cauda pequena simplesmente não vai se
166
reproduzir, e uma fêmea que escolha tal macho dará origem a descendentes que
terão grande dificuldade em se reproduzir. É um simples caso de “siga o que a
maioria está fazendo ou seus genes serão eliminados”. Na cultura um processo
bastante similar acontece com o conceito de “fama” e, mais especificamente, com
a publicação de lista de livros mais vendidos. Quando tais listas são publicadas, os
livros que constam nela “disparam” simplesmente porque constam nela, e não por
nenhuma outra qualidade específica. O fato de que muitas vezes agimos
simplesmente através da regra “siga o que a maioria está fazendo” é, segundo
Richerson e Boyd, um dos motivos que teorias falsas, e também teorias maladaptativas, prosperam. O mesmo também se daria com a regra “copie o que uma
pessoa de destaque faz”. “O fato de um meme espalhar-se ou não depende de se
indivíduos de sucesso, carismáticos ou poderosos o adotam.” (Laland & OdlingSmee, 2000, p.135. Minha tradução).
Mas apesar disso tudo, uma das contribuições mais importantes de Dennett
para a teoria dos memes foi começar a discutir abertamente a possibilidade da
memética. A memética seria uma ciência capaz de aplicar a perspectiva do meme.
Tal perspectiva seria semelhante às narrativas históricas adaptacionistas comuns
na biologia. Ao estudar um meme devemos mostrar o que o torna um bom
replicador, ou seja, porque ele tem sucesso replicativo. É nisto que a memética se
diferencia de outras teorias que normalmente são confundidas com ela, a saber, o
Darwinismo Social, a Sociobiologia, a Psicologia Evolutiva e o chamado efeito
Baldiwn, que serão tratadas no próximo capítulo. No momento basta saber que a
primeira tem implicações éticas que fogem completamente da memética, sem
contar com erros teóricos em sua interpretação do darwinismo, as demais são
todas tentativas de mostrar como o nosso comportamento está, em certa parte,
fundado nos genes. A memética vem justamente contra isso, ela estuda o
comportamento que não é geneticamente determinado. Isto não quer dizer que os
estudiosos da memética neguem que existam comportamentos geneticamente
determinados, eles existem também, como nos mostra a etologia, mas a memética
estuda aquela outra parte de nosso comportamento que é culturalmente
(memeticamente) determinado, ou melhor, direcionado.
No entanto, Dennett se mostrou claramente cético em relação a esta
possibilidade, dando à memética um valor que ele chamou de filosófico
(explicativo) em oposição a um valor científico (experimental). Veremos, no
167
capítulo de filosofia da ciência, que tal divisão talvez não seja tão rigorosa (seção
9.6). No momento o importante é perceber que Dennett questionou a possibilidade
de uma memética como ciência por causa de sua visão dos memes como entidades
extremamente abstratas. Como já vimos, Dawkins tratou os memes não como uma
teoria empírica, mas sim como uma ferramenta auxiliar para entender o caráter
abstrato do darwinismo universal. Além disso, a definição mais comum de
memes, de Susan Blackmore, considera os memes como um tipo de informação
encontrada em cérebros. Tal definição tem a seu favor o fato de que a definição de
gene utilizada por Dawkins, e retirada de George Williams, é, como já vimos,
também em termos de informação (seção 1.7). Neste sentido, ambas as definições
estariam em um mesmo nível e uma seria tão criticável quanto a outra.
Dennett insiste que este nível deve ser mantido e que memes devem ser
entendidos mais como uma classificação semântica do que como uma
classificação sintática. Por este motivo ele sequer se preocupa em procurar o que
seria o substrato empírico dos memes, não porque ele não acredita que exista um,
mas porque ele não acredita que seja relevante. Em suas palavras:
Mesmo que encontremos algo tão improvável, devemos preferir o conceito mais
abstrato e fundamental dos memes, visto que já sabemos que a transmissão e
armazenamento de memes pode continuar indefinidamente em formas nãocerebrais – em todos os tipos de artefatos -, que não dependem de uma linguagem
descritiva compartilhada (Dennett, 1998, p.369).
No entanto, o problema com tal nível de abstração, que foi identificado pelo
próprio Dennett é que quanto mais abstrato, mais difícil é distinguir entre plágio e
convergência. Ou seja, quanto mais abstrato é considerado um meme, mais difícil
é saber se um mesmo meme encontrado em dois lugares diferentes se dá porque
um copiou o outro ou porque a mesma idéia surgiu independentemente em dois
lugares. Já vimos que tal problema é, dentro da biologia, tratado por técnicas de
classificação cladística (seção 1.10). Tais técnicas, embora muito poderosas, não
são perfeitas. Mas na memética, se os memes forem tratados de maneira
completamente abstrata, tais técnicas seriam quase que irrelevantes, pois não
dariam resultados.
Para deixar mais intuitivo tal problema podemos pensar na seguinte situação
proposta pelo próprio Dennett: se encontramos em dois livros um mesmo
parágrafo palavra por palavra, dificilmente acreditaríamos que um não copiou o
168
outro. É claro que algumas questões seriam levantadas, o tamanho do parágrafo
importa, assim como sua relevância para o tema. Devemos levar em consideração
também se os termos utilizados em ambos são termos típicos e universais para o
tipo de questão tratada ou são termos particulares de um determinado autor, etc.
Mas no geral não se deve esperar por tais “coincidências cósmicas”. Um júri
poderia, corretamente, dar o veredicto de cópia, mesmo se não tivesse provas
materiais de como se deu este processo causal, simplesmente baseado na
improbabilidade de tal coincidência (cf. Dennett, 1998, p.75).
A questão fica infinitamente mais confusa se o que estiver sendo
considerado como copiado não for a seqüência exata das palavras do parágrafo,
mas sim a idéia mais abstrata que o parágrafo quer passar para o leitor. Neste caso
é muito mais difícil saber o que realmente aconteceu, pois a possibilidade que dois
autores tenham independentemente a mesma idéia não é de maneira nenhuma
desprezível. Na falta da evidência dada pelos dois parágrafos idênticos em suas
palavras, o júri precisaria recorrer a outras evidências externas para resolver tal
caso. Algo extremamente semelhante a isso ocorreu na disputa pela “paternidade”
do cálculo entre Newton e Leibniz (cf. Boyer, 1996, p.273). Não haviam
indicações que mostrassem que houve um processo de cópia, mas baseado no fato
de que os dois sistemas eram bastante diferentes e que outras provas materiais,
como cartas, esboços, conversas pessoais, não indicavam plágio, foi aceito que
houve aqui um processo de evolução convergente.
Institutos de patentes se deparam com tais problemas diariamente e para isso
precisam estabelecer certos limites, normalmente arbitrários, para distinguir entre
plágio e convergência. Eles têm que enfrentar questões do tipo: saber quanto de
novidade é necessária para que algo seja considerado um produto novo. Para fazer
isso eles não podem trabalhar com noções extremamente abstratas, pois perderiam
todo critério para um julgamento eficaz. Segundo Dennett, tal problema acabaria
com a possibilidade de se fazer uma memética, pois se a memética vai se basear
na teoria da evolução, ela deve ser capaz de criar as narrativas históricas tão
comuns desta ciência, mas trabalhando neste nível de abstração fica quase
impossível construir tais narrativas.
Ele inclusive apresenta a crítica do antropólogo Dan Sperber, talvez o maior
crítico dos memes e que trataremos com mais detalhes na seção 10.1, contra a
possibilidade de se lidar com tais objetos abstratos. Para Sperber, tais objetos não
169
participam diretamente das ações causais27. Quando um bolo sola, por exemplo,
não é culpa da receita entendida de maneira abstrata, mas sim de uma instanciação
específica de tal receita. Exatamente o mesmo se dá quando o bolo sai perfeito do
forno. Objetos abstratos não causam nada, apenas suas instanciações físicas
podem causar algo. Mas uma ciência dos memes deveria ser capaz de tratar das
causa, justamente o problema que Dennett levantou.
Curiosamente o próprio Dennett desenvolve uma linha de resposta à sua
própria crítica, outras possíveis respostas serão tratadas no último capítulo deste
trabalho (seção 10.1, 10.4 e 10.6). Como um bom funcionalista ele nos fala que
conhecer os detalhes causais não é necessariamente relevante para conhecer o
caminho por onde a informação memética passou. O exemplo que ele nos dá é
que podemos pensar que, para capturar um espião dentro de uma agência, um
investigador pode distribuir informações falsas, porém relevantes, e ver quais são
passadas para os inimigos. Deste modo ele pode ir reduzindo as buscas baseado só
no seu conhecimento de quais informações estão sendo passadas, mas ignorando
completamente como esta informação foi passada. Ou seja, mesmo sem saber o
processo causal da transmissão de informações, ele pode descobrir quem as
passou. Um caso semelhante a esse aconteceu com a Who’s Who, uma
enciclopédia biográfica, que para saber se estava sendo copiada por outras
enciclopédias simplesmente colocava alguns verbetes falsos no meio. “Pode ter
certeza que se um desses aparecer nas páginas de um concorrente, não foi por
coincidência!” (Dennett, 1998, p.148).
Temos, assim, que saber exatamente como se deu o processo causal, não é
necessário para saber qual a relação causal entre diversos memes permitindo,
desta forma, a construção de sua filogenia. Mas mesmo assim Dennett, por manter
seu conceito de memes extremamente abstrato, acaba tendo que lidar com o
problema que é a falta de relações causais tão importantes para qualquer ciência
empírica. Poderíamos pensar, não contra Dennett, mas expandindo sua análise,
que assim como memes podem ser passados através de diversos meios, como
livros, cds, internet etc. é bem provável que, em um futuro não muito distante,
genes também possam ser transmitidos de tal maneira, pois com a engenharia
genética um código de DNA pode ser todo traduzido em letras do alfabeto (A, T,
27
A crítica de Sperber é extremamente parecida com a crítica de Kim (1998) contra o
funcionalismo na filosofia da mente.
170
C, G), enviado por e-mail, e então reconstruído fisicamente em um laboratório do
outro lado do mundo. Se o gene for tratado como informação, devemos assumir
que a informação contida no e-mail é, ela mesma, um gene. A rigor não há nada
de fundamentalmente errado nisso, mas é definitivamente mais simples considerar
os genes como instanciados só em DNAs. Do mesmo modo, um meme pode ser
passado através de livros, mas para isso não precisamos tratar o que está escrito
no livro como sendo, ele mesmo, um meme por conta própria, mas sim como uma
espécie de instrução para que um meme que estava na mente de um autor seja
reconstruído na mente de seus leitores.
Já vimos esta questão neste mesmo capítulo ao tratarmos da competição de
memes por espaço na publicação de livros de uma editora. Podemos, como
Dennett gostaria, tratar o ambiente dos memes como as gráficas, os livros, as
livrarias, mas isso causará exatamente o problema que Dennett reconhece. No
entanto, tal problema perde sua gravidade se tratarmos os memes como habitando
as mentes dos editores, dos donos de gráficas, dos leitores, dos donos e gerentes
das livrarias etc. Ainda restará a questão de qual é, na mente humana, o substrato
dos memes, mas dado que é notoriamente aceito que mentes podem trocar
informação através da comunicação, fica muito mais simples construir uma
relação causal. Mas isso de maneira nenhuma impede que memes, assim como
genes, sejam tratados em um sentido mais amplo e conceitual como sendo
informação. A única coisa que muda é que, ao se tentar fazer ciência ou criar uma
explicação causal, é necessário levar em consideração o substrato de tal
informação. Pois quanto mais abstrato o conceito de informação, menos poderes
causais ela tem28.
A verdade é que a antropologia, a história e a filologia, assim como os
institutos de patentes como a WIPO, já tratam deste problema há décadas com um
sucesso considerável. Suas análises e técnicas podem muito bem ser utilizadas
futuramente pela memética. Podemos ver um exemplo de tal análise na questão da
invenção (ou seria descoberta?), do “zero”. Sem o conceito de zero e o princípio
da posição decimal, no nosso caso, não teríamos tido o grande desenvolvimento
da matemática que hoje conhecemos. Aparentemente, o zero provém justamente
de tal princípio de posição da escrita. A questão é que para escrever, por exemplo,
28
Além disso, sejamos honestos, cientistas gostam de coisas palpáveis.
171
o número 729, uma escrita sem o sistema posicional de base decimal teria que
escrever, por exemplo, os algarismos correspondentes a 7 x 100 + 2 x 10 + 9. Ao
invés de simplesmente colocar o 7 na casa das centenas, o 2 na casa das dezenas e
o 9 na casa da unidade. Sabemos que já na Babilônia, antes de 1750 a.c., já existia
o sistema de base, mas que não era decimal, no caso era sexagesimal (cf. Ifrah,
1985, p.237).
O problema de um sistema posicional sem o número zero é bastante simples:
o que colocar quando não há algarismo nenhum em uma das posições. Por
exemplo, no número 606 não há nada na posição das dezenas. Se o zero é
desconhecido, há grande probabilidade deste número ser confundido com 66. Os
babilônios resolveram este problema colocando um espaço vazio entre os
números. Mas é claro que esta não era uma boa solução, pois dá margem a muitos
erros. Finalmente, no séc III a.c. aparece um símbolo semelhante a um prego na
diagonal que deveria marcar o lugar vazio, sendo o primeiro zero da história (cf.
Ifrah, 1985, p.243). Mas talvez o mais curioso é que o zero não era ainda
concebido como “quantidade nula”, ela não era uma quantidade, só uma marcação
da posição vazia. Se fosse feita, por exemplo, a subtração “20 – 20”, os
babilônicos não tinham a quantidade zero para colocar no local do resultado!
Aparentemente o mesmo problema surgiu independentemente entre os
indianos, mas com outro resultado. A numeração antiga indiana exigia muitos
algarismos diferentes. Para fugir disso eles passaram a escrever os números por
extenso, 3.709, por exemplo, era escrito nava sapta sata ca trisahasra, escrito de
trás para frente em relação ao nosso modo, significava “nove, sete cem e três mil”
(Ifrah, 1985, p.267). Depois viram que poderiam simplesmente perder os
algarismos que serviam só para marcar a posição com dez (dasa), cem (sata), mil
(sahasra) e manter o sistema de casa decimal. O problema óbvio era o que fazer
quando uma casa estava vazia. O número 3.709 não poderia ser escrito nava ca
tri, pois isso é o número 379. No entanto, o conceito de vazio (sunya) já era
extremamente importante para os sábios hindus por motivos religiosos. Foi só
uma questão de colocá-lo na posição vazia. Ficamos, então, com o número nava
ca sunya tri (nove, sete, vazio, três). A descoberta do princípio de posição e do
zero são ambas do séc V d.c. e não ficou restrita aos meios eruditos. No séc VI
d.c. ela chega ao Camboja e ao Vietnam. Neste mesmo século aparece o algarismo
zero, que talvez tenha a sua forma circular porque um de seus nomes, ele tinha
172
vários nomes além de sunya, era bindu, que significava “ponto”. Mas ao contrário
dos babilônicos, o zero hindu logo deixou de ser só uma marcação de posição
vazia e virou uma quantidade nula, permitindo, assim, que ele fosse usado em
cálculos matemáticos. No séc. VIII d.c os árabes adotam o sistema hindu e
posteriormente levaram tal sistema para a Europa que, embora tenha relutado,
acabou aceitando tal sistema por volta do séc. XII d.c (cf. Ifrah, 1985, p.310).
O interessante é que o mesmo aconteceu de maneira independente na China,
durante a chamada dinastia Han (séc. II a.c. – III d.c.), onde existia um sistema
posicional um pouco diferente, que combinava traços verticais e horizontais, e que
enfrentou o mesmo problema da posição vazia. Uma das soluções foi escrever o
número por extenso, por exemplo, escrevia-se 2.640 como “264 dez”, outra foi
simplesmente colocar todos os números em quadrados, de modo que ficava claro
que certos quadrados estavam vazios. Mas só no século VIII d.c., aparentemente
por influência dos indianos, apareceu um número que correspondia ao zero
semelhante a um pequeno círculo (cf. Ifrah, 1985, p.248). Há aqui a questão se os
chineses de fato copiaram os indianos ou se desenvolveram este algarismo por
conta própria. O problema já era conhecido pelos chineses, e as soluções
utilizadas por estes não eram boas, deste modo é possível que eles tenham
resolvido este problema sozinhos. Mas tudo indica que eles copiaram os indianos.
O mesmo ocorreu com os árabes, no entanto, aqui o caso é muito menos
controverso. Os próprios árabes deixaram claro que tinham copiado a descoberta
dos indianos! Um exemplo de humildade intelectual que não foi repetido pelos
europeus.
Exemplos de problemas como estes são comuns na antropologia: a escrita
pode ter tido três origens diferentes, pode ter surgido na Mesopotâmia em 3.000
a.c, na China em 1.500 a.c e na Mesoamérica em 300 a.c. Mas dado o grande
espaço de tempo entre estas invenções, ficamos com a dificuldade de saber se elas
foram realmente independentes. Temos um problema semelhante a este com a
invenção neolítica da cerâmica e com a invenção da navegação. Também
encontramos problemas semelhantes na filologia, esta utiliza as mais variadas
técnicas para descobrir o texto original a partir de variadas cópias. Devemos a
estas técnicas os nossos estudos de Platão, por exemplo. São problemas graves e
que causam grande discussão. Infelizmente não temos aqui a capacidade de fazer
algo parecido com uma análise molecular do DNA, que fazemos para resolver
173
problemas semelhantes na cladística. Mas através de um raciocínio bastante
semelhante ao da biologia, os antropólogos procuram semelhanças e diferenças
entre os produtos, entre os seus modos de fabricação e de utilização, datam as
descobertas, analisam se outros traços culturais indicam alguma troca entre os
povos e podem, assim, chegar bem próximo de uma resposta. Como no caso do
zero, os Chineses poderiam tê-lo inventado, mas dado que os indianos o
inventaram antes, dado que esta invenção já tinha sido propagada para outros
lugares da Ásia, dada a proximidade da Índia e da China, dado que existia
intercâmbio entre estes dois povos, dado que o zero aparece subitamente na China
e, principalmente, dada a semelhança na grafia do zero chinês com o zero indiano,
acredita-se que ocorreu um caso de empréstimo e não de criação independente. Já
em relação aos árabes, mesmo que eles não tenham deixado claro que copiaram os
indianos, isso seria facilmente descoberto pelos mesmos motivos anteriores e pelo
fato de que eles, diferentes dos chineses, não copiaram só o zero, mas todos os
algarismos e o modo de fazer cálculos. Diga-se de passagem, a grafia dos
números e o modo de fazer cálculos são ótimos exemplos de memes que foram
passados entre culturas com uma fidelidade de cópia bastante considerável.
Vemos, então, que o problema levantado por Dennett já é trabalhado com relativo
sucesso.
No entanto, em Quebrando o Encanto, Dennett continua defendendo que
devemos pensar em memes no sentido abstrato e dar a estes mais ou menos o
mesmo suporte ontológico que damos às palavras (cf. Dennett, 2006, p.92).
Palavras podem ser escritas, ditas, sinalizadas etc, mas elas não podem ser
rigorosamente reduzidas a nenhum destes meios, elas são entidades abstratas e, no
entanto, ninguém duvida que elas existam. Mas o problema é, como bem nos
mostrou Sperber, que mesmo que palavras sejam objetos abstratos, ainda assim
em explicações causais são necessários objetos concretos. O meme do meme não
entrou na mente de Dennett através de objetos abstratos, mas sim através de,
provavelmente, borrões de tinta em um exemplar do livro de Dawkins.
É claro que Dennett está correto ao dizer que é improvável que se encontre
uma linguagem cerebral universal de modo que uma idéia na mente de uma
pessoa seja fisicamente idêntica, ou muito semelhante, a esta mesma idéia na
mente de outra pessoa. Por isso o meme não poderia ser reduzido a tal substrato
físico e devemos manter sua definição em termos informacionais e abstrato, assim
174
como é a definição de genes para Dawkins e Williams. Mas se tratarmos a mente
humana como principal, ou mesmo único, ambiente dos memes, sendo que memes
em livros, por exemplo, não seriam mais memes do que genes descritos em livros
são genes, deve então existir alguma regularidade física ou funcional entre dois
cérebros para que um meme conte como sendo o mesmo meme nestes dois
cérebros. No mínimo deve haver uma regularidade no comportamento causado
por tal meme. Neste segundo caso, seria uma questão empiricamente ainda em
aberto se regularidades no comportamento precisam ou não de regularidades,
sejam elas físicas, estruturais ou funcionais, em cérebros (seção 10.1).
Informações podem ser abstratas, mas informações em cérebros devem ter
algum suporte físico. Pode ser improvável que exista uma linguagem universal de
modo que cada meme específico tenha um, e só um, tipo de substrato físico no
cérebro, mas também é improvável que exista um pandemônio cerebral de modo
que não exista regularidade nenhuma entre os cérebros. Neste último caso seria
muito difícil entender como se daria qualquer transmissão de informação entre
sujeitos. O que contaria como sendo “a mesma” informação? E principalmente,
como ambos saberiam que contém a mesma informação? Voltamos aqui para
questões de filosofia da mente onde encontramos vários tipos de reducionismo,
além do funcionalismo, dualismo e outras teorias. Tratá-las aqui seria fugir do
tema, mas podemos lembrar que mesmo o funcionalismo que Dennett defende,
onde substratos muito diferentes poderiam instanciar o mesmo processo (a mesma
regra, mesma informação, o mesmo software), ainda assim ele precisa de uma
regularidade funcional para contar como sendo o mesmo processo em diferentes
substratos. Talvez sejam estas regularidades funcionais, e não regularidades
físicas, que devamos buscar nos cérebros29. O substrato do meme não precisa ser
um substrato físico, mas pode ser um padrão funcional do cérebro humano. Do
mesmo modo, a palavra “cachorro” pode ser dita, escrita e sinalizada de várias
maneiras, mas não de qualquer maneira.
Existe um limite pragmático, e não de princípios, que garante a
inteligibilidade, e também existem relações, quanto mais rígidas e biunívocas
melhor, que garantem a tradutibilidade em relação aos seus diferentes meios de
transmissão. Vemos isso muito claramente nas relações entre fonemas e os
29
Mas ainda permanece o desafio de Kim que diz que tais regularidades funcionais podem sempre
ser reduzidas a regularidades físicas.
175
grafemas fonológicos: a relação não é tão biunívoca como gostaríamos, o fonema
/j/ por exemplo, pode ser o grafema g ou j, como em gelo e jarro. Além disso, o
grafema g pode também indicar outro fonema, como em gato. A falta de uma
relação mais simples causa confusões, mas tais relações têm que ser simples o
suficiente segundo um critério pragmático da utilidade. A comunicação efetiva, a
transmissão de memes, precisa de regras, e tais regras não podem ser, elas
mesmas, memes, pois precisariam de outras regras para serem entendidas e assim
infinitamente. No caso dos memes é possível que tais regras façam parte
constitutiva de seu próprio ambiente, ou seja, do cérebro humano.
3.3
Susan Blackmore e a Descoberta do Óbvio
Embora Dennett tenha se mostrado um cético em relação a memética, suas
discussões deram início a várias outras considerações sobre uma ciência dos
memes. Se o meme do meme, criado por Dawkins, foi achar seu lugar na mente
de Dennett, o meme da memética, propagado por Dennett, encontrou seu espaço
na mente de Susan Blackmore, que foi considerada por Dawkins e Dennett como
a principal defensora da memética. “Foi Susan Blackmore, em The Meme
Machine, que levou a teoria memética mais longe” (Dawkins, 2007, p.259). Foi
neste livro de 1999 que ela fez o que é ainda um dos melhores modelos de como a
memética deveria ser, embora veremos que não é nem de longe uma ciência bem
desenvolvia.
Assim como Dennett se diferencia em alguns pontos de Dawkins,
principalmente no que diz respeito à questão do papel do sujeito na evolução
memética, Blackmore também se diferencia parcialmente de ambos. Ela parece
estar convencida de que a memética pode ser uma ciência e, para mostrar isso,
ressalta alguns pontos que não foram bem trabalhados por seus predecessores.
Talvez o ponto mais fundamental seja a sua idéia de que os memes só podem ser
passados por imitação “no sentido estrito”. Tal questão será tratada com mais
detalhes, e criticada, no oitavo capítulo, mas no momento algumas considerações
devem ser feitas. Por imitação aqui ela quer dizer a cópia exata de um padrão de
176
comportamento. Para ocorrer a imitação é preciso, segundo ela, que três fatores
existam: o indivíduo tem que ser capaz de escolher o que vai imitar; ser capaz de
fazer uma transformação complexa de um ponto de vista para o outro; e, tem que
de fato realizar tal padrão comportamental30.
Segundo Blackmore, é necessário fazer esta separação, pois só na imitação
algo de fato está sendo passado, a saber, um padrão de comportamento específico.
Nas outras formas de aprendizado social não há cópia de informação. Para mostrar
isso ela lembra de um dos casos mais comentados sobre este assunto sobre
pássaros ingleses que aprenderam a abrir garrafas de leite. Tal comportamento se
espalhou rapidamente, mas tudo indica que não houve imitação nenhuma. Um
pássaro simplesmente percebeu, por tentativa e erro, que poderia tirar leite abrindo
a tampa de garrafas, e outros pássaros, vendo este se alimentar, resolveram
também buscar leite em garrafas, mas não imitaram tal pássaro no seu padrão
comportamental de abrir garrafas, simplesmente bicaram as tampas até descobrir
como abri-las sozinhos, por tentativa e erro também. Segundo Blackmore, não
houve aí nenhum processo de transferência de padrões de comportamento entre
indivíduos, não houve imitação, então não houve transmissão memética. Só
através da imitação podemos dizer que houve algum tipo de hereditariedade
Uma vez restringindo a transmissão memética exclusivamente aos processos
de imitação no sentido estrito, restringe-se também quais animais são capazes de
transmitir memes. Tirando algumas poucas exceções, só mesmo os humanos são
capazes de “verdadeira imitação” no sentido restrito de Blackmore. No momento
não trataremos dos outros animais, pois o mais importante aqui é, de fato, a
transmissão de memes entre seres humanos. No oitavo capítulo esta questão será
abordada com mais detalhes (seção 8.1). Deve-se notar que Blackmore está
correta ao afirmar que, de todos os seres vivos, são os seres humanos os mais
capazes de imitar. A explicação neurológica disso será dada no sétimo capítulo,
que falará sobre os neurônios-espelho. Por hora basta ficarmos com a seguinte
intuição em mente: é fato que o ser humano já tem uma grande habilidade de
imitar literalmente desde o primeiro minuto de sua vida, e ao contrário dos outros
animais, tal habilidade nunca é diminuída ou perdida com o tempo. No ser
humano pode-se dizer que esta habilidade é praticamente ilimitada e, na verdade,
30
No capítulo sobre neurônios-espelho (sétimo) veremos que o processo cerebral da imitação pode
ser muito mais simples do que isso.
177
é bem provável que seja a principal característica que nos distinga de todos os
outros animais. Simplesmente não existiria cultura sem imitação. Nas palavras de
Blackmore:
As crianças humanas são capazes de imitar uma ampla gama de sons vocais,
posturas corporais, ações sobre objetos, e até mesmo ações completamente
arbitrárias tais como abaixar-se e encostar a cabeça em um painel plástico. Por
volta dos 14 meses de idade, a imitação às vezes pode atrasar-se até cerca de uma
semana ou mais, e as crianças parecem saber quando os adultos lhes estão
imitando. Ao contrário dos demais animais, nós imediatamente imitamos quase
tudo, e parece que sentimos prazer em fazê-lo (Blackmore, 1999, p.50. Minha
tradução).
Por estas questões, Blackmore defende que memes devem passar
exclusivamente por imitação. Uma vez levado isso em consideração, é preciso
notar que nem todos os padrões comportamentais terão a mesma chance de serem
imitados. Uma música simples, por exemplo, é muito mais provável de ser
imitada do que uma complexa. O mesmo se dá para uma música boa em relação a
uma música ruim, sendo que bom e ruim vai, é claro, depender do aparato
cognitivo de cada indivíduo. Também é mais provável que se imite o
comportamento de alguém que admiramos do que de alguém que desprezamos.
Outros fatores que facilitam ou dificultam a transmissão dos memes poderiam ser
levantados, por exemplo, é mais fácil lembrar de um meme que coopera com os
outros memes que já temos. Qualquer um percebe isso ao ver que é mais fácil
lembrar de uma nova palavra na nossa língua do que em alguma outra língua
desconhecida. Também podemos lembrar que uma idéia útil terá uma maior
chance de ser aprendida. Vemos o caso não só da roda e do fogo, mas também da
linguagem, da medicina, da prostituição etc. Além disso, a natureza de nossos
mecanismos cerebrais de atenção e de memória também influencia na capacidade
de um meme ser passado ou não. Tudo isso deve ser estudado como parte do
ambiente dos memes. Só assim poderemos saber quais memes são mais prováveis
de serem imitados. No entanto, veremos que Blackmore ignora largamente estas
questões em suas análise meméticas!
Temos assim que vários fatores, principalmente psicológicos, mas também
biológicos e até mesmo culturais (meméticos) vão influenciar a probabilidade de
um determinado meme ser aprendido, retido na memória e, posteriormente
passado. Isto influencia diretamente em que memes serão mais comuns, pois estes
178
serão os mais prováveis de serem passados e retidos por outros, e que memes
serão mais raros. Mas sabemos que memes podem mudar. Não entraremos no
momento na questão de se essa mudança é dirigida por um sujeito ou não. O fato
é que eles mudam e isso é o suficiente para a memética. Estas mudanças podem
torná-los mais ou então menos prováveis de serem copiados e passados. Quanto
mais provável de ser imitado, quanto mais adaptado ao seu meio, que é a mente
humana, mais comum ele será. E poderá se tornar ainda mais comum se sofrer
novas modificações que o torne ainda mais provável de ser imitado.
Dito isso, podemos lembrar de um caso sobre a evolução do sabor das
frutas: a maioria das frutas são saborosas, cheirosas e até mesmo belas. Sem
contar que são fáceis de colher, sendo rapidamente destacáveis de suas árvores,
quando simplesmente não caem abertas no chão. O motivo adaptativo que torna
uma fruta saborosa é porque ela “quer” ser comida, pois quando algum animal a
come ele está espalhando as suas sementes e está evitando que ele coma as folhas
das árvores. Existem até algumas frutas que precisam passar pelo trato digestivo
de um determinado animal para poder germinar. Por este motivo muitas frutas são
doces, suculentas e saborosas, pois elas estão adaptadas ao paladar dos animais
que as comem. Quanto mais saborosa ela for, maior a probabilidade de que suas
sementes se espalhem. Neste sentido, podemos entender o paladar de
determinados animais como parte do ambiente ao qual uma árvore frutífera deve
se adaptar. Não importa que tal animal possa ser considerado um sujeito livre e
capaz de escolha, isso simplesmente não faz diferença alguma. Na verdade, as
frutas estão “contando com isso”, elas querem ser escolhidas por estes animais!
Assim, até mesmo a capacidade de escolha de um animal pode ser considerada
parte do ambiente ao qual uma fruta se adapta. É por isso que dissemos no
primeiro capítulo que não há uma diferença radical entre seleção natural e seleção
artificial (seção 1.3.1).
Levando o que acabou de ser dito em consideração, podemos entender mais
facilmente a memética. Memes devem ser passados por imitação, para isso têm
que se adaptar ao aparato cognitivo dos seres vivos capazes de imitação. Pode ser
verdade que tais seres vivos sejam sujeitos livres e capazes de escolha, mas isso
não faz fundamentalmente diferença nenhuma. Tais seres, mais especificamente
os seres humanos, sempre terão uma maior probabilidade de imitar algum
comportamento do que outro. Isso significa que os memes mais parecidos com
179
tais comportamentos se tornarão mais comuns simplesmente porque são mais
parecidos com tais comportamentos! O aparato cognitivo humano, seja ele capaz
de escolha ou não, pode ser considerado só como parte do ambiente ao qual o
meme deve se adaptar. Memes melhor adaptados a tal ambiente se tornarão mais
comuns.
Sem compreender isso não é possível compreender a memética. Para um
animal o seu paladar é o que permite escolher o que comer ou não, mas para a
fruta ele é só o ambiente ao qual ela deve ser adaptar. Exatamente o mesmo se dá
com plantas com gosto ruim que se adaptaram a tal paladar para evitar serem
comidas. Do mesmo modo, para um ser humano seu aparato cognitivo pode ser o
que o que lhe faz escolher entre o que imitar e o que não imitar, mas para um
meme ele é só parte do ambiente ao qual ele deve se adaptar. Ao contrário do que
muitas vezes fica subentendido na analogia do meme como um vírus que invade
nossa mente, um meme não nos domina ignorando as nossas capacidades
cognitivas, ele “nos domina” por causa de tais capacidades! Se não tivéssemos
predileção por determinados memes todos os memes teriam a mesma chance de se
multiplicar. Não haveria seleção e, consequentemente, não haveria evolução.
Nunca é demais ressaltar que há aqui uma mudança de ponto de vista
extremamente necessária para compreender o que a memética traz de novo ao
estudo da cultura e à compreensão do que é ser um ser humano. O sucesso de um
meme não se dá a despeito dos seres humanos, e sim por causa deles. Do ponto de
vista dos memes os seres humanos são o ambiente ao qual eles devem se adaptar.
Mas do ponto de vista do seres humanos, escolhemos passar os memes que mais
gostamos. Do mesmo modo, do ponto de vista da fruta, o paladar do macaco é só
o seu ambiente, mas do ponto de vista do macaco é ele que escolhe as frutas que
mais gosta de comer. Estes dois pontos de vista, que muitas vezes parecem ser
opostos, são, na verdade, complementares31.
Isto quer dizer que poderíamos, então, continuar falando de uma maneira
cotidiana de padrões culturais que os humanos decidem ou não adotar. Mas o que
há de novo agora é que podemos finalmente falar também do ponto de vista
31
Margulis nos fala de um curioso caso: o cientista russo Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863 –
1945) tratava os seres vivos como “matérias vivas” no sentido de que eram “minerais andantes e
falantes”. Neste sentido “um bando de gansos migratórios era, para Vernadsky, um sistema
biosférico de transporte de nitrogênio” (Margulis, 2002, p.63). Ele via a vida do ponto de vista dos
minerais.
180
oposto, o ponto de vista dos memes, onde os seres humanos e sua capacidade de
escolha não são nada além do ambiente dos memes. Nasce, assim, a chamada
perspectiva-dos-memes. A memética trata a cultura não do ponto de vista dos
humanos, mas do ponto de vista da própria cultura. Em última instância é isso o
que significa tratar a cultura como uma replicadora por conta própria. Podemos
dizer que são os memes que querem ser replicados e não nós que os queremos
replicar. Mas este fato não está em oposição com o fato de que nós replicamos os
memes que queremos replicar. É o mesmo processo visto de dois ângulos
diferentes. Usar a memética é tratar os memes como os sujeitos e os seres
humanos como o ambiente, mas isso não quer dizer que o ambiente não possa ser,
ele mesmo, um sujeito. É este ponto de vista do meme como sujeito que a
memética nos traz e é esta sua grande inovação. Nas palavras de Blackmore:
Ao invés de pensar em nossas idéias como nossas próprias criações, e como coisas
que trabalham para nós, temos que pensar nelas como memes autônomos egoístas,
que trabalham apenas no sentido de serem copiados (Blackmore, 1999, p.8. Minha
tradução).
A grande questão agora é ver como se dá a transmissão da cultura deste
novo ponto de vista e, depois disso, ver se este novo ponto de vista nos provém
com novas intuições, novas explicações e, porque não, novas predições. Caso ele
se mostre frutífero, então não há motivos de porque não adotá-lo e até preferi-lo
em relação ao modelo antigo das ciências sociais.
Vimos que Dawkins fala basicamente o mesmo quando se refere ao
chamado ponto de vista do gene (seção 1.12.5). Normalmente tal ponto de vista
será o mesmo que o ponto de vista do indivíduo. Deste modo, as explicações da
evolução por seleção do indivíduo não serão radicalmente diferentes das
explicações por seleção de genes. No entanto, existem alguns casos onde só a
seleção de genes é capaz de explicar, como o caso das castas estéreis, que
veremos na seção 4.3. Do mesmo modo que a visão dos genes nos diz o que estes
“pensam” sobre os organismos, a memética nos diz o que a cultura “pensa” sobre
os seres humanos.
Nesta nova perspectiva ao invés de ver um meme como um produto criado
por um sujeito, e que ele tenta passar para os outros, deve-se ver um meme como
uma instrução que diz “copie-me e espalhe-me” exatamente da mesma forma que
os vírus:
181
Os vírus são instruções de programa codificadas, escritas sob a linguagem de DNA,
e existem em beneficio das próprias instruções. As instruções dizem ‘Copie-me e
espalhe-me por toda a parte’ e as que forem obedecidas são as que encontramos.
Isso é tudo. Esse é o mais próximo que se pode chegar da questão ‘Por que os vírus
existem?’ (Dawkins, 1998, p.293)
Os memes mais comuns serão os que mais terão sucesso em serem
copiados e espalhados. O que vai ditar este sucesso é a sua adequação ao seu
ambiente, ou seja, à mente humana. Pode parecer que o que está sendo dito aqui é
estranho, mas é só um outro modo de dizer que as idéias e comportamentos mais
comuns serão aqueles que mais gostamos, ou melhor, que mais se adequam à
nossa estrutura cognitiva. Dito assim, fora da perspectiva do meme, parece algo
perfeitamente natural, mas não há nada de diferente sendo dito, é só uma questão
de ênfase. É claro que nossas estruturas cognitivas não podem ser reduzidas à
nossa habilidade de gostar, mas inicialmente e na falta de análises mais detalhadas
de como essas estruturas funcionam, é uma aproximação útil. Por qual ponto de
vista é melhor trabalhar depende do poder explicativo e preditivo de cada um.
Fora isso, não passa de uma questão de gosto.
Deste modo, basta agora que vejamos um número considerável de exemplos
do que é utilizar a perspectiva do meme para estudar a cultura. Alguns exemplos
já foram apresentados, como o da castidade, da religião, da fama, mas existem
muitos outros. Dos que serão apresentados em seguida, alguns só serão melhor
compreendidos posteriormente com a ajuda de alguns conceitos e teorias tanto da
antropologia quanto da lingüística, que serão apresentados no seu devido tempo
(capítulos 5 e 6). Para todos os exemplos que serão mostrados deve ser feito o
mesmo raciocínio inicial:
Imagine um mundo cheio de hospedeiros de memes (ou seja, cérebros), e muito
mais memes do que possivelmente poderiam vir a encontrar um lar. Agora se
pergunte: quais são os memes que têm maior chance de encontrar um lar seguro, e
serem passados adiante? (Blackmore, 1999, p.37. Minha tradução).
Tal pergunta é o início de qualquer consideração memética. Ela pode causar
certo desconforto, mas acabamos de mostrar que tal desconforto é indevido.
Podemos refazer esta pergunta da seguinte maneira: “dada as preferências
cognitivas dos seres humanos, quais idéias e comportamentos serão mais
comuns?”. Esta segunda pergunta não parece problemática, mas tais perguntas são
182
simplesmente idênticas. A diferença é só a partir de que ângulo estamos
questionando o mesmo problema. Mas é claro que, no final das contas, a questão
que realmente importa é qual destas duas perspectivas é mais frutífera.
No que se segue, devemos levar em consideração que muitas vezes adotar a
visão do meme pode parecer estranho por ser muito óbvio, mas é preciso não se
deixar levar por tal obviedade. Devemos lembrar que a teoria de Darwin, que
poderia ser resumido simplesmente como “aqueles que mais se reproduzem se
tornam mais comuns”, pode parece também bastante óbvia, tão óbvia que, como
veremos na seção 9.5, foi até acusada de ser tautológica! Mas na sua dita
obviedade ela nos trouxe um modo completamente novo de tratar o mundo vivo,
modo este que demoramos milênios para descobrir e mesmo agora ainda é
criticado e mal compreendido por muitos.
Infelizmente, os exemplos que serão dados a seguir não podem ser
entendidos como memética propriamente dita. São só análises iniciais que
poderiam ser utilizadas por futuros cientistas meméticos para fazer a sua pesquisa.
O problema é que Blackmore desconhece as estruturas cognitivas que fazem um
meme ser mais ou ser menos adaptado. Além disso, em uma atitude tipicamente
memética que será criticada no decorrer deste trabalho, Blackmore ignora
largamente as pesquisas que já existem sobre os assuntos que ela está tratando em
antropologia, arqueologia, história, lingüística etc. Ficará claro ao longo desta tese
que um dos primeiros trabalhos que um cientista memético deverá fazer é
conhecer profundamente estes estudos e utilizá-los em sua pesquisa.
O problema de Blackmore, assim como foi o caso de Dawkins, é que ela só
constrói just so story, narrativas históricas interessantes e inteligentes, mas sem
nenhum fundamento empírico mais preciso. Exatamente o que Gould temia. Este,
inclusive, faz várias críticas à memética, mas não as desenvolve (cf. Gould, 2003,
p.319). Veremos, então, que as análises de Blackmore são interessantes em sua
obviedade, mas talvez sejam óbvias demais.
O primeiro exemplo que Blackmore nos dá para utilizar o ponto de vista dos
memes é a transformação do ser humano, que era principalmente caçador-coletor,
em agricultor. Blackmore nos diz que, ao contrário do que muitos pensam, a
mudança para esta nova forma de subsistência trouxe uma enorme quantidade de
malefícios para a condição de vida e para a saúde. Dados mostram que caçadorescoletores têm absurdamente mais tempo para lazer e uma saúde melhor.
183
Aparentemente isso também era um fato 10.000 anos atrás e podemos comproválo através do estudo de esqueletos remanescentes. Neste ponto ela se baseia em
estudos antropológicos existentes. Podemos até lembrar que na Bíblia o trabalho é
considerado como a punição de adão. Existem também explicações biológicas do
porquê esta transição se deu. Agricultores podem ter mais filhos e podem viver
em comunidades maiores do que caçadores-coletores nômades. Tais explicações
são as aceitas até o momento, mas Blackmore soma a esta explicação o fato de
que memes não necessariamente se importam com o nosso bem estar. Se o
comportamento de cultivar plantas e criar animais for mais simples do que o de
caçar e coletar, ele se espalhará só porque é mais simples e nada mais. Cabe aqui
perguntar se novas explicações para este fato tão estudado são realmente
necessárias. De qualquer modo, este é um exemplo de uma explicação que a
memética poderia dar.
Uma outra questão trazida por Susan Blackmore é porque pensamos tanto.
Qual o motivo que faz ser praticamente impossível parar de pensar? Inicialmente
este não parece ser um problema. Estamos tão habituados a pensar constantemente
que sequer imaginamos que poderia ser diferente. Mas tal pensamento incessante,
e às vezes até desconfortável (em uma noite de insônia), não parece ser uma
característica necessária, pois poderíamos muito bem pensar bem menos ou quase
nada. Na verdade, é possível defender que poderíamos ser só comportamentais e
não pensar absolutamente nada, como fizeram alguns bahavioristas. Então, por
que pensamos tanto? Questões como essas são justamente exemplos do que a
memética pode trazer de novo para o debate atual. Lembremos do caso de Gould e
seu equilíbrio pontuado. Antes dele era comum aceitar que a mudança evolutiva é
que exigia explicação, sendo os momentos de estase algo simplesmente natural.
Mas Gould mostrou brilhantemente que isso estava errado, pois os momentos de
estase eram controversos e precisavam sim de explicação. Uma espécie não fica
milênios em estase simplesmente “porque sim”. É preciso dizer o que aconteceu
que permitiu tal estase. Do mesmo modo, a memética nos mostra que existe um
problema onde inicialmente não perceberíamos. A nossa incansável mente não é
assim “porque sim”, deve haver um motivo. Para a memética este motivo não
poderia ser mais simples: memes estão a toda hora competindo por espaço em
nossos cérebros. Toda hora temos uma idéia ou um padrão de comportamento que
quer se tornar mais “forte” do que os outros para ser passada adiante. Na verdade,
184
esta seria a explicação memética do modelo dos múltiplos esboços de Dennett. É
claro que tal explicação exige uma fundamentação empírica mais rigorosa do que
somente baseá-la nas idéias de um filósofo. É preciso saber antes se o cérebro
realmente funciona de modo que vários pensamentos estejam competindo por
espaço.
Um outro exemplo que ela nos dá será tratado separadamente na seção 5.4
por precisar de um conhecimento em antropologia, mas por hora basta saber que
não só Blackmore, Dennett e Dawkins, mas também Feldman e Cavalli-Sforza,
defendem que a evolução humana e, em particular, o tamanho do cérebro humano,
pode ter tido a sua origem em pressões culturais (meméticas) que construíram o
nicho ecológico que selecionou genes para tal processo. Tal análise de Blackmore
tem conseguido um sucesso maior, provavelmente porque tem uma base empírica
mais sólida, como veremos no quinto capítulo.
No momento podemos ficar com outro exemplo semelhante ao anterior, pois
não só pensamos demais, mas também falamos exageradamente, às vezes até
sozinhos. Esta é mais uma questão que inicialmente parece prescindir de
explicação, mas a memética pretende mostrar que não é bem assim. Falar custa
tempo e energia que é desperdiçada em conversas que parecem ser completamente
inúteis, principalmente do ponto de vista dos genes. Mas do ponto de vista dos
memes, falar é extremamente útil, pois permite que eles sejam passados. Na
verdade, devemos questionar por que adquirimos tal habilidade de falar. Estamos
tão acostumados com isso que suas vantagens parecem óbvias. Em grande parte
das vezes, falamos simplesmente por prazer, o que é mais verdadeiro ainda em
relação a cantar32. Mas qual seria o motivo que faz parecer tão difícil parar de
falar? A explicação memética mais uma vez surpreende por sua simplicidade:
pessoas que falam mais espalham mais memes, dentre eles estão os memes para
falar mais. No entanto, ela pode ser exageradamente simples. Há indícios, por
exemplo, que nossa habilidade de falar pode ter co-evoluido com a cooperação
dentro do grupo e auxiliado na criação de laços dentro deste grupo. Poderia, então
ter também um boa explicação biológica. Por sua vez, psicólogos evolutivos
poderiam explicar tal evento como um resquício da origem do homem: falar
32
A nossa facilidade de lembrar de versos talvez esteja na origem dos memes para cantar. Tal
facilidade é constatada em qualquer cursinho pré-vestibular onde se usam músicas para gravar
regras que não seriam lembradas de outra maneira. Técnica semelhante é usada em pré-escolas.
185
demais pode ter sido adaptativo, mas não é mais. O importante aqui é ver que
embora a explicação de Blackmore seja interessante, lhe falta qualquer base
empírica para que ela seja considerada como a melhor resposta entre várias
respostas possíveis.
A questão para Blackmore é que uma pessoa que se mantenha calada terá
dificuldade de passar os memes de “ficar calada”. Podemos levar tal caso ao
extremo para entender melhor: imagine uma pessoa que descobriu um gigantesco
e surpreendente benefício de nunca mais falar coisa alguma seja por que meio for.
Imagine que tal pessoa descobriu que se comunicar é, na verdade, um grande
malefício. Pois bem, o problema agora é como esta pessoa poderia dizer para as
outras pessoas aquilo que ela descobriu? Ela não poderia, ficaria calada e sua
grande descoberta morreria com ela. Tal meme seria um meme suicida. Agora,
pessoas que falam bastante podem facilmente espalhar o meme de que é bom falar
bastante. Por este motivo é esperado que este meme se espalhe mais do que seus
concorrentes. De fato isso se daria deste modo, mas se é assim que realmente
ocorre é uma questão para a qual Blackmore não tem resposta. Falta, mais uma
vez, uma análise psicológica e empírica mais detalhada.
Temos que questionar também não só por que falamos tanto, mas também
por que falamos o que quer que seja. Parece ser perfeitamente possível que a
linguagem nunca tivesse existido, ou fosse para sempre extremamente rudimentar
como encontramos em alguns animais. Ao pensarmos qual é a função da
linguagem podemos perceber que uma de suas principais funções é a de espalhar
memes. A linguagem pode ter surgido justamente porque é um ótimo meio de
passar informações. Na verdade, a nossa linguagem atual deve ter surgido cerca
de 100.000 anos atrás e ainda hoje é a nossa melhor maneira de passar informação
não-genética. Mas, passar informação não-genética é só um outro modo de falar
“passar memes”. Do ponto de vista da memética, a linguagem foi selecionada para
passar memes. Ou com um pouco mais de rigor conceitual, a linguagem existe
porque é um meio eficiente de passar memes, dentre eles os memes da própria
linguagem. Mais uma vez, não podemos ignorar que existem algumas outras
explicações com mais embasamento teórico e empírico para o surgimento da
linguagem, dentre elas a já mencionada anteriormente, que é a habilidade de
cooperar e de manter relações sociais.
186
Já vimos que o meme da castidade é passado porque pessoas com tais
memes têm mais tempo para gastar passando seu memes, dentre eles o meme a
castidade (seção 3.1). O mesmo poderíamos dizer dos memes do controle de
natalidade. Nas palavras de Blackmore:
As mulheres que têm apenas um ou dois filhos, ou nenhum, são muito mais capazes
de encontrar empregos fora de casa, ou de terem uma vida social excitante, ou de
usar e-mail, escrever livros ou artigos, ou se tornarem personalidade políticas ou
públicas, ou praticarem atividades que possam espalhar seus memes, inclusive os
memes para o controle de natalidade e os prazeres de uma pequena família. São
essas as mulheres que aparecem na mídia, cujos sucessos inspiram as outras
pessoas, e que oferecem modelos de comportamento a serem copiados por outras
mulheres (Blackmore, 1999, p.140. Minha tradução).
Mais uma vez podemos ver que há um certo estranhamento quando se vê a
cultura do ponto de vista dos memes, mas se conseguirmos deixar nossas
sensações iniciais de lado poderemos perceber que de fato mulheres com menos
filhos têm muito mais tempo para espalharem os seus memes, inclusive os memes
de ter menos filhos. Sabemos que, tirando raras exceções, nossa sociedade
privilegia mulheres com poucos filhos. No entanto, Blackmore falha em mostrar
porque esta alternativa é melhor do que outras. Veremos no próximo capitulo, por
exemplo, que a ecologia comportamental é capaz de explicar porque certos
animais têm menos filhos do que eles aparentemente poderiam ter (seção 4.5).
O último exemplo de Blackmore que trataremos aqui são os memes do
altruísmo. Já vimos no capítulo anterior que existem algumas explicações
biológicas para o altruísmo (seção 1.12.1, 1.12.3 e 4.3). As mais destacadas são o
altruísmo recíproco e seleção de parentesco. Mas a memética também pode
contribuir e até dar uma explicação para o chamado “verdadeiro altruísmo”, onde
não há necessariamente reciprocidade e não é direcionado para parentes. Neste
caso o altruísmo é passado porque tendemos a gostar mais de pessoas altruístas do
que de pessoas egoístas e, além disso, tendemos a imitar pessoas que gostamos.
Altruístas simplesmente nos inspiram bem mais do que egoístas:
Experimentos psicológicos confirmam que é mais provável que as pessoas sejam
influenciadas e persuadidas pelas pessoas de que gostam. Assim, os amigos imitam
seu comportamento popular e, dessa forma, seu altruísmo se espalha. E quanto mais
amigos ele tem, mais pessoas podem potencialmente adotar suas formas de se
tornar popular (Blackmore, 1999, p.155. Minha tradução).
187
Publicitários sabem disso há muito tempo e utilizam esta informação para
espalhar seus memes, ou melhor, os memes que eles são pagos para espalhar,
colocando pessoas, normalmente artistas que as pessoas gostam, para vender
produtos, mesmo que estes produtos não tenham absolutamente relação nenhuma
com tais artistas. Isso nos mostra que também na memética pode acontecer uma
espécie de “fenômeno-carona” como acontece na biologia quando certos animais
pegam carona na adaptação de outros, ou certos genes se beneficiam da adaptação
de outros genes. Neste exemplo em particular, Blackmore melhora um pouco a
sua base ao tratar de experimentos psicológicos. Richerson e Boyd, como vimos
neste mesmo capítulo (seção 3.2), também falam que muitas vezes seguimos a
regra “faça o que aquela pessoa que parece ser bem sucedida está fazendo”. Seria
o caso, então ver se as outras explicações para o altruísmo, como o altruísmo
recíproco e a seleção de espécies, não poderiam dar uma explicação melhor.
No caso da cultura Blackmore sugere que esta seria também uma possível
explicação do por que certos comportamentos bem educados e politicamente
corretos se espalham com tanta frequência. A questão é simples, do mesmo modo
que uma borboleta pode sobreviver só porque parece com uma outra borboleta
que é venenosa, tais comportamentos existem simplesmente porque parecem
altruístas, mesmo não sendo necessariamente este o caso:
Nós sorrimos muito para as pessoas, e sorrimos de volta para as pessoas que
sorriem primeiro para nós. Também dizemos frases educadas e gentis para elas:
“Como você vai?” “Espero que esteja tudo bem com os seus pais” “Divirta-se na
sua festa” “Como posso ajudá-lo?” “Tenha um bom dia” “Feliz ano novo”. Com
todos esses memes comuns, damos a impressão de nos importar com a pessoa com
quem falamos, mesmo quando esse não é realmente o caso. É por isso que esses são
memes vitoriosos. Nossa conversação quotidiana está cheia deles (Blackmore,
1999, p.165. Minha tradução).
Mais uma vez é preciso deixar nossas primeiras impressões de lado e
perceber que realmente somos constantemente bem educados, mesmo quando não
queremos, e somos assim porque deste modo parecemos nos importar com as
pessoas, mesmo quando não nos importamos. Fazemos isso porque de fato
queremos que as pessoas achem que nos preocupamos com elas. Queremos
parecer altruístas e amigáveis. Fingimos ser altruístas e amigáveis, pois assim
podemos usufruir dos benefícios que os altruístas ganham, dentre eles o benefício
de que nossos memes sejam levados em consideração pelas pessoas. Pessoas mal
188
educadas são menos capazes de transmitir seus memes, dentre eles os memes para
a má educação. Muitas pessoas são capazes de lembrar de um ou mais eventos
onde elas foram gentis quando não queriam ser, simplesmente porque estavam
interessadas em algo da outra pessoa. Este é um evento e uma explicação
cotidiana para a necessidade de ser gentil, no entanto outras explicações poderiam
ser dadas, por exemplo, a psicologia evolutiva poderia dizer que a gentileza
fortalece os laços sociais e que temos um módulo mental para isso. É claro que
esta seria uma outra just so story, mas só o fato de que existem duas explicações
diferentes já é o suficiente para perceber a necessidade de mais pesquisas.
Todos estes exemplos que nos parecem estranhos, também nos parecem
óbvios. Ao mesmo tempo que a memética pode ser vista como uma maneira
completamente nova de olhar para a cultura, suas análises muitas vezes parecem
ser tão simples que nos questionamos se é realmente preciso de uma teoria dos
memes para desenvolvê-las. A questão é que a memética nos mostra que existe
um aparato conceitual muito mais forte por detrás de algumas intuições cotidianas
sobre por que certos comportamentos são mais comuns do que outros. No final
das contas, a resposta sempre é que eles são mais comuns simplesmente porque
“gostamos” mais deles. A mesma “obviedade” pode ser achada em Darwin que,
em resumo, dizia que certas variações eram mais comuns simplesmente porque se
reproduziam
mais.
Do
mesmo
modo
que gostamos
mais
de
certos
comportamentos porque eles se adequam melhor ao nosso aparato cognitivo,
certas variedades de seres vivos se reproduzem mais porque se adaptam melhor ao
seu ambiente. É o mesmo problema, é a mesma resposta, é a mesma obviedade, e
mesmo assim demoramos milênios para finalmente descobrir o óbvio.
No entanto, assim como Gould percebeu corretamente que o darwinismo
pode cair em um adaptacionismo exagerado, criando narrativas históricas
inteligentes sem fundamento empírico nenhum, podemos detectar este mesmo
problema na memética. Existe um aparato conceitual, mas ainda lhe falta
desenvolver praticamente todo o seu fundamento empírico. Isso não significa que
as análises feitas por Blackmore estão erradas, somente que elas não são o
suficiente, não são científicas, isso ainda não é a memética33. É preciso muito
33
Como muito bem ressaltou Chateaubriand em uma conversa pessoal “a memética ou é uma
ciência ou não é nada!”. Se ela não tiver uma fundamentação empírica, uma estrutura matemática,
189
mais. São necessários estudos mais detalhados da cultura, é preciso se mostrar
melhor que as explicações concorrentes, é preciso fundamentar suas bases em
conhecimentos sobre a psicologia e o cérebro humano, é preciso descobrir como
memes passam, como são guardados e, principalmente, o que faz uma pessoa ser
“invadida” por um meme e não pelo outro. Do mesmo modo, Darwin não
apresentou só uma estrutura abstrata de sua teoria. Ele a fundamentou com
inúmeras análises empíricas!
David Hull nos dá um dos poucos exemplos mais consistentes de análise
memética, mas ainda com vários problemas. O trabalho dele foi analisar a disputa
existente na biologia entre cladistas e taxonomistas numéricos. Rapidamente
explicados, são duas escolas da biologia que fazem duas classificações diferentes
das espécies: os cladistas acreditam que a melhor classificação é a classificação
filogenética, já os taxonomistas numéricos utilizam vários caracteres fenotípicos e
análises numéricas para classificar os clados. Normalmente eles concordam na
classificação, mas existem divergências importantes (seção 1.10).
Hull fez sua análise pegando a principal revista do ramo, Systematic
Zoology, e analisando todos os pareceres de todos os artigos em um período de 7
anos. A idéia fundamental era que os memes do cladismo deveriam estar melhor
adaptados às mentes dos cladistas, e algo similar deveria acontecer com os
taxonomistas numéricos. Deste modo, sua pergunta foi: “será que pareceristas
cladistas tratam os artigos enviados por companheiros cladistas de forma mais
bondosa do que os artigos enviados por não-cladistas?” (Hull, 2000, p.62. Minha
tradução). O que ele precisava fazer era separar os pareceristas cladistas e ver se
artigos cladistas seriam mais aceitos por eles.
Inicialmente acharíamos que a resposta deveria ser obviamente sim. Não há
problema nenhum com isso, pois as primeiras tentativas de modelar o que quer
que seja tendem a iniciar com o óbvio. Mas para a surpresa de Hull ele não achou
correlação nenhuma. Mas o interessante foi que, anos depois, ele descobriu que
justamente durante o período de sete anos em que trabalhou esta questão, os
cladistas estavam se diferenciando entre cladistas transformados e cladistas
filogenéticos. Baseado nisso ele voltou aos seus dados, fez esta nova
diferenciação e viu que os resultados eram exatamente o esperado. Por isso ele
capacidade experimental e preditiva, ela simplesmente não interessa. A memética não surgiu para
ser só mais uma teoria interpretativa da cultura.
190
disse, baseado em Lakatos: “Transformei um aparente falsificador em uma
instância confirmadora, um dos indicadores mais fortes de que um programa de
pesquisa é progressivo” (Hull, 2000, p.62. Minha tradução).
É claro que Hull não respondeu o que torna o meme do cladismo mais
adaptado à mente do cladista, por exemplo. Nem respondeu como este processo
de seleção se dá na mente. A análise é claramente superficial e descobriu somente
que cladistas gostam do cladismo. Aos olhos de um leigo, que não conhece as
dificuldades de se modelar o óbvio, isso parece muito pouco. Mas uma
aproximação mais cautelosa nos mostra que se Hull tivesse, na época, acreditado
mais em seus dados, ele poderia ter notado a divisão dentro do grupo dos cladistas
antes mesmo dos próprios cladistas! Ele presenciou um momento do que poderia
ser chamado de “especiação memética” quando ninguém sabia bem o que estava
acontecendo e quando os dois diferentes grupos de cladistas ainda não tinham
entendido claramente as suas diferenças. Um resultado em nada irrelevante! E este
sim um experimento memético com mais base do que as análises de Blackmore.
4
Naturalizando o Comportamento e a Cultura
Desde o surgimento da teoria da evolução por seleção natural existem
tentativas de compreender a cultura através de um paradigma evolutivo. Para ser
mais exato, até mesmo antes da publicação da “Origem das Espécies”, e a
despeito dela, Herbert Spencer já falava de evolução da cultura e da sobrevivência
dos mais aptos. Com o passar das décadas, as tentativas de compreender o
comportamento e a cultura através da biologia, se multiplicaram. Com um
panorama tão diverso é muito comum que dois mal-entendidos aconteçam: podese confundir a memética com alguma destas abordagens ou pode-se achar que elas
são opostas ao programa memético. Curiosamente estas duas más compreensões
são claramente opostas, mas igualmente comuns. É de se esperar que neste caso
algo esteja errado, e de fato está.
Diversas são as áreas do conhecimento que são confundidas com a
memética. Abordar todas seria impossível. Na verdade, mesmo tratar apenas
algumas destas áreas de maneira profunda já seria fugir do tema do presente
trabalho. Deste modo, o que pretendemos aqui é bem mais simples: compreender
somente o suficiente para ser capaz de distinguir o que estas abordagens têm de
semelhante e, principalmente, de diferente em relação à memética. Ao fazermos
isso será possível distinguir a memética de todas estas áreas. Muitas vezes,
entretanto, serão encontrados pontos em comum que mostram que tais abordagens
não são excludentes e não devem ser consideradas como refutadas pela memética
ou possíveis refutadoras desta. Muito pelo contrário, algumas delas têm grande
potencial para trabalhar ao lado da memética em uma análise muito mais poderosa
da cultura e do comportamento humano.
Logo ficará claro que a maioria das abordagens tratadas tem quase todas a
mesma diferença em relação à memética, a saber, elas são formas de tratar a
cultura e o comportamento através dos genes. É justamente por isso que elas não
são opostas à memética, pois esta trata só da parte da cultura e do comportamento
que é ao menos largamente independente dos genes. E exatamente pelo mesmo
motivo elas podem ser consideradas como complementares à memética. Algumas
192
das áreas de maior relevância para este assunto são: a sociobiologia, a etologia, o
fenótipo estendido, a psicologia evolutiva, a co-evolução, a ecologia
comportamental, o efeito Baldwin, a evolução epigenética e o darwinismo social.
É claro que existem divergências não só entre elas, mas entre todas elas e a
memética. Geralmente esta divergência diz respeito a quanto do nosso
comportamento é geneticamente determinado. No entanto, tal questão não será
tratada aqui, pois como Pinker (2004) muito bem mostrou, esta é uma questão
empírica e deve ser tratada desta maneira. Ou seja, só com o futuro trabalho nestas
áreas será possível resolver esta questão.
Cada um destas áreas tem uma história e muitas vezes esta história foi
bastante conturbada. É impossível negar que a teoria da evolução, quando
aplicada sobre o ser humano e a cultura foi uma fonte de grandes monstruosidades
como o nazismo, racismo, sexismo e as mais diversas formas de segregação que
buscavam dar caráter científico aos preconceitos de então (cf. Gould, 2003). Isto
faz com que a memética ande hoje sobre um terreno minado repleto de medo e
receio que uma análise darwinista da cultura tente trazer de volta tal passado
hediondo.
Por este motivo é comum que toda nova tentativa de naturalizar a cultura
fuja de tais comparações tentando se distanciar o máximo possível de qualquer
idéia e conceito que pode ter sido ligado no passado a tais monstruosidades. Tal
tentativa é válida, pois as ciências humanas tiveram que enfrentar por décadas as
incursões do darwinismo dentro de sua área, de modo que qualquer nova incursão
pode ser considerada como uma volta dos antigos preconceitos, mesmo antes de
ser propriamente analisada. Mas infelizmente isto acaba criando dentro das
próprias ciências humanas um preconceito contra Darwin e a evolução por seleção
natural. A fuga de um preconceito nos leva a outro. Seria então mais saudável
para ambas as partes parar um pouco e tentar fazer uma análise mais ponderada do
que está se passando.
A memética tem relações com estas diversas áreas, além de fazer parte de
um conjunto maior que engloba todas elas e que poderia ser resumido como
“tentativas de levar o darwinismo para dentro do estudo do homem e da cultura”
ou simplesmente Darwinismo Universal. Neste sentido tudo é, de fato, “farinha do
mesmo saco”. Mas uma análise mais detida é capaz de encontrar grandes
diferenças entre todas estas diversas áreas, de modo que críticas que foram uma
193
vez feitas a uma delas não podem ser simplesmente reutilizadas para criticar a
outra. Deste modo, é necessário encontrar as semelhanças e as diferenças entre
estas abordagens e, principalmente, entre cada uma delas e a memética. Para que
façamos isso de maneira apropriada é importante que seja realizado sem medo, ou
seja, sem se preocupar com possíveis rótulos.
4.1
Etologia
Começaremos pela etologia que é o estudo comparativo do comportamento
animal. Embora a confusão entre etologia e memética seja rara, ainda assim
existe. Além disso, é preciso entender um pouco de etologia para compreender a
sociobiologia e o fenótipo estendido. A etologia pode ser confundida com a
memética porque estuda o comportamento animal. Pode-se dizer que ela surgiu
antes mesmo da noção de genes com os estudos de Darwin sobre as emoções nos
animais e sobre a seleção sexual. O que Darwin fez de revolucionário nesta área
foi mostrar que não só os organismos físicos podem ser estudados pela evolução,
mas também os comportamentos destes organismos foram selecionados e
evoluíram através do mesmo processo que seus corpos. Nas palavras de Darwin:
A hereditariedade da maioria de nossos movimentos expressivos explica por que os
nascidos cegos os exibem tão bem quanto os que têm visão, como me foi dito pelo
rev. R.H.Blair. Podemos assim também compreender por que jovens e velhos de
raças muito diferentes, tanto entre homens quanto entre os animais, expressam um
mesmo estado de espírito com os mesmos movimentos (Darwin, 2000, p.327)
No entanto, a etologia propriamente dita começou por volta dos anos 30 e se
originou, de maneira curiosa, da ornitologia, que é o estudo dos pássaros. Tais
pesquisadores têm o costume de observar longamente seus objetos de estudos e
durante estas observações começaram a descobrir que padrões comportamentais
também poderiam ser considerados como características das espécies. Nas
palavras de um dos criadores da etologia, Konrad Lorenz:
Sob estas circunstâncias, um microsistemata, na procura de caracteres comparáveis,
dificilmente deixará de notar que existem padrões comportamentais que
representam características tão confiáveis (e conservativas) de espécies, Gêneros e,
194
até mesmo, grupos taxonômicos maiores, quanto quaisquer características
morfológicas. Em sua nota científica ‘Über bestimmte Bewegungsweisen bei
Wirbeltieren” (1930), Heinroth demonstrou claramente que o conceito de
homologia é aplicável igualmente a padrões motores e características morfológicas.
(Lorenz, 1995, p.140)
A descoberta de que existiam homologias comportamentais foi o que Lorenz
chamou de “ponto arquimediano” da etologia. Homologia, como já vimos (seção
1.3.4), é a constatação que alguns caracteres semelhantes entre diferentes espécies
têm um ancestral comum. A grande descoberta foi que existiam homologias
comportamentais e, deste modo, elas podiam ser estudadas assim como qualquer
outro caractere animal. Darwin já havia mostrado isso, mas tinha ficado esquecido
(cf. Darwin, 2000, p.209). Estas homologias poderiam, inclusive, ser utilizadas
para descobrir parentesco entre espécies! Com o aprofundamento das pesquisas
nesta área, foram utilizados não só observações de campo, mas experimentos de
laboratórios que indicaram que ao menos parte do comportamento era
geneticamente determinado, como nos mostra Robert Trivers:
A criação de linhagens de ratos (ou cães) que diferem geneticamente uns dos outros
revela diferenças comportamentais quando o ambiente permanece constante. Os
cruzamentos entre espécies de pássaros que têm parentesco próximo, porém
apresentam comportamento distinto, produzem uma descendência que apresenta
uma mistura de comportamentos, sugerindo uma mistura de genes que atuam em
diversos loci. Há muitos exemplos disso. Tomados conjuntamente, eles sugerem
que os traços comportamentais não são diferentes dos outros traços, na medida em
que têm componentes genéticos (Trivers, 1985, p.98. Minha tradução).
Passa, então, a ser correto utilizar o chamado “método comparativo” aos
comportamentos animais. Deste modo a etologia traz o estudo do comportamento
para dentro da biologia e trata-o como um caractere como qualquer outro34. A
etologia também se interessou especificamente pelo comportamento social dos
animais e criou o que chamamos hoje de sociobiologia.
A diferença entre a etologia e a memética é bastante simples. Como vimos, a
etologia se preocupa especificamente com a parte do comportamento que é
geneticamente determinado. Só deste modo ele pode ser passado por gerações e
pode contar como um caractere biológico. Já a memética se preocupa
exclusivamente com o comportamento não-determinado geneticamente. Por este
motivo, em uma primeira leitura elas podem parecer até antagônicas. Mas este não
34
Lorenz costumava dar uma explicação da origem do comportamento como se fosse um sistema
hidráulico (cf. Lorenz, 1995, p.240);
195
é o caso. É claro que em determinados comportamentos existirão discussões sobre
se eles são determinados pela cultura ou pelos genes. Além disso, existem
comportamentos onde estes dois fatores atuam conjuntamente. Tirando estas
pequenas discussões, elas trabalham de forma paralela tratando de fenômenos
muito diferentes. São, na verdade, complementares na busca muito mais geral do
estudo do comportamento como um todo.
4.2
Fenótipo Estendido
Quando não foi o criador, Dawkins foi o popularizador de uma série de
conceitos relacionados com a biologia. Para citar apenas três dos mais famosos,
temos os memes, o gene egoísta e o fenótipo estendido. Ao contrário dos memes,
os outros dois conceitos tiveram livros específicos sobre eles escrito por Dawkins.
Todos os três estão de certa maneira ligados, mas não devem ser confundidos. A
idéia de gene egoísta foi o que originou a idéia de meme, pois nela Dawkins
estava defendendo que o objeto de seleção deveria ser o replicador. Já o fenótipo
estendido fala da relação entre estes genes e o ambiente.
Já vimos que o fenótipo é o efeito que o genótipo e o ambiente têm na
criação de um indivíduo e acabamos de ver que o comportamento de um
determinado animal pode ser considerado como parte deste fenótipo. Fica, então,
fácil compreender que o fenótipo estendido são os efeitos ambientais criados por
tais genes através de tais comportamentos. A idéia é bem simples: estruturas
materiais criadas por tais comportamentos contam também como parte do
fenótipo. Podemos dar inúmeros exemplos, como ninho de pássaros, teias de
aranha, represas de castores, etc. O fato de que a teia da aranha é produzida
diretamente pela aranha, mas o ninho e a represa não, é de pouca relevância. Até
porque para ser capaz de produzir sua teia a aranha deve ingerir nutrientes que não
são partes do seu próprio fenótipo. Ambas as construções precisam de algo
externo, sendo que a única diferença é como este algo será trabalhado.
Pode-se também questionar que a relação entre os genes e os fenótipos
estendidos é muito distante e indireta em comparação com os efeitos fenotípicos
196
“normais”. Mas este seria um outro erro. Segundo Dawkins, “até efeitos
fenotípicos ‘internos’ normais podem ser encontrados no final de cadeias causais
longas, ramificadas e indiretas” (Dawkins, 1999, p.198. Minha tradução). Como já
foi tratado no primeiro e no segundo capítulo do presente trabalho, dizer que um
gene é “para” algo significa somente dizer que dado o mesmo ambiente (não só
externo, mas em relação aos outros genes), se este gene for diferente ou ausente os
efeitos serão diferentes ou ausentes. Como é possível dizer exatamente isso sobre
o fenótipo estendido, então podemos falar de gene para teias, genes para
construção de ninhos etc., assim como podemos falar de genes para olhos azuis.
O mais interessante é que, por ser estendido, tal fenótipo pode se beneficiar
do comportamento de indivíduos diferentes, como no caso da construção de um
cupinzeiro. Neste caso, o cupinzeiro é o fenótipo estendido de vários genes
particulares em vários cupins diferentes. Nas palavras de Dawkins:
O princípio é o mesmo, tanto quando ocorre de as células estarem organizadas em
um único clone homogêneo, como é o caso do corpo humano, ou em uma coleção
heterogênea de clones, como em um cupinzeiro (Dawkins, 1999, p.201. Minha
tradução).
O fato de que genes cooperam para a construção de um fenótipo estendido
não é diferente do fato de que eles cooperam para a construção de um fenótipo
comum. Para que genes trabalhem juntos eles não precisam estar em um mesmo
indivíduo, na verdade, dado o conceito de gene egoísta, a própria idéia de
indivíduo é estranha aos genes. Em seu trabalho a única preocupação é a sua
própria replicação e os outros genes, mesmo aqueles com os quais eles trabalham
juntos, são só parte do ambiente para eles.
Dado o conceito de fenótipo estendido, temos uma interessante aplicação
dele. Acontece que os efeitos de um gene podem influenciar o fenótipo de um
outro indivíduo que não possui tal gene. Deste modo, um gene poderia ter um
efeito fenotípico em um indivíduo que não o possui. Um dos casos mais
conhecidos é o do vírus da raiva, que por passar da saliva para o sangue, faz o cão
ficar raivoso, aumentando assim a chance da sua passagem. Mas existem
exemplos muito mais surpreendentes, como de um parasita (Dicrocoelium
dendriticum) que infecta formigas e lesmas: para entrar no estomago de certos
animais, como ovelhas, onde se estabelecerá, este parasita infecta a formiga e faz
com que ela suba no alto da grama e fique lá parada. Ao contrário das outras
197
formigas que desceriam por causa do frio, esta fica lá parada e só desce por causa
do calor, pois este pode matá-la. Mas fica no alto da grama até ser comida por
alguém (cf. Dawkins, 1999, p.218). Temos, então, o gene de um parasita com um
efeito fenotípico no comportamento de uma formiga ou lesma. Um outro caso
interessante é citado por Dawkins:
Duas espécies de vermes acantocéfalos, o Polymorphus paradoxus e o P. marilis.
Ambos usam o “camarão” de água doce (trata-se, na verdade, de um anfípode),
Gammarus lacustris, como hospedeiro intermediário, e ambos usam os patos como
hospedeiros definitivo. O P. paradoxus, entretanto, especializou-se no mallard, que
é um pato nadador de superfície, enquanto que o P. marilis especializou-se nos
patos mergulhadores. Idealmente, portanto, o P. paradoxus se beneficiaria se
pudesse fazer seus camarões nadarem na superfície, onde pudessem ser comidos
pelos seus patos preferidos, enquanto que o P. marilis se beneficiaria se pudesse
fazer com que seus camarões evitassem a superfície (Dawkins, 1999, p.116. Minha
tradução).
Normalmente o Gammarus lacustris fica no fundo e evita luz. Mas quando
infectado pelo P. paradoxus, ele sobe para a superfície. E quando infectado pelo
P. marilis, ele continua no fundo, mas deixa de evitar a luz. Temos, então, o
mesmo indivíduo com três comportamentos diferentes: um quando ele não está
infectado e dois dependendo do parasita que o infecta. Nos dois últimos casos seu
comportamento beneficia o parasita e não ele mesmo.
Dadas as principais implicações do conceito de fenótipo estendido, é fácil
ver que ele não deve se confundir com o conceito de meme. Embora ambos
possam causar traços que serão chamados de culturais e possam manufaturar
produtos, o meme diz respeito à evolução puramente cultural, sem nenhum
“comando” dos genes. É claro que os genes têm um papel a interpretar, pois são
eles que produzem o principal ambiente dos memes. Mas o ambiente é aquilo ao
qual o meme deve se adaptar, e não o próprio meme. A confusão entre estes dois
conceitos normalmente se dá porque ambos foram criados por Dawkins, e também
porque os efeitos do fenótipo estendido podem ser muito distantes do gene que o
causa. Mas eles não são efeitos meméticos porque são efeitos genéticos como
qualquer outro. Nas palavras de Dawkins:
Os genes afetam as proteínas, e as proteínas afetam X que afetam Y que afetam Z
que... afetam o caráter fenotípico de interesse. Mas os geneticistas convencionais
definem de tal forma o “efeito fenotípico” que X, Y e Z precisam todos estar
confinados dentro de um muro corporal individual. O geneticista estendido
reconhece que esse corte é arbitrário, e está bastante satisfeito em permitir que seu
198
X, Y e Z saltem a brecha que existe entre os corpos individuais (Dawkins, 1999,
p.232. Minha tradução).
4.3
Sociobiologia
A sociobiologia pode ser considerada como uma parte específica da
etologia. Enquanto esta estuda o comportamento animal, aquela só se preocupa
com a parte do comportamento que diz respeito às diversas formas de interrelações entre os organismos. “A sociobiologia é definida como o estudo
sistemático das bases biológicas de todo comportamento social” (Wilson, 1975,
p.4). No que diz respeito aos animais ela é muito pouco controversa e
universalmente reconhecida como tendo grandes avanços. Foi de dentro destes
avanços que nasceu o conceito de “gene egoísta” como o próprio Dawkins
reconhece.
Os estudos mais conhecidos da sociobiologia provém das descobertas sobre
o altruísmo. Pois o “altruísmo verdadeiro”, ou seja, quando um organismo diminui
sua possibilidade de sobrevivência e reprodução em nome de algum outro
organismo não deveria existir dentro do panorama darwinista. Tal organismo
simplesmente não poderia ser selecionado, pois a própria definição de “seleção
natural” é ter um sucesso reprodutivo maior do que o da média da população. Mas
a existência do altruísmo é largamente aceita, existindo até castas estéreis em
alguns insetos da ordem Hymenoptera (formigas, vespas, abelhas, marimbondos)
e os cupins. Tal altruísmo chegou a ser considerado como um refutador do
Darwinismo. Posteriormente foi dada uma explicação baseada na seleção de
grupos ou na seleção de espécies. Esta questão já foi discutida na seção 1.12 onde
foi apresentado também a regra de Hamilton RB > C onde o custo (C) da ação
altruísta tem que ser menor do que o benefício (B) e a chance (R) de que o gene
responsável por praticar o benefício esteja no beneficiado. Neste caso, tal gene
beneficiaria cópias de si mesmo e se espalharia na população.
A ordem Hymenoptera tem mais de 100 espécies, todas haplodiplóides, mas
nem todas são sociais. Os machos são haplóides e as fêmeas são diplóides. No
caso de tais insetos com castas estéreis, por causa deste sistema reprodutor
199
diferente do nosso, as fêmeas destes insetos têm um parentesco maior com suas
irmãs (75%) do que com suas próprias filhas (50%), deste modo faz muito mais
sentido para os seus genes se elas ajudarem a dar origem às irmãs do que terem
filhos por conta própria (cf. Ruse, 1983, p.56).
A explicação do que deveria ser um refutador do darwinismo dentro da
própria ortodoxia darwinista foi, e é até hoje, considerado um dos grandes
sucessos da biologia. Dennett chega até a comentar um “triunfo” ainda maior
quando R. D. Alexander fez um exercício de pensamento do que seria necessário
para que tais castas estéreis existissem entre os mamíferos e foi informado por
Jennifer Jarvis que animais exatamente como ele descrevera de fato já existiam!
Eram ratos subterrâneos pelados e coprófagos (comem suas próprias fezes) que
tinham castas estéreis e todas as características que Alexander previra (cf.
Dennett, 1998, p.508).
O sucesso da sociobiologia só se aprofundou com a utilização da teoria dos
jogos, que Hamilton e, principalmente, Maynard-Smith (1973) introduziu na
biologia, ocasionando a descoberta das chamadas Estratégias Evolutivamente
Estáveis (EEE). Explicar o que é uma EEE, dada a sua extrema complexidade,
fugiria muito do presente trabalho. Uma definição mais simples dada por Dawkins
foi a seguinte: “Uma estratégia que obtém sucesso quando compete com cópias de
si mesma” (Dawkins, 1999, p.120. Minha tradução). A questão é que se uma
estratégia comportamental for boa ela será selecionada e, com a evolução, ela logo
estará cercada de cópias de si mesma e só prosseguirá existindo se for boa em
competir consigo mesma. Nas palavras de Ruse:
Isso significa uma situação em que se tem uma população com um certo número de
formas possíveis e onde, dada a proporção particular das formas realmente obtidas,
a seleção individual não favorece uma forma mais do que a outra. Em resumo, a
população se mostra equilibrada ou estável, já que não se espera que uma forma se
desenvolva às expensas de outras (Ruse, 1983, p.36) .
Assim, o estudo das EEE pode nos dar a proporção quantitativa das
diferentes estratégias comportamentais que garantirá tal estabilidade. Tais análises
permitiram estudar o comportamento social dos animais de maneira rigorosa,
estudando e analisando matematicamente vários comportamentos sociais como
conflitos, cooperação, compartilhamento de informação, estratégias sexuais etc.
200
O grande problema da sociobiologia foi quando a aplicaram aos seres
humanos. Assim que E. O. Wilson (1975) criou o termo, ele logo foi largamente
atacado por cientistas sociais, e alguns biólogos como Gould e Lewontin, que
viam em tais tentativas não só um reducionismo, mas um panglossianismo
inaceitável (cf. Gould, 1992, p.242). Alguns problemas levantados por eles
realmente são bem pertinentes. Sociobiólogos muitas vezes descobrem
características em animais pouco relacionados com o ser humano e acreditam que
isso possa indicar alguma coisa sobre o nosso comportamento. A existência de
“estupro” em patos selvagens da espécie Anas platyrhynchos, por exemplo, nos
mostraria que o estupro é algo natural (cf. Gould, 1997, p.518). Esta é uma
péssima linha de raciocínio, mas não cabe aqui uma crítica à sociobiologia, pois a
questão são suas relações com a memética.
Um típico exemplo de análise sociobiológica, que depois resultou no
surgimento da psicologia evolutiva, era o estudo de gêmeos monozigóticos que
foram separados ao nascer e nunca tiveram contato entre si. Como ambiente no
qual estes foram criados eram diferentes, mas seus genes eram os mesmos, então
suas similaridades deveriam ser de responsabilidade mais genética do que
ambiental. E foram descobertas similaridades impressionantes, por exemplo:
Suas famílias nunca haviam se correspondido e, no entanto, várias similaridades
foram imediatamente evidentes quando elas se encontraram no aeroporto pela
primeira vez. Ambos usavam bigodes e camisas de dois bolsos com ombreiras.
Ambos portavam óculos com armação de arame, e compartilhavam uma série de
idiossincrasias. Os gêmeos gostam de temperos fortes e bebidas doces, são
distraídos, dormem diante do televisor, acham que é engraçado espirrar em meio a
uma multidão de pessoas estranhas, dão a descarga do sanitário antes de usá-lo,
armazenam elásticos nos pulsos, lêem revistas de trás para frente, e mergulham a
torrada com manteiga no café (Trivers, 1985, p.100. Minha tradução).
Esta citação é ótima para mostrar exatamente o que muitos cientistas sociais
temem na sociobiologia: a especificidade das similaridades e o modo como tudo é
apresentado parece indicar que se está querendo comprovar a origem genética de
praticamente tudo no comportamento de um ser humano. Até as idiossincrasias
mais detalhadas. Mas é claro que, na verdade, ninguém propõe que existam genes
para “dar a descarga antes de usar o banheiro” ou “ler revistas de trás para frente”!
Embora tais semelhanças sejam surpreendentes, elas, por si só, não provam
absolutamente nada. O que é cientificamente relevante é que dado as comparações
entre um grande número de gêmeos criados separadamente e entre pessoas
201
distintas da mesma idade, escolhidas aleatoriamente, é muito mais comum
encontrar semelhanças comportamentais e psicológicas entre os primeiros do que
entre os segundos. Deste modo fica estatisticamente demonstrado que há sim uma
base genética para o comportamento humano. Qualquer coisa além disso deve ser
comprovado em futuras pesquisas muito mais detalhadas e mais difíceis de
realizar, e que talvez sejam até impossíveis, pois não é permitido fazer
experimentos com seres humanos e o número de gêmeos nesta situação é muito
pequeno para ser considerado como uma boa amostra estatística35.
Exemplos como este acabaram tendo um maior uso na psicologia evolutiva,
mas de qualquer modo eram casos assim que tentavam demonstrar a existência de
fatores genéticos no comportamento humano. A principal discussão era até que
ponto podia-se falar de predisposição genética. Como biólogos apaixonados pelo
seu campo, e impressionados pelos resultados da sociobiologia com animais,
Wilson, e também Lumsden, criaram a noção da cultura presa a uma coleira
(leash) comandada pelos genes e de fato exageraram em suas expectativas da
importância dos genes na cultura. Em suas palavras:
À medida que a cultura progride através da inovação e da introdução de idéias
novas e artefatos do exterior, é, de alguma maneira, constrangida e orientada pelos
genes (Lumsden & Wilson, 1981, p.73).
Grande parte do comportamento social humano é afetado pela hereditariedade e,
portanto, pode ser explicado mais prontamente pela biologia do que pelas
formulações usuais das ciências sociais (Lumsden & Wilson, 1987, p.50).
Quando é dito que eles exageraram não é porque estavam errados, mas
porque não tinham resultados empíricos suficientes para afirmar o que estavam
dizendo. Na verdade, embora o estudo da relação entre genes e comportamento
humano tenha se desenvolvido bastante desde então, ainda não há dados claros o
suficiente para afirmar o que eles afirmavam há mais de 20 anos atrás.
Os debates contra a sociobiologia chegaram perigosamente próximos da
agressão física e ela adquiriu tão má reputação que foi quase esquecida. Na
verdade, aulas e palestras de Wilson foram invadidas por manifestantes portando
35
Cabe aqui uma pequena ressalva, talvez tola, mas que nos diz muito sobre como se faz ciência:
estes mesmos experimentos poderiam ser utilizados para mostrar que a data e local de nascimento
influenciam o caráter, ou seja, que a astrologia está certa! Para refutar isso seria necessário um
outro experimento, comparando gêmeos monozigóticos e heterozigóticos que foram separados ao
nascer. É sempre importante lembrar que dados estatísticos podem ser interpretados de inúmeras
formas.
202
cartazes, ele foi chamado de racista, sexista, eugenista e chegaram até a despejar
um jarro de água sobre ele (cf. Pinker, 2004, p.160)36. Mais tarde, quando o calor
dos debates já tinha diminuído, Wilson resumiu sua idéia da seguinte maneira:
Os seres humanos herdam uma propensão a adquirir comportamento e estruturas
sociais, e essa propensão é tão compartilhada que permite sua qualificação como
natureza humana. Os traços definidores incluem a divisão do trabalho entre os
sexos, a proximidade de parentesco, evitar o incesto, outras formas de
comportamento ético, a desconfiança com relação a estranhos, tribalismo, ordens
de dominância dentro dos grupos, dominação masculina, agressão territorial como
reação a uma limitação de recursos. Embora as pessoas tenham livre arbítrio e
capacidade de escolha entre diversas direções, os canais de seu desenvolvimento
psicológico são, de todo modo, (...) talhados mais profundamente pelos genes em
certas direções do que em outras. Embora as culturas variem enormemente, elas
inevitavelmente convergem em direção a esses traços (Wilson, 1994, in: Laland &
Brown, 2002, p.88. Minha tradução).
Pode-se facilmente ver porque afirmações como estas foram vistas como
inaceitáveis por pessoas que já temiam o chamado, e inexistente, determinismo
genético e fugiam das implicações eugênicas a que o darwinismo tinha se
submetido. Uma leitura menos atenta de fato iria parecer que Wilson estava
defendendo o sexismo machista, bem como o racismo e outras aberrações
culturais. Mas este, com certeza, não era o caso. E até mesmo Dennett, um
defensor da sociobiologia, admite existirem excessos que infelizmente denegriram
a sociobiologia como um todo. Comparações entre comportamentos humanos e de
outros animais evolutivamente muito distantes, como insetos, foram usados para
justificar certos comportamentos de uma maneira que não faz nenhum sentido
biológico. A comparação de comportamentos só é evolutivamente significativa
quando eles têm uma origem genealógica comum, de outro modo pode ser uma
simples coincidência. Esta tentativa de buscar similaridades a todo custo criou
sérios problemas e ignorou o que o próprio Dennett considera como um sério
obstáculo à inferência sociobiológica. Em suas palavras:
mostrar que um tipo particular de comportamento humano é ubíquo ou quase
ubíquo, em culturas humanas muito distantes não adianta nada para mostrar que
existe uma predisposição genética para tal comportamento. Segundo o que sei, em
todas as culturas conhecidas por antropólogos, os caçadores atiram suas lanças com
a ponta para frente, mas isso obviamente não estabelece que exista um gene de
36
Infelizmente tratar desta questão fugiria muito do escopo deste capítulo. Mas é possível ver a
que ponto a ignorância chega! A melhor resposta para este debate em português ainda é Pinker,
2004.
203
ponta para frente que se aproxime da fixação em nossa espécie (Dennett, 1998,
p.511)37 .
Muitas são as críticas que podemos fazer à sociobiologia. Algumas, como
acabamos de ver, oriundas até de seus defensores. Mas a questão mais importante
aqui é se estas críticas são críticas também à memética. Depois do que foi
apresentado, fica claro que são duas abordagens completamente diferentes e,
embora possam ser complementares no estudo do comportamento humano,
chegam a ser opostas. O próprio Dawkins, outro grande defensor da sociobiologia,
nos diz:
Meus colegas sociobiólogos insistem em me censurar como vira-casaca, porque
não concordo com eles no que diz respeito à idéia de que o critério de sucesso de
um meme deve ser sua contribuição para uma adaptação Darwiniana. No fundo,
conforme insistem, um “bom meme” se espalha porque os cérebros são receptivos
com relação a ele, e a receptividade dos cérebros está, em última análise, formada
pela seleção natural (genética). O fato de que os animais imitam outros animais
deve ser explicado, em última instância, em termos de sua adaptação darwiniana
(Dawkins, 1999, p.110. Minha tradução).
A grande crítica feita contra a sociobiologia humana é justamente o fato
dela pressupor que o comportamento humano está como que amordaçado por um
coleira (leash) que é comandada pelos genes, mesmo se esta coleira for bem
longa. Mas a memética vem justamente para liberar a evolução cultural desta
coleira e tratá-la como uma evolução por conta própria.
4.4
Psicologia Evolutiva
Uma vez já apresentada a etologia e a sociobiologia fica fácil compreender o
que é a psicologia evolutiva, que poderia ser vista só como um novo enfoque da
sociobiologia. Leda Cosmides e John Tooby, que podem ser considerados a mãe e
o pai da psicologia evolucionária com o livro The Adapted Mind (1992),
acreditam que ela não deve muito à sociobiologia. Já Henry Plotkin pensa
37
Argumentos com base na ubiqüidade devem ser tratados com muito cuidado não só na biologia,
mas em outras áreas também como a filosofia da lógica e da matemática. O fato de que todo ser
conhecido soma “2+2=4” pode significar muito menos do que esperamos em termos de
universalidade da matemática.
204
diferente. De fato as duas abordagens são bem diversas, mas uma provavelmente
não teria existido sem a outra. O ponto arquimediano da psicologia evolutiva é a
constatação de que a mente humana só pode ter surgido pela evolução. Nas
palavras de Mithen:
O ponto de partida dessa argumentação é a mente ser uma estrutura funcional
complexa que não poderia ter surgido pelo acaso. Se estamos dispostos a ignorar a
possibilidade de uma intervenção divina, o único processo conhecido que pode ter
dado origem a tamanha complexidade é a evolução por seleção natural (Mithen,
2002, p.68).
Pinker define a psicologia evolutiva, ou evolucionária, como o “estudo da
história filogenética e das funções adaptativas da mente” (Pinker, 2004, p.81).
Darwin mesmo já falava que “as faculdades mentais são seguramente variáveis, e
as variações são hereditárias” (Darwin, 2002, p.702). Vemos já aí uma diferença
com a sociobiologia, pois esta não está interessada no comportamento
exclusivamente social. Na verdade, pode-se dizer que ela sequer está interessada
nos comportamentos e sim no mecanismo que produz tais comportamentos. Seu
princípio básico é uma explicação para a existência de comportamentos
contemporâneos que são mal-adaptativos, segundo eles tais comportamentos eram
adaptativos quando surgiram durante a evolução do homem, mais precisamente
durante o Pleistoceno (cerca de 2 milhões de anos), quando os homens eram
caçadores-coletores. Dada a rápida evolução do homem, e a mais rápida ainda
evolução cultural, ficamos com um cérebro que contém estruturas para tratar de
problemas antigos em um mundo moderno.
Uma das grandes propostas da psicologia evolutiva é a modularidade da
mente. Embora existam divergências de quão modular ela seja, e até mesmo
psicólogos evolutivos, como Mithen, que acreditam que esta modularidade foi
significativamente reduzida com a evolução do homem. Mas mesmo assim, a
modularidade permanece como um ponto central da psicologia evolutiva:
Cosmides e Tooby (1987) caracterizaram a diferença entre a visão padrão da
ciência social e sua própria perspectiva em termos de uma escolha entre dois
modelos da mente, um que enfatiza um número pequeno de processos de domínio
geral, e outro que sublinha um grande número de módulos de domínios específicos
(Laland & Brown, 2002, p.182. Minha tradução).
Dizer que a mente é modular significa dizer que ela trabalha como um
canivete-suíço, ou seja, que ela é formada de partes diferentes e especializadas
205
(domain-specific), cada parte com o intuito de achar uma solução eficiente e
rápida para um determinado problema que nossos ancestrais poderiam ter
encontrado (cf. Plotkin, 2004, p.142). Além de serem especializados e
informacionalmente fechados, tais módulos também seriam opacos, significando
que seus processos internos são fechados para a consciência, e não seriam
escolhidos pela pessoa, significando que ao se deparar com determinado tipo de
problema a pessoa não é capaz de escolher que módulo vai usar.
O oposto da mente modular seria uma mente tipo “esponja”, algo único
capaz de absorver tudo sem fazer distinções. É a idéia de uma mente única, mas
multi-uso, capaz de absorver o que quer que seja, é conhecida como
“aprendizagem”. Existem evidências que indicam que a mente não funciona
assim, podemos destacar, por exemplo, a rapidez de aprendizado de uma criança,
mesmo de conteúdos complexos, que dificilmente seria obtida dentro de um
processo baseado em algo tão neutro e vazio. Mas mais importante é o fato de que
é difícil compreender como uma mente tipo “esponja” poderia ter surgido na
evolução. Alguns exemplos de quais poderiam ser tais módulos mentais são dados
por Tooby e Cosmides:
Um para reconhecimento do rosto, um para as relações espaciais, um para a
mecânica de objetos rígidos, um para o uso de ferramentas, um para o medo,
um para as trocas sociais, um para emoção-percepção, um para a motivação
associada ao parentesco, um para a distribuição do esforço e recalibração,
um para o cuidado das crianças, um para as inferências sociais, um para a
amizade, um para a aquisição da gramática, um para a comunicação e
pragmática, um para a teoria da mente, e assim por diante! (Tooby &
Cosmides, 1992, p.113)
Uma objeção surge imediatamente, pois não percebemos nossa mente como
sendo modular e nem nos percebemos como presos a um número limitado de
ações possíveis. Ainda mais quando levamos em consideração que em um sistema
modular a informação não é facilmente passada de um módulo para o outro. No
entanto, existem momentos onde a modularidade é bastante evidente, por
exemplo, nas fobias. O medo de baratas, por exemplo, não pode ser superado
simplesmente com argumentos de que um ser humano é muito mais perigoso para
elas do que elas para um ser humano. Existe uma barreira que impede que
argumentos funcionem contra fobias, mesmo estando os dois pensamentos no
206
mesmo cérebro38. Um outro exemplo comum são as ilusões de óptica. Mesmo
sabendo que estamos vendo uma ilusão, não conseguimos deixar de vê-la. A
questão é que o fato do cérebro ser modular não significa que ele não possa
trabalhar em conjunto. Nas palavras de Pinker:
Os humanos comportam-se de maneira flexível porque são programados: suas
mentes são dotadas de software combinatório capaz de gerar um conjunto ilimitado
de pensamentos e comportamentos. O comportamento pode variar entre as culturas,
mas a estrutura dos programas mentais que geram o comportamento não precisa
variar (Pinker, 2004, p.67).
Talvez o mais interessante da psicologia evolutiva seja a sua capacidade de
criar experimentos que nos ajudam a compreender o funcionamento da mente
humana. Alguns dos experimentos mais intrigantes envolvem crianças, ou melhor,
bebês que nem mesmo são capazes de falar. Neste caso utiliza-se uma técnica que
se baseia na capacidade da criança de prestar atenção em algo. Tudo é baseado no
simples pressuposto de que a criança olha mais atentamente (por mais tempo) algo
que não lhe é familiar39. Com base nesta idéia pode-se descobrir que certos
conceitos da física e da matemática, que normalmente consideraríamos como
aprendidos, já fazem parte de conteúdos inatos dos bebês.
Alguns casos podem ser citados: Alan Leslie trabalhou com bebês de 6
meses de idade mostrando um filme onde uma bola em movimento atingia uma
bola parada e fazia esta bola se mover. Um caso de ação e reação perfeitamente
comum e que não chamou muito a atenção dos bebês. Mas se a segunda bola
parasse antes de atingir a bola que estava imóvel e esta, ainda assim, demonstrasse
o mesmo movimento de antes (um tipo de ação à distância) os bebês
demonstravam um alto nível de interesse (cf. Plotkin, 2004, p.132). Renée
Baillargeon fez uma pesquisa com bebês de até 18 semanas que se mostraram
surpresos com eventos fisicamente impossíveis como a remoção de um bloco
inferior que deixa o bloco superior flutuando no ar (cf. Plotkin, 2004, p.133).
Karen Wynn desenvolveu experimentos sobre a matemática, com o mesmo
resultado, mostrando que bebês com apenas cinco meses de idade já tinham uma
certa competência numérica:
38
No entanto, de algum modo a psicologia comportamental-cognitiva busca quebrar esta barreira
com racionalizações das fobias, ansiedades e depressões.
39
É claro que tal pressuposto não foi simplesmente inventado e sim testado!
207
Esperavam que a adição de um objeto a outro resultaria em um objeto, e não em um
ou três, e que um objeto, retirado de dois, resultaria em um objeto, e não em dois,
ou em nenhum (Plotkin, 2004, p.133. Minha tradução)40 .
Por ser irrazoável supor que tais bebês já teriam aprendido propriedades
físicas e matemáticas, a conclusão dos psicólogos evolutivos é da existência de
um módulo mental para uma física básica e outro para uma matemática básica.
Sendo que os experimentos servem mesmo é para descobrir quais exatamente
seriam os conteúdos de tais módulos. É claro que a existência de tamanha
modularidade é criticada, às vezes por psicólogos evolutivos também (cf. Mithen,
2002), mas tal questão não é relevante aqui.
Outros supostos módulos foram descobertos: crianças de 3 anos já atribuem
estados mentais a outros, no que foi chamado de “teoria da mente”, demonstrando
uma psicologia intuitiva. Tal é a base da capacidade de mentir, pois só depois de
saber diferenciar entre o que “eu” estou pensando e o que “o outro” está pensando
é que podemos conceber a possibilidade de mentir. Esta capacidade foi chamada
de “teoria da inteligência maquiavélica”. Em poucas palavras, diz que o
desenvolvimento do cérebro se deu por causa do desenvolvimento de habilidades
sociais, dentre elas a de mentir, enganar e manipular os outros. Tal nova
habilidade precisava da teoria da mente para ser capaz de saber que o que passa
em minha mente pode não passar na mente de outros. Blackmore nos diz,
inclusive, que existe uma conexão entre tal habilidade e a nossa gigantesca
capacidade de imitação, pois para mentir precisamos ser capazes de pensar a partir
do ponto de vista do outro (cf. Blackmore, 1999, p.76).
Além disso, crianças na mesma idade já têm uma biologia intuitiva também,
sendo capazes de atribuir uma espécie de “essência” para seres vivos, pois
entendem que mudanças na aparência não são mudanças na “essência”: um cavalo
com pijama listrado, por exemplo, não é uma zebra, e um cachorro mudo e só com
três pernas ainda é um cachorro (cf. Mithen, 2002, p.81).
Um dos experimentos mais conhecidos foi desenvolvido por Peter Wason
(1969), e depois melhorado por Leda Cosmides. Wason queria discutir até que
ponto somos lógicos, na verdade, queria saber se pensamos da maneira aprovada
40
Curiosamente experimentos praticamente idênticos a estes, e com o mesmo resultado, foram
realizado com cães.
208
por Popper (cf. Plotkin, 2004, p.139)41. Eram mostradas para estudantes
universitários somente uma face de cada carta, de um conjunto de quatro cartas,
cada uma contendo uma letra em uma face e um número na outra. Em seguida,
estabelecia-se uma regra e as pessoas tinham que, através da lógica, saber quais
cartas, no mínimo, deveriam ser viradas para confirmar esta regra. Uma regra
poderia ser a seguinte “se a carta tem uma vogal em um lado, então tem um
número par no outro”. Dennett nos dá um exemplo de outra regra. Ele sugere as
cartas com as seguintes faces apresentadas “D, F, 3, 7” e a seguinte regra “se uma
carta tem ‘D’ em uma das faces, ela tem um ‘3’ na outra” (Dennett, 1998, p.513).
A questão é a seguinte: quais cartas é preciso virar de modo que seja virado um
número mínimo de cartas? Surpreendentemente menos da metade dos alunos
universitários, alguns versados em lógica, acertou o desafio. Em alguns casos,
menos de um quarto acertou (cf. Laland & Brown, 2002, p.166).
No entanto, o mais surpreendente não está aí, se fossem dados a esses
mesmos alunos exatamente o mesmo teste, com a mesma estrutura lógica, mas
com os seguintes textos escritos nas faces das cartas “bebendo cerveja, bebendo
refrigerante, 25 anos, 16 anos”. Sendo que foi colocado a idade em uma face e o
que o indivíduo estava bebendo na outra. Neste caso seria feita a seguinte
pergunta: que carta deve ser virada para descobrir se alguém com menos de 21
está bebendo?
Desta vez a resposta parece bastante óbvia para todos e cerca de 75%
acertaram42. Em ambos os casos a resposta é a primeira e a última carta. Ambos
os testes seguem o mesmo raciocínio, com a mesma estrutura e mesma resposta.
A diferença é só o que está escrito na carta, nada mais. Mas, mesmo aqueles que
acertaram ambas, demoraram muito mais para acertar a primeira do que a última.
Isto continuou sendo verdade mesmo depois que Cosmides adicionou alguns
outros experimentos de controle para impedir explicações alternativas do tipo
“pessoas se saem melhor em contextos mais familiares que elas encontram no diaa-dia”.
O que a psicologia evolutiva procura ver com isso é que “os raciocínios
humanos mudam, dependendo do assunto a respeito do qual estão raciocinando”
(Laland & Brown, 2002, p.168. Minha tradução). Ou seja, mais uma evidência de
41
42
Um exemplo curioso de filosofia naturalizada!
Você acertou? Quanto tempo levou para acertar cada uma delas?
209
módulos mentais. É bastante improvável que existissem módulos mentais para
resolver problemas lógicos como o mencionado, problemas de lógica abstrata não
faziam parte de nosso ambiente selecionador. Mas problemas sociais,
especificamente problemas que dizem respeito a descobrir quem está trapaceando,
devem ter sido bastante comuns. Mesmo que ambos os problemas tenham a
mesma estrutura lógica, nós só desenvolvemos módulos mentais para resolver
aqueles que de fato surgiram43.
Para utilizar um problema que poderia ter sido enfrentado por um ancestral
nosso, poderíamos pensar nas seguintes cartas “comendo a caça, não comendo a
caça, tem sangue nas mãos, não tem sangue nas mãos” e um caçador com a
seguinte questão para resolver “só deve comer a caça quem tem sangue nas mãos
(só estes participaram da caçada)”. Fica imediatamente claro que ele deve ver se o
primeiro tem “sangue nas mãos” e se o último está “comendo a caça” para
resolver seu problema.
Existem muitas críticas que foram dirigidas à psicologia evolutiva. Dentre
elas podemos citar que suas análises são normalmente baseadas em questionários
de múltipla escolha, que deveriam indicar quais tipos de comportamento são mais
comuns. Além disso, o estudo dos caçadores-coletores ainda existentes podem não
refletir o ambiente ao qual os nossos antepassados tiveram que se adaptar. Há
também a questão de que nem todos os nossos processos cerebrais inatos surgiram
durante o Pleistoceno, alguns, como o sistema emotivo, parecem ser bem mais
antigos. Veremos também, neste mesmo capítulo, quando tratarmos da coevolução (seção 4.9), que o homem sofreu mudanças evolutivas após o
Pleistoceno. Isso significa que poderiam também ter ocorrido mudanças em tais
módulos. No entanto, não visamos aqui defender ou criticar a psicologia
evolutiva, apenas ressaltar as suas semelhanças e diferenças com a memética.
Não é nada difícil perceber que a diferença entre a psicologia evolutiva e a
memética é exatamente a mesma das anteriores, ou seja, a psicologia evolutiva
busca o fundamento biológico/genético do comportamento. Na verdade, ela
procura a explicação adaptacionista de por que certas estruturas mentais maladaptativas ainda existem hoje. No entanto, talvez mais do que as propostas
apresentadas anteriormente, a psicologia evolutiva poderia tratar diretamente das
43
Deste ponto de vista, nossas habilidades lógicas dependem justamente destes módulos. São
“exaptações” deles, utilização de uma estrutura antiga para uma função nova.
210
bases que são o ambiente no qual um meme deve ser selecionado, pois pesquisa as
estruturas da mente humana. Neste sentido psicologia evolutiva e memética se
auxiliam.
4.5
Ecologia Comportamental
A ecologia comportamental (behavioral ecology) não é tão conhecida
quanto as outras abordagens apresentadas aqui. Talvez isso se dê por esta ser mais
técnica, utilizando modelos matemáticos. Mas o mais provável é que o fato dela
ser mais técnica a faz menos propensa a grandes elucubrações teóricas, o que a
torna quase imune em relação aos críticos da naturalização do comportamento.
A metodologia da ecologia comportamental é bem direta: eles têm como
principal pressuposto que a seleção vai sempre priorizar os comportamentos que
maximizam os ganhos adaptativos, ou seja, onde se tem mais benefícios pelo
menor custo. Sendo que o principal benefício quando se fala de evolução por
seleção natural não é nada mais do que um maior número de descendentes. Com
este pressuposto, eles criam modelos e comparam as predições destes modelos
com comportamentos reais cuidadosamente observados na natureza. É claro que
nem todo modelo tem que predizer um número de filhotes no final, pode-se
assumir, por exemplo, que fugir de um predador com um menor custo calórico, ou
adquirir o maior número de calorias com o menor gasto clórico, será
adaptativamente ótimo, pois de um modo ou de outro possibilitará um maior
número de descendentes. Plotkin nos dá um exemplo de um estudo feito com
corvos que se alimentam largando do ar caramujos para quebrar suas conchas na
pedra:
Os custos, medidos em termos da energia necessária para voar até uma altura
específica, e o número de vezes que é necessário deixar cair um caramujo até que
ele se quebre, podem ser trocados pelos benefícios, o valor calórico de cada
caramujo. A observação do próprio comportamento, da altura desde a qual os
caramujos são atirados, e a freqüência média em que isso precisa ser feito quando
são largados de alturas diferentes, pode ser comparada com as predições de um
modelo simples que compute qual é o comportamento ótimo que resulta nos
maiores benefícios com o menor custo (Plotkin, 2004, p.119. Minha tradução).
211
Caso o modelo não se ajuste muito bem, dentro de uma determinada
margem de erro, então ele é refeito. Talvez o mais interessante da ecologia
comportamental seja justamente quando ela dá errado. Estes casos onde o modelo
é muito diferente do esperado normalmente se dão porque o pesquisador ignorou
alguma variável, ou não lhe deu a devida importância. Deste modo, acaba-se
descobrindo
que
certas
causas
que
pareciam
ser
irrelevantes
são
surpreendentemente importantes.
A ecologia comportamental se preocupa principalmente com as pressões
evolutivas e com as estratégias adaptativas para sobreviver e ter um maior número
de descendentes. Neste caso, ela estuda o ser humano praticamente da mesma
maneira que estudaria qualquer animal. Nas palavras de Laland & Brown:
O objetivo principal da ecologia comportamental de seres humanos é explicar a
variação do comportamento humano através da pergunta de se os modelos ótimos e
de maximização de adaptação oferecem boas explicações para as diferenças
encontradas entre os indivíduos (Laland & Brown, 2002, p.112. Minha tradução).
Isso significa que a principal preocupação dela são só as estratégias
adaptativas e ela se questiona se os diferentes comportamentos individuais não
poderiam ser diferentes estratégias adaptativas, ou seja, diferentes modos de
garantir uma reprodutibilidade biológica maior. Aqui aparece a grande diferença
com a psicologia evolutiva, pois para a ecologia comportamental não interessa os
detalhes psicológicos de como certos comportamentos são criados, mas só se tal
comportamento existe pelo fato de ser adaptativo àquele ambiente. Neste sentido
ela estuda desde questões como se os indivíduos se alimentam de maneira ótima
(ganhando o maior número possível de calorias por hora) até a evolução da
menopausa (diminuindo o risco de problemas na gravidez, mas ainda permitindo o
cuidado de filhos e netos)44. Muitos outros exemplos de estudos que comparam
custos e benefícios poderiam ser dados. Estuda-se, por exemplo, em que
condições um determinado indivíduo deve tentar se reproduzir e em que
condições é melhor ajudar parentes a se reproduzir; em que condições é melhor
buscar outras tentativas de reproduzir e em que condições é melhor cuidar da
prole que já se tem; deve-se investir na qualidade ou na quantidade de
44
Aqui é bom lembrar que nem todos os animais têm um período de menopausa. Alguns morrem
depois de se reproduzir, outros têm uma expectativa de vida menor do que a sua possibilidade de
se reproduzir. Por isso a menopausa pode sim ter uma explicação adaptacionista.
212
descendentes; qual o tamanho ideal para grupos sociais de modo a aumentar a
possibilidade de caça sem ter que dividir muito a presa.
Modelos como estes nos ajudaram, por exemplo, a compreender porque
muitas aves colocam um número bem menor de ovos do que elas poderiam
colocar. Um raciocínio rápido nos diria que é evolutivamente melhor colocar o
maior número de ovos possível para garantir o máximo de descendentes. No
entanto, modelos da ecologia comportamental mostraram que colocar muitos ovos
exige muito esforço no cuidado com os filhotes, dentre outras desvantagens, e
que, no final, um número menor de ovos é que garante um maior número de
descentes vivos(cf. Laland & Brown, 2002, p.118).
Uma das principais críticas a esta abordagem, crítica que deu origem à
psicologia evolutiva, é o fato de que nem todos os comportamentos serão
adaptativamente ótimos. Vimos no início deste trabalho que na natureza é comum
estruturas físicas que não têm muita utilidade, simplesmente porque são resquícios
de uma outra época (seção 1.3.4 e capítulo 2). O mesmo poderia acontecer com os
comportamentos. Exatamente por isso que a psicologia evolutiva nos diz que
muito de nossos comportamentos são mal-adaptativos porque foram selecionados
para o ser humano pré-histórico. No entanto, a seleção vai sempre favorecer
adaptações ótimas e por isso assumir tal adaptação é, no geral, mais seguro.
A questão, no final das contas, parece ser esta: se o comportamento
observado não for igual a adaptação ótima prevista pelo modelo, deve-se
modificar o modelo até descobrir no que aquele comportamento é ótimo ou devese descobrir que tal comportamento não é ótimo? A ecologia comportamental e a
psicologia evolutiva dão respostas diversas. Mas ambas não fogem da estrutura
conceitual maior que é explicar o comportamento através de benefícios para os
genes. No caso da ecologia comportamental ela trata do benefício para os genes
atuais, ou seja, que estão em funcionamento nos seres vivos do presente, e a
psicologia evolutiva trata dos genes do Pleistoceno, ou seja, que estavam nos
“seres humanos” daquela época. De um modo ou de outro, ambas não podem ser
confundidas com a memética que trata do benefício adaptativo dos memes e não
dos genes. Mas a capacidade impressionante de criar modelos evolutivos ótimos
que foi desenvolvida pela ecologia comportamental pode um dia ser usada para
estudar modelos ótimos de evolução cultural.
213
Além disso, estritamente falando, a ecologia comportamental não se importa
muito se a adaptação ótima atual diz respeito aos genes ou à cultura. “Se o
comportamento é adaptativo, então pode ser previsto por modelos formais”
(Laland & Brown, 2002, p.136). Isto fez com que alguns pesquisadores desta área
se voltassem para os trabalhos que visam o papel da aprendizagem, da imitação e
da cultura na adaptabilidade de um animal. E alguns, como Lee Alan Dugatkin,
começaram a questionar o papel da memética na adaptação de certos animais (cf.
Dugatkin, 2000, p.128). Dugatkin estuda através deste método o comportamento
sexual dos Guppies, um pequeno peixe colorido e muito comum, por se reproduzir
facilmente. Dugatkin fez experimentos muito cuidadosos, rigorosamente
controlados e descobriu que mesmo em animais tão pequenos existe um
importante papel para a imitação no comportamento reprodutivo deles. Na
verdade, Dugatkin fez os primeiros experimentos rigorosos que se tem notícia
para testar a inter-relação entre transmissão genética e cultural! Em seus
experimentos com guppies as fêmeas normalmente têm uma preferência sexual já
geneticamente determinada para machos de uma certa cor, mas se elas forem
capazes de ver outra fêmea escolhendo um macho que varia em cerca de 25% da
cor que elas escolheriam, seu comportamento geneticamente determinado é
suplantado em favor da imitação do comportamento da outra fêmea. Em suas
próprias palavras:
A predisposição genética da fêmea a estava “empurrando” em direção ao macho
mais alaranjado, mas as sugestões sociais e o potencial de copiar a escolha dos
outros a estavam puxando na direção exatamente oposta: em direção ao macho
mais pardo. Nos casos em que os machos diferem apenas em pequenas quantidades
de cor laranja, as fêmeas consistentemente escolhem os machos menos alaranjados.
Em outras palavras, elas copiavam a escolha de uma fêmea colocada perto de um
macho desse tipo (Dugatkin, 2000, p.24-25. Minha tradução).
Talvez o mais interessante destes modelos seja um ponto extremamente
crucial para a memética, e que Dugatkin reconhece: o fato que a força da imitação
e da cultura pode ser tão grande que é capaz até de direcionar um determinado
comportamento de um modo claramente não-adaptativo para os genes. Ele
comenta um experimento feito por Kevin Laland e Kery Williams, também com
guppies: eram dados dois caminhos para os guppies chegarem a uma fonte de
comida, um curto e um longo. Consistentemente eles aprendiam a pegar o
caminho curto. Depois, outros grupos de guppies eram treinados, um para pegar o
214
caminho longo e outro para o caminho curto. Tais grupos, então, eram
substituídos um a um por indivíduos não treinados. Começava-se com cinco
indivíduos treinados, depois quatro treinados e um não treinado, e ia assim até só
ter indivíduos que não foram treinados. A descoberta foi que mesmo aquele grupo
de indivíduos em que nenhum tinha sido treinado pelo experimentador, mas que
tinha tido contato com o grupo que foi treinado para percorrer o caminho longo,
ainda percorria o mesmo caminho, mesmo podendo agora escolher o caminho
curto (cf. Dugatkin, 2000, p.189). Ou seja, uma transmissão de comportamento
não genética foi capaz de produzir um comportamento que não era o
geneticamente determinado e também não era adaptativo. Isso pode parecer pouco
aos olhos de um leigo, mas é aos poucos que a ciência avança e esta foi uma das
primeiras tentativas de se fazer um experimento rigoroso onde a transmissão
cultural segue em direção claramente oposta da transmissão genética. Em outras
palavras, foi a primeira prova experimental rigorosamente controlada do poder da
transmissão cultural! Um feito digno de nota.
Fica claro, então, que embora a ecologia comportamental não seja memética,
ela tem muito a oferecer a esta nova área e, na verdade, já está realizando
experimentos que, no futuro, poderão ser considerados como os primeiros
experimentos da memética.
4.6
Efeito Baldwin
O chamado efeito Baldwin, ou fator Baldwin, foi publicado por James Mark
Baldwin em 189645, numa época onde não se conhecia o conceito de gene e o
Lamarckismo ainda era bem aceito. Baldwin queria achar um lugar para a
inteligência e a capacidade de aprender na evolução das espécies, mas sem fugir
do darwinismo e cair no lamarckismo. Na verdade, “Baldwin (...) foi mais claro
do que o próprio Darwin em seu compromisso com uma abordagem nãolamarckista da evolução” (Downes, in: Depew & Weber, 2003, p.35. Minha
45
No mesmo ano, praticamente a mesma idéia foi publicada, de modo independente, por Conwy
Lloyd Morgan e H. F. Osborn. (cf. Dennett, 1998, 80). Um outro bom exemplo de como é difícil
distinguir cópia de convergência quando se trabalha em níveis abstratos.
215
tradução). Para isso ele apresentou o que chamou de “um novo fator na evolução”
que seria uma forma de “imitar” o lamarckismo sem fugir do darwinismo. Tal
fator novo é muito bem sintetizado por um de seus críticos, Godfrey-Smith:
Suponhamos que uma população encontre novas condições ambientais, nas quais
suas velhas estratégias comportamentais sejam inapropriadas. Se alguns membros
da população são plásticos no que diz respeito ao seu programa comportamental, e
podem, no curso de sua vida, incluir no seu programa comportamental novas
habilidades adequadas ao seu ambiente, tais indivíduos plásticos sobreviverão e
reproduzirão às custas dos indivíduos menos flexíveis. A população, então, terá a
chance de produzir mutações que façam com que os organismos exibam perfis de
comportamento ótimos que dispensem o aprendizado. A seleção favorecerá esses
mutantes e, com o tempo, os comportamentos que, outrora, tinham que ser
aprendidos, serão, agora, inatos (Godfrey-Smith, in: Depew & Weber, 2003, p.54.
Minha tradução).
Embora a idéia pareça ser bastante correta, há muitas controvérsias ao redor
dela e muitas explicações diferentes do que ela significa e para que ela serve. Uma
análise comum do efeito Baldwin é que ele cria um tipo de “espaço para respirar”
onde uma determinada espécie tem um tempo para sofrer mudanças genéticas.
Nas palavras do próprio Baldwin:
Nos animais, as transmissões sociais parecem ser úteis principalmente no sentido
de permitir que os instintos de uma espécie se voltem lentamente em uma direção
específica, mantendo afastada a operação da seleção natural. A Hereditariedade
Social é, então, um fator menor (Baldwin, 1896, p.540. Minha tradução).
Um exemplo talvez seja útil para deixar claro o que seria tal “espaço para
respirar”: imagine que o ambiente de um determinado esquilo foi de tal modo
modificado que seu principal alimento se tornou raro. Nesta situação o esperado é
que esta espécie se extinga. Mas pode acontecer que estes esquilos tenham um
fenótipo relevantemente plástico, ou seja, que tenham uma capacidade de
apreender
novos
comportamentos
que
vão
além
dos
comportamentos
geneticamente determinados. Neste caso, pode ser que um esquilo consiga
descobrir como abrir uma outra semente que servirá para a sua alimentação. Neste
ponto algumas interpretações divergem. Pode-se falar da habilidade dos outros
esquilos em imitá-lo, mas pode-se falar também que outros esquilos
geneticamente mais semelhantes a este terão uma maior chance de descobrir o
mesmo truque. De ambos os modos, os esquilos capazes de obter esta nova fonte
de alimento sobreviverão e existirá, agora, um espaço de tempo onde é possível
que esta capacidade de abrir a nova noz deixe de ser aprendida (ou inventada, ou
216
imitada) e passe a ser geneticamente determinada através dos meios comuns da
evolução por seleção natural.
Dennett utiliza tal possibilidade para explicar um possível avanço mais
rápido na evolução como o que teria ocorrido com o desenvolvimento do cérebro
humano e o surgimento da linguagem (seção 5.4). Já Deacon, um outro grande
defensor do efeito Baldwin, trata esta questão como uma questão de construção de
nicho. Em suas palavras:
O emprego extensivo da comunicação simbólica teria constituído algo análogo a
um nicho novo impondo novas pressões de seleção sobre a cognição e o sistema
vocal humanos (Deacon, in: Depew & Weber, 2003, p.90. Minha tradução).
A teoria da construção de nicho nos diz que os descendentes de certas
espécies herdam não só os seus genes, mas também o seu nicho. Ou seja, alguns
animais modificam o ambiente onde vivem e este novo ambiente será o ambiente
de seus descendentes que agora sofrerão com as novas pressões seletivas deste
novo ambiente. No caso do esquilo podemos imaginar que o uso de uma noz
diferente para a alimentação pode, por exemplo, influenciar no surgimento de uma
nova enzima digestiva ou de dentes mais fortes etc. Estes novos caracteres não
teriam surgido se não fosse a pressão seletiva causada pelo novo ambiente, ou
melhor, o novo alimento.
Muitas questões foram levantadas por Baldwin. Alguns o acusaram de
lamarckismo, mas hoje é largamente aceito que seu efeito é perfeitamente
darwinista, só restando mesmo a discussão se ele traz algo de novo para a
evolução ou se é simplesmente trivial. Tal discussão já é antiga e colocou em
oposição alguns grandes nomes da biologia. Simpson, por exemplo, disse:
Se o efeito Baldwin ocorre, pode ou não haver conexão causal entre uma
acomodação individual [traço adaptativo adquirido] e alterações genéticas
subseqüentes na população. Se tal conexão não ocorre, então a alteração
verdadeiramente genética tem que ocorrer inteiramente por mutação, reprodução e
seleção natural, e a acomodação pode ser irrelevante. Se há alguma conexão causal,
o argumento neo-lamarckista é tão suportado quanto é suplantado (Simpson, 1953,
in: Depew & Weber, 2003, p.65. Minha tradução).
Junto com Simpson, Mayr e Dobzhansky também afirmaram que tal efeito
ou era irrelevante, no sentido de que era tipicamente darwinista e não trazia nada
de novo, ou era puramente lamarckista. Mayr, na verdade, não acreditava que
existiriam pressões seletivas para tornar inato algo que era resolvido pela
217
flexibilidade do fenótipo (cf. Depew & Weber, 2003, p.17). Já John MaynardSmith tinha uma outra posição:
Se os indivíduos variam geneticamente em sua capacidade de aprender, ou de se
adaptar através do desenvolvimento, então aqueles que são mais capazes de
adaptar-se deixarão uma quantidade maior de descendentes, e os genes
responsáveis por tal traço aumentarão em freqüência. Em um ambiente fixo,
quando a melhor coisa a aprender permanece constante, isso pode levar à
determinação genética de um caractere que, em gerações anteriores, tinha que ser
adquirido novamente em cada geração (Maynard-Smith, 1996, in: Depew &
Weber, 2003, p.38. Minha tradução).
O mesmo pode-se dizer de Dennett, e Deacon, seus principais defensores.
Curiosamente Darwin pensou em algo semelhante, embora diferente em alguns
pontos importantes:
Se algum indivíduo de uma tribo, mais sagaz do que os outros, inventou uma nova
armadilha ou arma, ou qualquer outro meio de ataque ou de defesa, o mais óbvio
interesse pessoal, sem necessidade de demasiada capacidade de raciocínio, poderia
levar os outros membros a imitá-lo e disto todos se aproveitariam. A prática
habitual de toda nova técnica numa certa medida pode igualmente revigorar o
intelecto. Se uma nova invenção é importante, a tribo se desenvolverá em número,
estender-se-á e suplantará as outras. Numa tribo que se tornou mais numerosa por
este processo, sempre existem possibilidades um tanto quanto maiores de que
nasçam outros membros superiores ou com capacidades inventivas. Se estes
homens deixam filhos que herdam a sua superioridade mental, a possibilidade que
nasça um número ainda maior de membros de engenho seria um tanto melhor e,
numa tribo pequena, seria decisivamente melhor (Darwin, 2002, p.156).
Existe uma leitura lamarckista que se pode fazer desta citação de modo que
um maior uso do intelecto implique no nascimento de indivíduos com
“superioridade mental”. No entanto, a leitura correta parece ser a seguinte: um
avanço cultural permitirá um maior número de indivíduos que, por sua vez,
aumentará a probabilidade de que um indivíduo mais “sagaz” nasça e sobreviva
por pura seleção natural de mutações aleatórias. Neste caso, a proposta de Darwin
é muito semelhante à de Baldwin e poderíamos então começar a falar do “efeito
Darwin”.
De qualquer modo, podemos ver que há sim uma ligação entre o efeito
Baldwin e a memética, pois ambos predizem que uma melhora, que poderia ser
chamada de cultural, pode criar o ambiente (construção de nicho) onde uma
melhora genética tem chance de surgir e, mais importante, ser selecionada. Esta
seria uma possível base para a co-evolução gene-meme que é uma das explicações
para o rápido aumento do cérebro humano, como veremos na seção 5.4. Além
218
disso, Baldwin de fato chega a comentar sobre uma hereditariedade “extraorgânica” dizendo que “as ações socialmente adquiridas de uma espécie,
especialmente do homem, são socialmente transmitidas, o que resulta numa
espécie de ‘hereditariedade social’ que suplementa a hereditariedade natural”
(Baldwin, 1896, p.538. Minha tradução). Deste modo, apresenta idéias típicas da
memética exatamente 80 anos antes deste termo surgir com Dawkins. Embora ele
não seja claro sobre a existência de unidades de cultura que seriam
correspondentes aos memes, ele aborda todas as outras características da
memética falando de um “‘ambiente de pensamento’ no qual as idéias são sujeitas
à variação, são selecionadas, e então transmitidas e, portanto, conservadas”
(Plotkin, 2004, p.77. Minha tradução).
No entanto, o que ficou conhecido como “efeito Baldwin” não é memética,
pois seu interesse primordial ainda são as mutações genéticas. A única grande
diferença é a proposta de que mudanças fenotípicas poderiam influenciar
mudanças genéticas através da construção de um novo ambiente selecionador. A
confusão entre estas duas idéias é um tanto quanto comum e surge porque as duas
buscam incluir a cultura e a aprendizagem dentro do darwinismo, por isso
diferenciá-las é tão importante.
4.7
Herança Epigenética
Com relação a herança epigenética identificamos uma simples confusão que
pode ser resolvida prontamente. A pesquisadora Eva Jablonka ficou conhecida por
um livro onde fala de quatro formas de herança: genética, epigenética,
comportamental e simbólica. Ela de maneira nenhuma queria dizer que todas estas
formas poderiam ser reduzidas a uma ou eram idênticas de alguma maneira.
Muito pelo contrário, pretendia justamente mostrar a separação entre estas formas
para questionar a visão biológica centrada somente na herança genética. Por um
motivo qualquer, talvez pelo fato de ser o modo menos conhecido desses quatro
tipos de herança, o nome de Jablonka ficou ligado à herança epigenética. Algo que
219
infelizmente só diminui a importância do que ela quer passar. Tal tipo de herança
não-genética já foi tratado na seção 1.5.
Como ela defende também a herança comportamental e a simbólica, criou-se
uma leve confusão de que estas podem ser compreendidas sob o termo
“epigenéticas” o que é um erro, pois este termo diz respeito somente à herança
celular que não é genética. Deste modo surgiu uma pequena confusão de que a
memética seria uma forma de herança epigenética, o que não é conceitualmente
correto. Jablonka não teve culpa nenhuma nesta confusão, pois fez questão de
separar bem os quatro tipos de herança com os quais lidou. Além disso, ela é uma
crítica da memética e suas críticas serão todas brevemente abordadas no último
capítulo (seção 10.2).
Não há nenhuma necessidade de se aprofundar mais aqui nesta confusão até
porque as leituras propostas por Jablonka da herança genética e epigenética já
foram tratadas anteriormente. Já a herança comportamental pode ser tratada de
duas formas principais, ou esta se dá pela mudança genética ou pela transmissão
cultural. Se se dá pela genética já tratamos aqui sobre os nomes de etologia,
sociobiologia, psicologia evolutiva e ecologia comportamental. Mas se é por
transmissão cultural, então pode ser tipicamente tratada dentro da memética. O
mesmo se dá com a herança simbólica, que seria mais especificamente memética,
mas Jablonka não teoriza muito sobre como ela se dá e prefere se ocupar em fazer
críticas à memética e à psicologia evolutiva. No que diz respeito à psicologia
evolutiva, suas críticas já foram consideradas na seção 4.4 e no que diz respeito à
memética, serão tratadas no último capítulo. No entanto, mesmo Jablonka sendo
uma crítica da memética, como ela defende a existência de vários tipos de herança
não genéticas, acaba se mostrando uma forte aliada do darwinismo universal e, ao
falar da herança simbólica, utiliza uma estratégia muito semelhante a que a
memética tem o costume de usar:
Mas agora chegamos ao sistema de hereditariedade, no qual nada material é
transmitido. É o que o animal vê ou ouve que importa. Isso faz diferença? Para o
que nos interessa, acreditamos que não. Em todos os casos, a informação é
transmitida e adquirida, e em todos os casos a informação precisa ser interpretada
pelo recipiente, de modo a poder afetá-lo de alguma maneira (Jablonka & Lamb,
2005, p.166. Minha tradução).
220
4.8
Darwinismo Social
Em um sentido bem amplo todas as formas de naturalizar a cultura e o
comportamento podem ser chamadas de Darwinismo Social. Mas, no sentido
restrito do termo, o Darwinismo Social foi a aplicação do evolucionismo, que
encontrávamos antes mesmo do próprio Darwin, ao campo da cultura. Seu grande
expoente foi Herbert Spencer que, inclusive, cunhou a expressão “sobrevivência
dos mais aptos”.
Veremos brevemente no próximo capítulo o papel do evolucionismo
cultural na antropologia, na seção 5.3. Em pouquíssimas linhas os evolucionistas
defendiam que toda a cultura humana poderia ser dividida em vários estágios de
evolução, saindo do estado de selvageria até o estado civilizado. Em linhas gerais
o evolucionismo cultural, que surgiu antes mesmo de Darwin publicar a “Origem
das Espécies”, acreditava que existia uma única linha evolutiva percorrida por
todas as sociedades e que ia do menos evoluído para o mais evoluído. Nas
palavras do próprio Spencer:
O avanço do simples para o complexo, através de um processo de sucessivas
diferenciações, é igualmente visto nas mais antigas mudanças do Universo que
podemos conceber racionalmente e indutivamente estabelecer; ele é visto na
evolução geológica e climática da Terra, e de cada um dos organismos sobre sua
superfície; ele é visto na evolução da Humanidade, quer seja contemplada no
indivíduo civilizado, ou nas agregações de raças; ele é igualmente visto na evolução
da Sociedade com respeito a sua organização política, religiosa e econômica; e é
visto na evolução de todos (...) os infindáveis produtos concretos e abstratos da
atividade humana (Spencer, 1857 in: Castro, 2005, p.26).
Vemos assim a defesa spenceriana de que este caminho único para a
evolução vale não só para as sociedades, mas para os organismos e, na verdade,
para tudo mais. É possível notar que os evolucionistas tinham um tom claramente
progressista onde esta evolução era um tipo de melhoramento cultural. Neste
sentido eles eram muito mais lamarckistas do que darwinistas. Herbert Spencer
não fugia da regra, nas palavras de Ruse:
Spencer, por exemplo, considerava a evolução como um tipo de progressão,
partindo da ‘homogeneidade’ para a ‘heterogeneidade’. Isso significava, na
realidade, que se tratava de um tipo de progressão que vinha dos macacos, passava
pelas formas de vida humana mais primitivas, como a dos habitantes da Terra do
Fogo e a dos irlandeses, e chegava até as formas mais elevadas, as quais (conforme
Spencer, a bem da honestidade, viu-se compelido a confessar) eram bastante
221
semelhantes à dos ingleses da classe média. E, a fim de transformar a todos em
belos espécimes do Homo britannicus, Spencer era de opinião que devíamos dar
carta branca à luta pela sobrevivência, adotando uma Economia e um sistema social
do tipo laissez-faire e deixando perecer impiedosamente o mais fraco, em nossa
sociedade (Ruse, 1983, p.229).
Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de Darwinismo vê que não há
nada darwinista aí. Esta passagem da homogeneidade para a heterogeneidade
deveria dar conta de um aumento na especialização estrutural tanto nos animais
quanto nas sociedades. Seria um aumento progressivo e um tanto linear que iria
em direção a especialização das partes:
Se traçamos a gênese de qualquer estrutura industrial, a partir dos ferreiros
primitivos que tanto fundiam o ferro quanto criavam implementos a partir dele, até
os nossos distritos de manufatura de ferro, onde a preparação do metal é separada
em fundição, refinamento, pudlagem, laminação, e onde a transformação desse
metal em implementos está dividida em diversas empresas (Andreski, 1971, p.131.
Minha tradução).
Entretanto, sabemos muito bem que a evolução não visa este aumento.
Muito pelo contrário, oportunidades de diminuir tal complexidade são logo
aproveitadas em nome de um menor custo de energia. Mas na verdade, a evolução
não visa absolutamente nada. É um processo cego, que produz esboços
reutilizando outros esboços. Por isso todo o grande esquema de Spencer que se
baseia no progressismo é anti-evolucionista.
No entanto, quando critica-se a memética, e também a psicologia evolutiva e
a sociobiologia, dizendo que eles são novos Darwinistas Sociais, dificilmente se
está falando da versão proposta por Spencer. Ainda pior do que a proposta teórica
de Spencer foi a prática que algumas pessoas tiraram disso. O Darwinismo foi
largamente utilizado na prática da eugenia, termo este que foi criado por Galton,
sobrinho de Darwin e famoso eugenista. Tal utilização era fundamentada,
principalmente na teoria de Spencer, pois ele defendeu que as instituições de ajuda
aos necessitados estavam impedindo a eliminação destes pela seleção natural:
É inquestionável o mal que fazem as organizações que se empenham de forma
generalizada em ajudar os inúteis, impedindo assim o processo natural de
eliminação através do qual a sociedade continuamente se purifica (Spencer, 1874,
p.346, in: Ruse, 1995, p.102).
A idéia de purificação de uma sociedade teve fortes implicações pelo mundo
todo, podendo-se destacar o nazismo. Infelizmente, deve-se admitir que o próprio
222
Darwin, leitor de Spencer, defendeu ações semelhantes ao sugerir o impedimento
do casamento entre os “membros mais débeis e inferiores” com os sadios e entre
si também (cf. Darwin, 2002, p.162). Embora não se possa negar que Darwin
tinha idéias eugênicas, vemos uma clara diferença em suas propostas. Ele não
pede pela eliminação dos “membros mais débeis e inferiores”, sua constatação é a
de que um fazendeiro nunca tentará reproduzir vacas inferiores, pois visa o
melhoramento do rebanho. Baseado nisso, Darwin temia que se não fizéssemos o
mesmo poderíamos sofrer as conseqüências futuramente. Mas se ele tivesse
tratado a sua teoria com mais delicadeza, perceberia que uma variação inútil ou
deletéria agora pode muito bem ser útil em um ambiente futuro, isso significa que
diminuir a variabilidade não é algo que deve ser visado a longo prazo. O grande
problema foi que, com o Darwinismo Social, a eugenia passou a ser considerada
uma verdadeira ciência e ganhou a respeitabilidade que vem com isso, causando
grandes estragos sociais.
No fim do século XIX, Cesare Lombroso foi considerado um grande
criminalista e seus estudos que relacionavam o formato da face com tendências
criminosas diversas foram usados em vários tribunais como prova de
culpabilidade. No começo do século XX a eugenia teve amplo apoio social e
institucional quando falava-se no melhoramento da espécie humana. Na Inglaterra
existiam cursos universitários sobre o tema e o mesmo aconteceu nos Estados
Unidos, inclusive em grandes universidades como Harvard, MIT e Chicago. Em
1930, 30 estados americanos tinham leis para legalizar a esterilização de
criminosos e loucos (cf. Plotkin, 2004, p.66). Até mesmo Hitler foi influenciado
por tais práticas (cf. Pinker, 2004, p.216). Contra algo tão sombrio não é sem
razão que Franz Boas, como veremos no próximo capítulo, se rebelou e trouxe à
tona o relativismo cultural. Tais ações foram todas estarrecedoras, mas o mais
importante aqui é que nenhuma delas tinha algum suporte propriamente
evolucionista ou biológico pois, como veremos a seguir, é justamente a biologia
que nos diz que não existem raças humanas. Darwin pode até ter tido o seu lado
eugenista, mas o darwinismo nunca teve.
Resumindo, não há nem nunca houve nenhuma ligação fundamental entre a
evolução por seleção natural, bem como entre a etologia, a sociobiologia e a
psicologia evolutiva, e o chamado Darwinismo Social ou qualquer outra forma de
defesa da eugenia. Tal ligação só pode ser feita baseada na ignorância e no
223
preconceito dos críticos das tentativas de naturalizar a cultura. Normalmente o
“darwinismo social” só é comentado ou por quem não entende ou não quer
entender a memética, e deste modo disfarçando sua ignorância como se fosse uma
escolha ética, ou por quem visa propositalmente que outros não leiam o que ele
leu, propagando, assim, a ignorância. Como regra geral poder-se-ia sugerir que os
textos críticos que tentam assimilar estas novas tentativas de estudar a cultura
darwinisticamente a este tipo de prática simplesmente não deveriam ser lidos.
4.9
Teorias da Co-evolução: Feldman e Cavalli-Sforza, Richerson e Boyd
As teorias da “co-evolução cultura-gene” ou “teorias da dupla-herança”
(dual-inheritance) podem causar algumas dúvidas iniciais por existirem em dois
grandes formatos: um proposto pelos geneticistas Marc Feldman e Luigi Luca
Cavalli-Sforza e outro pelos antropólogos Robert Boyd e Peter Richerson. Mas é
uma questão em aberto se as duas abordagens apenas falam a mesma coisa com
diferentes nomes ou se podem ser de fato separadas. No entanto, mesmo se estas
forem diferentes, não são opostas e, com o tempo, é esperado que se unam dentro
de uma mesma estrutura conceitual.
Ambas as teorias acabam tendo o mesmo destino da ecologia
comportamental, ou seja, não são muito criticadas talvez pelo seu forte viés
matemático que as tornam áridas para um leigo. No que se segue as partes menos
acessíveis e mais técnicas não serão abordadas, pois o que é importante aqui é ter
capacidade para reconhecer tais teorias para distingui-las da memética ao mesmo
tempo em que se descobre no que aquelas poderiam ser úteis a esta. A conclusão
talvez seja surpreendente, pois veremos que de todas as áreas abordadas até o
momento, estas são as que se aproximam mais da memética.
A grande diferença desta abordagem em relação as outras já mostradas é que
para eles, “a ‘coleira’ que prende a cultura aos genes puxa pelos dois lados”
(Laland & Brown, 2002, p.243. Minha tradução). Já vimos algo semelhante nos
estudos sobre a cultura na ecologia comportamental, mas aquela trabalhava com
experimentos rigorosos baseados em modelos de adaptação ótima, enquanto as
224
análises iniciadas pelos antropogeneticistas em 1976 tratam de um panorama
muito mais amplo, algumas vezes envolvendo a evolução do homem como um
todo. Mas a co-evolução já conseguiu até o “aval” do pai da sociobiologia como
nos mostra a seguinte citação:
É possível que a coevolução gene-cultura permaneça dormente enquanto tema por
muitos anos ainda, esperando o lento acréscimo de um conhecimento que seja
suficientemente persuasivo para atrair pesquisadores. Permaneço convencido de
que sua verdadeira natureza é o problema das ciências sociais e, além disso, um dos
grandes domínios inexplorados da ciência em geral; e não tenho qualquer dúvida de
que seu momento chegará (Wilson, 1994, in: Laland & Brown, 2002, p.286. Minha
tradução).
Quase 20 anos antes, Mayr também reconheceu e apostou no sucesso do
estudo da co-evolução baseado nas pesquisas de Cavalli-Sforza e Feldman (Mayr,
1977, 13, in: Bonner, 1980, p.21). Cabe aqui uma pequena ressalva sobre o termo
“co-evolução” que na biologia exige que as duas espécies que estão co-evoluindo
tenham uma árvore genealógica igualmente ramificada, indicando que uma
mudança em uma ocasiona uma mudança na outra e vice-versa. Rigorosamente
falando, é difícil provar um caso de co-evolução, pois muitos casos que parecem
se enquadrar são, na verdade, de evolução dirigida, quando existe adaptação de
uma espécie à outra, mas não vice-versa. Ou também de simples coincidências
causadas por exaptação, quando uma espécie que era adaptada a um determinado
ambiente acaba descobrindo que sua adaptação também pode ser muito bem
utilizada em outro ambiente. No entanto, o termo “co-evolução”, quando diz
respeito à relação entre cultura e gene, não deve ser ainda tão rigorosamente
avaliado. No futuro tais diferenciações encontradas na biologia provavelmente
serão encontradas neste novo caso.
Na situação atual, o termo “co-evolução” simplesmente diz respeito às
relações entre gene e cultura, principalmente quando mudanças em um direcionam
mudanças no outro. A teoria da co-evolução busca estudar a relação ente a seleção
genética e a seleção cultural, sendo esta definida como:
um processo através do qual crenças particulares socialmente aprendidas, ou
pedaços de conhecimento, aumentam ou diminuem em freqüência, devido ao fato
de serem adotados por outros indivíduos de acordo com taxas diferentes (Laland &
Brown, 2002, p.250. Minha tradução).
225
A relação desta com a seleção natural é óbvia. Além disso, percebemos que
existe nesta teoria um conceito de cultura como crenças e idéias, embora, como
veremos na seção 5.2, este não precisa ser o conceito usado e as pesquisas na coevolução poderiam continuar funcionando da mesma maneira com outros
conceitos de cultura que admitam, por exemplo, padrões de comportamento e até
mesmo a manufatura de objetos como traços culturais. Mas mais importante que a
seleção cultural para tais pesquisadores é a relação desta com a seleção natural,
pois através da seleção natural também podemos ter traços culturais que se
espalham ou se extinguem. Por exemplo, a invenção de um novo método de caçar
é um traço cultural que vai beneficiar diretamente a seleção natural fazendo com
que os indivíduos capazes de dominar este novo método tenham mais
descendentes. Temos, então, um processo onde a cultura e os genes estão
conectados de modo que uma mudança na cultura ocasiona uma mudança nos
genes. É esta relação que interessa para as teorias de co-evolução. Mas tais
relações não precisam ser só benéficas, o ato de fumar, por exemplo, é um traço
cultural que influencia negativamente a seleção natural. Um outro traço ainda
mais óbvio é o controle de fertilidade via métodos anticoncepcionais. São
justamente estas relações que mais interessam a um pesquisador nesta área.
Cavalli-Sforza e Feldman começaram com a constatação de que
normalmente a distância gênica aumenta com a distância das populações, deste
modo, surgiu a questão se seria possível estudar a história destas populações
estudando seus genes. Como já vimos, as mitocôndrias tem seu DNA próprio que
são passadas só de mãe para filhos e filhas (seção 1.11). Algo semelhante
acontece com o cromossomo Y dos homens, que é passado diretamente do pai
para o filho 46.
Esta passagem mais simples e direta permitiu uma grande facilidade nos
estudos das variações de tais DNAs. Um exemplo interessante, mas ainda em
discussão, é o caso de Öetzi, um homem congelado de cerca de 5 mil anos
encontrado nos Alpes. Seu DNA mitocondrial mostrou pouca variação para o
DNA atual, evidenciando uma clara descendência. Já o pouco DNA mitocondrial
coletado dos Homens de Neandertal demonstrou uma distância considerável,
indicando que ele pode ter sido de fato uma espécie distinta dos homens modernos
46
Baseado nisso é que se encontra a chamada “Eva mitocondrial” e o “Adão do cromossomo Y”.
Mas tais descobertas não serão tratadas aqui. (cf. Cavalli-Sforza, 2000, p.112)
226
e que foi extinta somente há pouco mais de 30 mil anos (cf.Cavalli-Sforza, 2003,
p.57). Fica claro, assim, como é possível utilizar técnicas de sequênciamento de
DNA para estudar a história antropológica da humanidade. De maneira
semelhante, utilizando amostras de sangue coletadas de populações de todos os
cantos do mundo, foi possível compreender a migração do ser humano baseado
exclusivamente em dados genéticos para, depois, compará-los com os resultados
da antropologia. Mais interessante ainda é que através do chamado relógio
molecular, que utiliza mutações neutras para calcular uma possível data de
surgimento, é possível até mesmo obter uma data da separação entre as
populações e compará-la com as datas descobertas pela antropologia.
No entanto, mais interessante do que estes trabalhos são os trabalhos que
estudam diretamente a relação entre a transmissão genética e a transmissão
cultural. Cavalli-Sforza, por exemplo, nos fala de um estudo que ele realizou
sobre a disseminação da agricultura há cerca de nove mil anos. Uma vez
constatada a sua disseminação a partir do seu ponto de origem, surge a questão de
se foram os agricultores que se disseminaram, ou se foi a técnica da agricultura.
Foram feitos mapas de disseminação arqueológicos e genéticos, e a sua correlação
era óbvia. Com técnicas de datação foi possível chegar à conclusão da que a
hipótese de disseminação dêmica (genética) era a mais provável (Cavalli-Sforza,
2003, p.140). Isto significa que foram os próprios agricultores que disseminaram a
agricultura. Um caso de evolução, ou melhor, migração genética levando uma
modificação cultural. Logo veremos que no caso da digestão de lactose a
descoberta foi oposta. Estudos semelhantes foram usados comparando as
diferentes línguas com as diferentes populações genéticas e muitas semelhanças
surpreendentes foram encontradas, mostrando que tal método também poderia ser
utilizado para estudos lingüísticos. Nas palavras de Cavalli-Sforza:
Duas populações diferentes são genética e linguisticamente diferenciadas. O
isolamento, que pode resultar de barreiras geográficas, ecológicas ou sociais, reduz
a probabilidade de casamento entre as populações e, como resultado, populações
reciprocamente isoladas irão evoluir de modo independente, pouco a pouco, se
tornar diferentes. A diferenciação genética de tais populações se dá lenta mas
regularmente ao longo do tempo. Podemos esperar que um processo semelhante
ocorra com as línguas: o isolamento diminui o intercâmbio cultural e as duas
línguas acabam se afastando uma da outra. (Cavalli-Sforza, 2003, p.198)
227
Embora existam estas inegáveis semelhanças nestes dois processos, há sim
diferenças entre eles. É uma questão em aberto se estas diferenças são verdadeiras
divergências, ou só diferenças de grau. A mudança lingüística, por exemplo,
apresenta uma variabilidade maior por palavra do que a variabilidade encontrada
no gene. Ou seja, as mudanças nos genes muitas vezes só alteram um único
nucleotídeo, e mesmo quando existem muitos alelos, normalmente temos só um
grupo pequeno de nucleotídeos que mudaram. Já na língua, as palavras e seus
“alelos” (sinônimos) podem ser extremamente diferentes, além do número de
sinônimos poder ser enorme. Um caso típico seriam as centenas de sinônimos da
palavra “pênis”.
No entanto, a evolução da língua também pode ser surpreendentemente
semelhante à evolução genética, quase idêntica, como no caso de um antigo
poema de um monge irlandês do século VII, cujo original não mais existe, e que
tem escrito a frase “antes da inevitável viagem” em inglês antigo (Cavalli-Sforza
& Cavalli-Sforza, 2002, p.123). Tal manuscrito foi copiado por monges e depois
foram feitas cópias de cópias. Nestas cópias erros foram cometidos, que podem
ser casuais ou por uma preferência gráfica pessoal. De qualquer maneira, por
causa destes erros pode-se reconstruir a árvore genealógica destes manuscritos.
Seguem só fragmentos listados de acordo com a similaridade:
Manuscrito
Século
Começo do poema
1
IX
Fore th’e neidfaerae
2
X
Fore thae neidfaerae
3
XII
Fore th-e neidfaerae
4
XII
Fore th-e neidfaer-e
5
XV
Fore th-e neydfaer-e
6
XIII
Fore th-e neidfaor-e
7
XII
Fore th-e neidfaor-e
Tabela 2: genealogia de um poema
O hífen está onde uma letra desapareceu. “Thae”, por exemplo, se
transformou em the (o). A palavra “fore” corresponde a before (antes), a palavra
“neid” corresponde a need (necessidade) e “faerae” corresponde a viagem. De
posse desta tabela basta comparar as semelhanças e diferenças precisamente como
228
se faz com a cadeia de nucleotídeos para criar uma árvore genealógica. A palavra
“neidfaerae” mostra uma relação entre os manuscritos 1 a 3 e também entre os
manuscritos 4 a 7. Já o “the” coloca o manuscrito 3 mais próximo do 4 a 7 do que
do 1 e 2. Este problema foi resolvido estudando o resto do poema. Deste modo,
feita a análise total, ficamos:
O manuscrito do século VII, que hoje não existe mais, foi copiado por dois monges
diferentes. Uma dessas cópias deu origem aos manuscritos 1 e 2; a outra cópia
serviu de base para os cinco manuscritos restantes: primeiro vieram o 3, o 4 e o 7;
depois seguiram-se o 6, que descende do 7, e o 5, que descende do 4. Essa árvore
foi construída seguindo o mesmo raciocínio usado para reconstruir a evolução
molecular. (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.124 - 125)
Análises muito semelhantes a estas são feitas todos os dias por filólogos que
buscam descobrir textos originais que são, inclusive, muito utilizados pelos
filósofos que estudam filosofia antiga. Vimos já questão idêntica a esta ao tratar
das analogias e homologias culturais que, segundo Dennett, deveriam inviabilizar
a memética (seção 3.2). Exemplos assim nos mostram que a diferença entre a
metodologia para estudar evolução da cultura e para estudar a evolução dos genes
pode ser quase inexistente. E mesmo no que diz respeito às diferenças, podemos
lembrar que uma mudança em um único nucleotídeo pode causar uma incrível
mudança fenotípica. Darwin não poderia ter feito esta associação por desconhecer
a genética, mas fez uma bastante semelhante dentro da própria “Origem das
Espécies”:
Comparam-se órgãos rudimentares às letras que, conservadas na ortografia de uma
palavra, embora inúteis para a sua pronúncia, servem para lhe definir a etimologia
(Darwin, 2004, p.476)
Vimos, deste modo, várias maneiras que a transmissão cultural pode ser
estudada, correlacionando-a ou não com a transmissão genética. Na maioria dos
casos, os pesquisadores da co-evolução estão justamente interessados nesta
relação entre as duas formas de transmissão. Para facilitar a pesquisa algumas
“direções” de transmissão são melhor definidas. A transmissão genética se dá
predominantemente de maneira vertical, ou seja, de pai para filho. Do mesmo
modo existe a chamada transmissão cultural vertical, ou seja, aquela que se dá de
pai para filho. Neste caso existe uma clara dificuldade de saber qual fator é mais
importante para se explicar as semelhanças entre gerações.
229
Estudos feitos na universidade de Stanford mostraram que atitudes políticas
e religiosas eram muito consistentes entre pais e filhos. Estudos como estes nos
mostram como se pode fazer um trabalho rigoroso, mesmo em um campo tão
complexo. Embora seja possível diferenciar infindáveis graus de atitudes políticas
e religiosas, podemos, nos Estados Unidos, por exemplo, dividir as atitudes
políticas entre democratas, republicanos, independentes e apolíticos. O número de
variações pode ser gigantesco, mas elas podem ser inquestionavelmente agrupadas
desta forma, o que as torna discretas e tratáveis cientificamente. Mas em um caso
deste, onde a transmissão cultural é vertical, temos sempre a possibilidade de que
parte do comportamento, ou mesmo todo ele, seja transmitido geneticamente.
Neste caso, pesquisas mais elaboradas são necessárias.
Tal problema não acontece na chamada transmissão horizontal, ou seja,
entre pessoas de uma mesma geração. Embora existam vários casos de
transmissão gênica horizontal, não há caso conhecido onde o doador e o receptor
fossem também dois indivíduos capazes de transmitir cultura um para o outro47.
Isto significa que se um comportamento, ou uma crença, foi transmitida deste
modo, então ela é exclusivamente cultural. Por isso é a transmissão horizontal a
mais estudada nas teorias da co-evolução. Mas existe uma clara relação entre a
transmissão horizontal e a epidemiologia:
A transmissão horizontal corresponde, sob alguns aspectos, à epidemia de uma
doença contagiosa: a notícia espalha-se com velocidade crescente, que depois se
torna constante e por fim vai a zero. Em condições particulares, o equivalente a
doenças endêmicas também pode ocorrer (isto é, a situação em que uma população
apresenta um certo nível de incidência de uma moléstia por um período indefinido
de tempo) (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.283).
Baseado nisso, alguns modelos iniciais buscam reinterpretar modelos
epidemiológicos em termos de transmissão cultural48. Há também a transmissão
oblíqua, quando ela se dá entre gerações diferentes, mas não entre pais e filhos.
Podem ser tios e sobrinhos, professores e alunos, mestres e discípulos, etc. A
transmissão oblíqua não é muito trabalhada por Cavalli-Sforza, embora ela seja
tipicamente uma transmissão cultural. Richerson e Boyd dão uma importância
maior para ela.
47
48
Embora isso possa mudar com o uso mais comum da engenharia genética (cf. Goodfield, 1994).
“Muitos cientistas hoje usam as ferramentas matemáticas da epidemiologia (como as doenças se
propagam) para construir modelos da evolução da cultura” (Pinker, 2004, p.99).
230
Vários outros exemplos de estudos já realizados dentro da estrutura
conceitual da co-evolução poderiam ser apresentados: evolução da linguagem,
coevolução da surdez genética e das línguas de sinais, a emergência dos tabus de
incesto, como a construção de nicho afetou a cultura etc. Tal teoria tem se
mostrado um campo muito profícuo, embora ainda conte infelizmente com um
número bem pequeno de pesquisadores.
Um exemplo muito interessante é o estudo do consumo de lactose feito por
Feldman e Cavalli-Sforza (1989), entre outros: com exceção dos bebês, os seres
humanos não tinham a enzima lactase suficiente em seus corpos para serem
capazes de digerir a lactose do leite, deixando-os doentes se consumissem leite em
grandes quantidades. Podendo causar “náuseas, inchaço no ventre, flatulência ou
até mesmo diarréia” (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.139) Na verdade, a
maioria da população mundial ainda não é capaz de digerir corretamente a lactose
(Laland & Brown, 2002, p.260). O que varia entre aqueles capazes e aqueles não
capazes de consumir corretamente leite é um simples gene. O interessante é que
existe uma forte correlação entre a incidência de tal gene e a cultura de criação de
gado de leite, sendo que tal gene está presente em cerca de 90% nas populações
que têm esta cultura e em menos de 20% nos que não a têm. O fato é que o
consumo de leite e seus derivados está presente na cultura humana há cerca de
6.000 anos, o que representa aproximadamente 300 gerações. Surge, então, a
questão se a criação de gado de leite ocasionou a pressão seletiva para que o alelo
da absorção do leite se espalhasse na população ou se foi o surgimento deste alelo
que deu a oportunidade para que esta cultura se espalhasse? Ou seja, o que veio
primeiro, o gene ou a cultura? Os modelos inicialmente criados mostraram que
modelos exclusivamente genéticos não eram capazes de dar conta deste problema
e recentemente os modelos estatísticos indicam que a cultura da criação do gado
de leite veio antes do gene para a tolerância a lactose. Deste modo, foi um caso de
seleção genética direcionado pela seleção cultural (cf. Laland & Brown, 2002,
p.262).
Outro exemplo de mudança evolutiva recente nos seres humanos causada
por mudanças culturais é o fato de que os chimpanzés têm só um gene para a
produção da amilase salivar, enquanto os seres humanos podem ter até 10. Esta
ajuda a digerir o amido e, por isso, um número maior destes genes é encontrado
231
em populações que costumam comer muito amido, como o arroz, em oposição a
populações que se alimentam da caça e pesca.
Fica claro, então, que os trabalhos de Feldman e Cavalli-Sforza se mostram
bastante produtivos e atraíram muito interesse da mídia e de outros grupos de
pesquisa. Infelizmente, o mesmo ainda não se deu com os trabalhos de Richerson
e Boyd. Mas não há nenhum motivo para isso, pois não só eles são de qualidade
equivalente, como podem ser integrados aos de Cavalli-Sforza em uma grande
área de pesquisa da co-evolução. Talvez o motivo tenha sido somente que tais
trabalhos ainda não mostraram tantos resultados quanto os de Feldman e CavalliSforza, mas isso parece ser apenas uma questão de tempo.
Existem algumas divergências entre eles, mas é provável que essas
divergências sejam mais em relação aos termos e ao enfoque dado. Na
terminologia de Richerson e Boyd o mais relevante são os diferentes modos de
escolher entre variantes culturais e de evolução cultural.
Dada a escolha entre dois comportamentos, indivíduos têm uma maior
probabilidade de escolher um do que outro. Richerson e Boyd chamam isso de
biased cultural transmission, um processo não muito diferente da seleção natural
(cf. Richerson & Boyd, 2006, p.116). Tal processo pode ser dividido em vários
tipos: ele pode ser uma directed bias, onde se escolhe diretamente qual
comportamento adotar por causa de fatores como, por exemplo, uma
predisposição genética para determinado tipo de comportamento ou de
informação; ou pode ser um caso de frequency-dependent bias, onde o
comportamento escolhido depende do quão comum ele é, sendo que o
comportamento mais comum tenderá a ser mais aceito, somente por ser mais
comum; e pode ser também indirected bias, ou model-based bias, onde um
determinado traço pode servir de pista para se aprender outro traço cultural, por
exemplo, copiar o modo de se vestir dos mais ricos ou mais famosos. Estudos
mostram, inclusive, que “garotas populares em idade pré-adolescente, das classes
baixas ou médias, são normalmente as líderes mais importante da evolução da
linguagem nas cidades Americanas” (Richerson & Boyd, 2006, p.125. Minha
tradução).
Além disso, há o processo de guided variation, quando um indivíduo
modifica seu comportamento e em seguida é imitado por outros. As mudanças
culturais, neste caso, não dependem muito da existência prévia de variações, elas
232
são como que direcionadas em um modo um tanto lamarckista. “Imaginamos que
as pessoas têm a habilidade, embora limitada, de julgar o mérito relativo de
crenças e valores alternativos, e escolher entre eles” (Richerson & Boyd, 2006,
p.105. Minha tradução).
O sistema geral não é muito diferente do da memética. Boyd e Richerson
utilizam a mesma analogia que a memética em seus estudos: “Os tipos básicos de
processo são as forças da evolução cultural, análogas às forças da evolução
genética, seleção, mutação e deriva” (Richerson & Boyd, 2006, p.60. Minha
tradução). Mas há uma diferença aqui, pois eles se consideram críticos da
memética, principalmente por causa dos memes serem “unidades culturais
fielmente replicáveis” e em oposição sugerem que tais unidades podem não existir
ou não serem replicadas. Um pensamento um tanto comum entre antropólogos, e
eles não fogem a regra49. Para fugir do termo “meme”, assim como de termos
como “idéia, habilidade, crença etc.” eles preferem utilizar o termo “variante
cultural”, mas não chegam a definir este termo de maneira claramente oposta ao
termo “meme”. Blackmore ressalta que Richerson e Boyd também parecem tratar
as variantes culturais como replicadores por conta própria (cf. Blackmore, 2000,
p.38).
No entanto, até mesmo uma leitura superficial de seus textos nos mostra que
eles tratam a cultura como composta de vários componentes individuais. Quando
eles, por exemplo, falam que “se é provável que um número maior de pessoas de
sucesso seja imitado, então aqueles traços que levam a que alguém tenha sucesso
serão favorecidos” (Richerson & Boyd, 2006, p.13. Minha tradução) é difícil não
entender o termo traços (traits) como uma série de características que podem ser
tratadas de maneira unitária. Um outro exemplo seria: “a evolução das linguagens,
artefatos e instituições pode ser dividida em pequenos passos e, durante cada
passo, as alterações são relativamente modestas” (Richerson & Boyd, 2006, p.50
Minha tradução). Ou ainda: “os historiadores da tecnologia demonstraram muito
bem como essa melhoria passo a passo gradualmente diversifica e melhora as
ferramentas e outros artefatos” (Richerson & Boyd, 2006, p.115). Eles nos
mostram como a evolução da cultura, mas particularmente da tecnologia, são
formadas por pequenos passos que vão gradativamente se acumulando, assim
49
Estariam eles sofrendo de frequency-dependent bias?
233
como no caso da evolução biológica (cf. Richerson & Boyd, 2006, p.49 - 50).
Embora eles não falem especificamente em unidades de cultura, isso parece mais
uma decisão metodológica. Decisão esta que um defensor da memética pode
também tomar sabendo do fato de que memes, assim como genes, nunca
funcionam sozinhos.
A crítica mais comum que Richerson e Boyd fazem contra a memética é
precisamente em relação ao seu caráter discreto, tratando a cultura como unidades
replicadas fielmente. Em oposição a isso eles afirmam que o termo que usam no
lugar de memes, variantes culturais, não implica uma visão onde existam
pequenos bits de cultura. Mas mais uma vez eles fazem uma confusão e também
mais uma vez eles respondem a si mesmos:
Procuramos manter em vista as diferentes variantes, os pequenos bits
independentes ou grandes complexos, conforme o caso, presentes na população, e
tentamos entender que processos fazem com que algumas variantes aumentem, e
outras diminuam. A mesma lógica se aplica independentemente do fato das
variantes serem regras fonológicas individuais ou gramáticas inteiras (Richerson &
Boyd, 2006, p.91. Minha tradução).
Podemos ver com facilidade que esta citação, que deveria ser contrária a
memética, poderia muito bem estar em qualquer livro de memética! Eles parecem
acreditar que a memética, para fazer algum sentido, tem que tratar a cultura
exclusivamente como unidades mínimas de transmissão cultural, um típico caso
de reducionismo. Mas assim como a genética das populações podem tratar tanto
de genes individuais sendo selecionados, como de gigantescos complexos de
genes sendo selecionados conjuntamente, a memética também pode tratar do que
foi chamado de memeplexo. Para usar o exemplo que eles usaram, é bastante claro
que a memética não precisa tratar só de competições entre regras fonológicas
individuais, mas pode sim tratar de competição e seleção entre gramáticas inteiras.
Na verdade, até o momento a memética tem tratado mais de tais complexos do
que de memes individuais! O primeiro e mais famoso exemplo da utilização da
memética é justamente um destes casos: a religião como um complexo de memes.
Richerson e Boyd gostam sempre de ressaltar esta diferença entre o que eles
fazem e a memética, na verdade, eles voltam na mesma questão exageradamente.
Mas é bastante claro que eles compreendem erroneamente a memética como
tratando exclusivamente de unidades mínimas de cultura. Esta é uma das
234
principais críticas deles em relação à memética, a outra está no fato destas
unidades serem discretas:
Nada no argumento depende de que as variantes culturais sejam partículas discretas
semelhantes a genes. O argumento funciona exatamente da mesma maneira se os
‘memes’ variassem continuamente e as crianças adotassem uma média ponderada
das crenças de seus pais e professores (Richerson & Boyd, 2006, p.154. Minha
tradução).
Embora eles digam que não é preciso que suas variantes culturais sejam
partículas discretas, não mostram que é necessário que elas não sejam discretas.
Nem mesmo que é melhor que seja assim. Em outras palavras, a teoria de
Richerson e Boyd pode prescindir da memética para fazer sentido, mas pode
também ser considerada como uma parte da memética. O que eles fazem não é
verdadeiramente uma crítica, eles não dizem que suas análises devem ser
entendidas sem unidades discretas da cultura, mas somente de que elas podem ser
entendidas assim. Na verdade, a memética também pode ser entendida assim, do
mesmo modo que Dawkins fala que a seleção pode ser entendida como agindo
entre indivíduos. Como sabemos, embora genes não se misturem, indivíduos se
misturam e os filhos são uma espécie de média entre os pais. Mas o fato é que se
quisermos ser mais rigorosos devemos tratar de unidades menores. Para o que
Richerson e Boyd defendem se transformar em uma verdadeira crítica da
memética, eles deveriam mostrar algum caso específico onde a evolução só pode
ser tratada como uma mistura. Onde tratar o processo discretamente seria
impossível.
Além destas críticas, eles ressaltam que a competição entre variantes
culturais é diferente daquela entre alelos (cf. Richerson & Boyd, 2006, p.73). Não
é comum, no caso da cultura, que duas variantes culturais compitam entre si
exclusivamente. Casos como a competição cultural não são bem compreendidos
como sendo entre dois alelos no mesmo lócus. Mas embora haja diferenças aí, o
darwinismo não precisa que a competição seja específica por um determinado
lócus, só é realmente necessário que ela exista e, neste caso, eles mesmos
concordam que há:
A competição pelo controle do comportamento é muito menos difusa que a
competição por atenção. Se duas variantes especificam comportamentos diferentes
no mesmo contexto, tipicamente apenas uma delas pode controlar o
comportamento. Podemos dirigir ou na esquerda ou na direita, e apenas os bêbados
235
ou os adolescentes estúpidos tentam as duas coisas. Em ambientes bilíngües, é
possível alterar rapidamente de uma linguagem para a outra, mesmo no meio de
uma frase; porém, entre uma palavra e outra, ou, pelo menos, entre um fragmento
de palavra e outro, só se pode falar uma língua de cada vez (Richerson & Boyd,
2006, p.74. Minha tradução).
Temos, então, dois tipos de competição: competição por atenção e
competição pelo controle do comportamento. Dentro da economia este tipo de
competição é chamado de “opportunity cost” (Dugatkin, 2000, p.98) que
basicamente significa que se você fizer uma coisa perde a oportunidade de fazer
todas as outras, simplesmente porque não podemos nos dedicar a todas de uma só
vez, é preciso escolher. Podemos acrescentar aí o que poderia se chamar de
competição cognitiva, pois certas variantes serão mais fáceis de serem lembradas,
aprendidas e usadas do que outras. Além disso, temos a competição direta entre
variantes causada por uma certa, porém limitada, necessidade de coerência
interna: a defesa do nazismo e dos direitos humanos dificilmente serão
encontradas em um mesmo indivíduo. Quando uma se estabelece torna mais
difícil a entrada da outra. É sempre importante deixar claro que quando se fala em
ambiente dos memes, não se está falando só das capacidades cognitivas humanas,
mas dos outros memes que já estão “instalados” e que podem trabalhar juntos ou
competir com os novos memes que desejam entrar. Tais formas de competição
são mais do que precisamos para que existam forças seletivas na cultura.
É possível ver que Richerson e Boyd se confundem um pouco em relação à
memética, confundindo-a com outras aproximações darwinistas da cultura que
tentam explicar o comportamento através dos genes. Podemos ver isso claramente
quando, logo no início de seu livro, eles tentam separar a sua abordagem da
memética e dizem:
A cultura é interessante e importante porque seu comportamento evolutivo é
distintamente diferente daquele dos genes. Por exemplo, dizemos que o sistema
cultural humano apareceu como uma adaptação porque ele pode causar a evolução
de adaptações sofisticadas a ambientes mutáveis muito mais rapidamente do que é
possível apenas através dos genes. A cultura nunca teria evoluído se ela não
pudesse fazer coisas de que os genes são incapazes (Richerson & Boyd, 2006, p.7.
Minha tradução).
Em sua ânsia por separar o que estão fazendo da memética, eles
consideram que qualquer diferença entre cultura e genes é o suficiente para
mostrar que a memética não procede, quase como se essa falasse que ambos são a
236
mesma coisa! Assim, eles querem se distanciar simplesmente porque acreditam
que a cultura é diferente dos genes e é justamente esta diferença que importa. No
entanto, deixam de perceber que é exatamente este o ponto da memética! Esta só
faz sentido porque cultura e genes são diferentes. Se a cultura só fizesse coisas
que os genes podem fazer, seria melhor abandonarmos a memética e começar a
estudar a sociobiologia ou a psicologia evolutiva.
Além disso, pode-se entender a transmissão cultural sem se usar o termo
“replicação”. Mas é necessário algo correlato que indique que o recebedor terá
que ter uma chance maior do que a média da população de ter a mesma “variante
cultural” do que o doador para falarmos em transmissão do que quer que seja!
Vemos isso nesta própria passagem deles:
As similaridades entre as populações ancestrais e descendentes surgem porque a
informação necessária foi transmitida de indivíduo para indivíduo ao longo do
tempo sem alteração significativa. As diferenças ocorrem porque algumas variantes
se tornaram mais comuns, outras mais raras, e foram introduzidas algumas
variações completamente novas. Assim, para explicar tanto a continuidade quanto a
mudança, precisamos entender os processos populacionais pelos quais as idéias são
transmitidas através do tempo (Boyd & Richerson, 2000, p.154. Minha tradução).
Fica claro que esta citação poderia estar em qualquer livro de memética, e se
trocado o termo “variantes” pelo termo “meme” ficaria uma ótima citação. Mas o
mais curioso é que respondendo a crítica que Sperber faz, principalmente contra a
memética, e que será vista na seção 10.1, Richerson e Boyd acabam respondendo
a sua própria crítica contra a discretização da memética:
Se fosse verdade que a evolução adaptativa dependesse criticamente das unidades
de transmissão, Darwin e todos os seus seguidores ainda estariam passando o
tempo, esperando que o desenvolvimento do trabalho mostrasse definitivamente
como os genes causam o aparecimento das propriedades dos organismos. A
compreensão de como complexos de genes interagem no desenvolvimento para
criar os traços sobre os quais a seleção incide é atualmente um dos principais
tópicos da biologia, se não o tópico principal. A visão de Darwin a respeito de
como a herança orgânica funcionava estava muito distanciada da idéia dos genes, e
envolvia, inclusive, a herança da variação adquirida. Mesmo assim, ele obteve
considerável sucesso, porque os processos darwinianos essenciais são tolerantes em
relação a maneira como a variação hereditária é mantida. Pela mesma razão,
podemos tratar como uma caixa preta o problema de como a cultura fica
armazenada nos cérebros empregando modelos plausíveis baseados em traços
observáveis que somos capazes de compreender e, assim, seguir adiante (Richerson
& Boyd, 2006, p.81. Minha tradução).
Em outras palavras, para a analogia entre genética e memética persistir não
é necessário nem que memes, e nem mesmo genes, sejam compreendidos como
237
unidades irredutíveis que passam fielmente entre gerações. A este respeito, a
memética se encontra em uma situação que não é tão diferente da genética quanto
poderia parecer. Pode-se criticar que memes não sejam unidades discretas, mas
Darwin também ignorava isso e não deixou de ter sucesso. Quando finalmente
descobriram a unidade dos genes, a genética molecular mostrou que era tudo
muito mais confuso do que se esperava (seção 1.7). A crítica que eles mesmos
fazem aos memes pode muito bem ser feita ao que passou a ser chamado,
pejorativamente, de “bean-bags genetic”, ou seja, a uma genética essencialmente
discreta. Como vimos, Dawkins gosta de ressaltar que o código genético deve ser
entendido como uma receita: um gene não funciona separado do outro (seção 1.4).
Tal citação ainda resolve um outro problema da memética que será chamado, no
último capítulo, de problema ontológico (seção 10.4). Eles deixam bem claro que,
no momento, podemos “black-box” o problema de como a cultura é guardada em
cérebros. Ou seja, podemos prosseguir sem saber exatamente a ontologia das
variantes culturais, e exatamente o mesmo vale para os memes!
Tomando a teoria de Richerson e Boyd em conjunto, ela parece ser mais
aceitável para antropólogos e cientistas sociais por não tratar a cultura como
unidades discretas. Mas essencialmente ela não difere do que Feldman e CavalliSforza estão fazendo, utilizando, quando necessário, e sem maiores preocupações,
uma análise discreta da cultura. Pois como os próprios Richerson e Boyd
admitem, ao se fazer ciência, devemos utilizar modelos exageradamente
simplistas, pois de outro modo é impossível tratar rigorosamente do que quer que
seja. Em suas próprias palavras:
De modo a efetivamente progredir com o trabalho teórico ou empírico, é preciso
que sejamos capazes de simplificar, simplificar, e então simplificar ainda mais (...)
Agradam-nos os modelos simples que são caricaturas deliberadas do mundo real
(...) Nenhum cientista sensível pensa que a complexidade do mundo orgânico ou
cultural pode ser subsumida sob umas poucas leis fundamentais da natureza, ou
capturada em uma pequena gama de experimentos. O “reducionismo” da ciência
evolutiva é puramente tático (Ricerson & Boyd, 2006, p.98. Minha tradução).
Isto que eles falam deve ser considerado válido para todas as ciências
evolutivas, não só as teorias da co-evolução, mas igualmente para a genética e
para a memética. Na verdade, vale para qualquer ciência, evolutiva ou não. Se
levarmos em consideração que a discretização na memética, assim como na
genética, é uma simplificação para permitir o trabalho científico, temos que a
238
principal crítica deles contra a memética é respondida por eles mesmos. Dada
todas estas semelhanças, o próprio Dawkins também parece considerar, embora
não seja claro, que as análises de Richerson e Boyd sejam memética (cf. Dawkins,
2007, p.259). Ele não foi o único:
A teoria da co-evolução gene-cultura é um ramo relacionado da genética de
populações, ramo este que modela a interação entre os genes e os memes através do
curso da evolução humana. Independentemente do fato de que a evolução dos
memes ocorre exclusivamente no nível cultural ou através de uma interação entre
memes e genes, já existe um corpo formal de obras teóricas que pode ser usado
para explorar processos meméticos, testar hipóteses e modelar dados (Laland &
Odling-Smee, 2000, p.136. Minha tradução).
Por isso Laland e Brown afirmaram que: “A co-evolução gene-cultura é
como um cruzamento híbrido entre a memética e a psicologia evolucionista,
misturada com um pouquinho de rigor matemático” (Laland & Brown, 2002,
p.242. Minha tradução). Ambas inclusive estão sujeitas as mesmas críticas, sendo
que se a co-evolução parece escapar destas críticas é só porque eles decidiram dar
um enfoque metodológico diferente. Mas ao que tudo indica, fazer uma separação
rígida entre as teorias da co-evolução e a memética seria enganoso. A única
grande diferença é que a co-evolução visa estudar a relação entre memética e
genes, não trata da evolução cultural por conta própria, que é o enfoque principal
da memética. Neste sentido, seria exagero dizer que memética e co-evolução
seriam a mesma coisa. Mas de todas as abordagens tratadas aqui elas são as mais
relacionadas. No entanto, a união feita pela co-evolução entre evolução cultural e
evolução genética em muito interessa a memética e pode ser utilizada por esta em
seus estudos sem a necessidade de se fazer grandes modificações. Mas ambas
claramente se unem na perspectiva maior de explicar o comportamento, a cultura
e a história do ser humano de uma perspectiva darwinista.
4.10
Final
Vimos até aqui que muitas confusões podem ser feitas em relação à
memética. A maioria delas foi motivada devido a memética fazer parte de um
grupo mais amplo de tentativas de explicar a cultura através da teoria de Darwin.
239
No entanto, vimos claramente que a memética se opõe à maioria destas teorias,
pois propõe estudar o comportamento e a cultura de maneira independente dos
genes. Neste sentido, de todas as abordagens que tratamos aqui, a memética
mantém mais relações com as teorias da co-evolução:
Advogados da coevolução gene-cultura compartilham com os defensores da
memética, e com a grade maioria dos cientistas sociais, a visão de que o que faz a
cultura diferente dos demais aspectos do ambiente é o conhecimento que é passado
entre os indivíduos. A cultura é mantida e herdada em uma cadeia infinita,
freqüentemente adaptada e modificada para produzir alterações evolutivas
cumulativas. Essa propriedade de transmissão infecciosa e baseada em informações
é o que permite que a cultura se altere rapidamente, que novos comportamentos se
propagem através da população, que as pressões de seleção que atuam sobre os
genes sejam modificadas, e que uma influência tão poderosa seja exercida sobre
nosso desenvolvimento comportamental (Laland & Brown, 2002, p.249. Minha
tradução).
Podemos, assim, fazer uma espécie de limpeza conceitual que deixa mais
claro o que a memética é, distinguindo-a de tudo o que ela não é. Mas o mais
importante feito aqui foi perceber que mesmo onde a memética não tem uma
ligação direta com estas determinadas áreas, ainda assim estas podem ser bastante
úteis para a memética, pois trabalham com o principal ambiente dos memes.
5
Antropologia: amor e ódio
Para muitos antropólogos a parte biológica do comportamento humano é
reduzida ao mínimo possível, dizendo respeito somente às funções vitais. Até
mesmo alguns instintos básicos seriam recusados: o instinto de conservação não
poderia existir, dado os kamikazes japoneses; nem o instinto materno, dado o
infanticídio que ocorre em muitas tribos indígenas; ou o instinto filial, dado o
abandono de idosos pelos esquimós, etc (cf. Laraia, 2006, p.51). Para eles, o fato
de existirem sociedades onde tais instintos aparentemente não estão presentes
significa que eles não são universais biológicos humanos, mas comportamentos
culturalmente determinados. O comportamento humano deveria ser explicado
quase que exclusivamente pela cultura, ou seja, seria aprendido após o
nascimento. Tal teoria foi corretamente descrita por Pinker como uma
reformulação contemporânea da tábula rasa defendida na modernidade (cf. Pinker,
2004).
Um caso paradigmático, e que ficou muito conhecido, foi o de Margaret
Mead que fez uma pesquisa junto aos Samoanos (1967) que foi considerada como
“a demonstração definitiva de que os fatores culturais são mais determinantes que
os fatores biológicos na vida do ser humano” (Marconi & Presotto, 2006, p.193).
Mead observou, durante um ano, a total ausência de tensão e repressão sexual
entre os adolescentes de Samoa, mostrando não só que determinados tabus sexuais
eram culturais, mas que a própria noção de adolescência também o era. Suas
pesquisas foram consideradas pelos antropólogos como uma verdadeira prova da
soberania da cultura.
Mas as pesquisas de Mead foram definitivamente refutadas por Derek
Freeman que conviveu 40 anos com estes grupos, mostrando que “praticamente
todas as afirmações da antropóloga estavam equivocadas” (Marconi & Presotto,
2006, p.193). A sociedade samoana era extremamente repressora e até punitiva
em relação aos desvios sexuais. A falha de Mead talvez tenha sido por causa do
seu pouco convívio, por não dominar a língua e pelo fato de ser uma mulher que
não poderia participar das reuniões masculinas. Mas este caso particular pouco
241
importa aqui, o importante é notar como uma única pesquisa, feita por uma única
autora, durante apenas um ano e em apenas uma comunidade, teve uma influência
tão grande na opinião pública a respeito do papel da biologia no comportamento
humano! Tal extrapolação de um caso particular é injustificável, mesmo se Mead
estivesse correta, pois ignora completamente o fato de que tais relações entre
comportamento e biologia são relações estatísticas.
Isto é apenas um exemplo de como a controvérsia que se instaurou entre as
explicações antropológicas e biológicas do comportamento deixou de ser uma
disputa saudável entre explicações divergentes e se transformou em uma guerra
onde cada um defende sua trincheira conceitual seja de que modo for. Tal guerra
não é benéfica para nenhum dos dois lados, pois quando o diálogo não é possível
perde-se até a mesmo a possibilidade de discutir devidamente.
A história desta controvérsia entre cultura e biologia já é bem antiga, tendo
quase um século de vida. Em sua crítica ao evolucionismo cultural, Franz Boas
disse acertadamente que não deveríamos procurar as diferenças entre os povos em
diferenças biológicas entre os homens (cf. Boas, in: Castro, 2006, p.60). Nisso ele
estava correto, as diferenças biológicas entre os homens são mínimas e não
dariam conta das diferenças étnicas. Tais diferenças deveriam ser buscadas na
cultura e não nos genes. Mas infelizmente esta idéia foi extrapolada dentro das
ciências humanas para uma outra que diz que não devemos buscar nenhum
aspecto do comportamento humano na genética. É bastante claro que uma coisa
não se segue da outra. Tal extrapolação é justamente o que causa uma gama de
mal-entendidos.
As diferenças entre os grupos realmente não têm um forte fator genético,
mas isso não quer dizer que as semelhanças entre eles não possam ter esta origem,
assim como também as diferenças entre indivíduos. É exatamente por isso que a
maioria das pesquisas sobre fatores genéticos do comportamento ou tratam das
semelhanças entre os mais diferentes grupos, como por exemplo, pesquisas sobre
a maior agressividade do sexo masculino, ou tratam das diferenças e semelhanças
entre indivíduos, como por exemplo, pesquisas entre gêmeos que foram criados
em ambientes diferentes e sem contato entre eles (seção 4.3). Praticamente não se
fazem pesquisas que tentam explicar as diferenças entre grupos étnicos! E este é
exatamente o tipo de pesquisa que os antropólogos costumam temer, pois deu
242
origem à eugenia com a noção de “raça pura”. Mas o próprio conceito de raça
humana não é aceito dentro da biologia. Nas palavras de Cavalli-Sforza:
A variação entre dois indivíduos escolhidos a esmo numa população será cerca de
85% daquela existente entre dois indivíduos da população mundial escolhidos
aleatoriamente (Cavalli-Sforza, 2003, p.50).
Isto significa que a própria biologia não só admite, como mostra
matematicamente, que a diferença genética entre as diversas populações, e nisso é
possível incluir os grupos raciais mais restritos, é praticamente a mesma que a
diferença entre quaisquer dois indivíduos escolhidos ao acaso. Ou seja, não existe
diferença genética entre raças e com isso acaba também a idéia de raça humana
como uma distinção biológica. Não existem raças humanas, mas mesmo se
existissem, não seria possível retirar da biologia a atitude “ética” de considerar
uma raça melhor do que a outra. Além disso, a própria noção de “raça pura”, que
muitos dizem se originar na biologia, deveria significar algo do tipo “população
sem muita variação genética”. Mas sabemos que isso ao invés de fortalecer uma
raça a enfraquece, pois a evolução se encontraria com um pool genético restrito no
qual poderia trabalhar para buscar as melhores adaptações. Além disso, a
experiência que se tem com “raças puras” de animais nos mostra que isso só é
razoavelmente possível com a reprodução entre parentes, o que por si só tende a
aumentar a possibilidade do surgimento de configurações genéticas deletérias.
Não há nenhum motivo biológico para buscar uma “raça pura”.
Se a própria biologia nega a idéia de raças humanas, então não devemos
temer que de dentro dela possa surgir algum tipo de racismo. Muito pelo
contrário, o racismo se mostra, antes de mais nada, como um fenômeno
tipicamente cultural! Mas sabemos isso hoje. Não muito tempo atrás a biologia
era utilizada com fundamentação científica do racismo e da eugenia. Por isso Boas
foi extremamente importante:
Boas ficou extasiado, porque ele parecia o general de um pequeno exército que
estava lutando contra a causa da determinação genética absoluta das diferenças
raciais fixas, a qual estava sendo defendida por um exército muito maior de
eugenistas e outro ideólogos racistas (Plotkin, 2004, p.62. Minha tradução).
Como já foi dito, é inquestionável o papel lamentável pelo qual a biologia
teve que passar em mãos erradas quando foi motivo para fundamentar
cientificamente preconceitos culturais pré-existentes (seção 4.8). Isto é válido
243
desde o evolucionismo cultural que classificava as sociedades de acordo com um
padrão elitista, até o nazismo e outras formas de preconceito que visavam
“purificar” uma determinada raça50.
Para tais antropólogos “a sua herança genética nada tem a ver com as suas
ações e pensamentos, pois todos os seus atos dependem inteiramente de um
processo de aprendizado” (Laraia, 2006, p.38). O homem teria se libertado da
natureza através da cultura (cf. Laraia, 2006, p.41). E qualquer tentativa de se
defender alguma habilidade inata é logo assemelhada à teoria de Cesare
Lombroso, criminalista italiano do fim do século XIX que teve bastante sucesso
com suas análises que relacionavam comportamentos e tipos físicos (seção 4.8).
Este preconceito antropológico chega a tal limite que quando surge uma teoria
como a memética, que não visa explicar a cultura através da genética, acaba sendo
rechaçada como mais uma tentativa da biologia de dominar a antropologia!
Vários são os relatos da forma até mesmo violenta, chegando inclusive perto
da agressão física, que alguns pesquisadores tiveram que passar porque tentaram
unir biologia e cultura, explicando parte das ações humanas através de
mecanismos biológicos. O caso de Edward Wilson, criador da sociobiologia, é
talvez o mais conhecido, tendo alguns manifestantes chegado absurdamente perto
de agredi-lo (seção 4.3)!
O grande medo dos antropólogos, historiadores, sociólogos etc. tem um
nome: determinismo genético. Como já vimos nos dois primeiros capítulos, tal
determinismo não é assim tão determinante (seção 1.12.5 e capítulo 2). Na
verdade, podemos dizer que ele sequer existe, pois o funcionamento genético não
se dá a despeito do ambiente em que se encontra51. Já vimos que um gene só tem
um determinado efeito em um determinado ambiente. O efeito que um gene tem
depende de sua relação com outros genes e com o ambiente. Uma mesma semente
da planta Saggitaria saggittifolia, por exemplo, terá dois formatos bastante
diferentes dependendo se ela vai brotar na terra ou na água (cf. Bonner, 1980,
p.136). Por este motivo, a rigor nenhum biólogo pode falar em um determinismo
genético estrito. Não existem genes que possam ignorar completamente o
50
Mas talvez o mais curioso de tudo é que se existisse “raça pura” eles não poderiam ser os
europeus, pois eles são frutos de fusões de duas migrações distintas. “Os europeus são dois terço
asiáticos e um terço africano” (Cavalli-Sforza, 2000, p.107).
51
O próprio Pinker, considerado um dos grandes defensores do determinismo genético, diz isso.
Cf Pinker, 2004, p.77. O mesmo vale para Dawkins!
244
ambiente no qual eles são ativados. Já vimos também com Jablonka (seção 1.5)
que a própria ativação ou não dos genes depende do ambiente em que eles estão, e
o mesmo vale para como eles serão ativados e qual será o seu resultado. Dizer que
algo pode ser exclusivamente determinado pelos genes não é só um erro
antropológico, é também um erro biológico! Nas palavras de Sterelny & Griffiths:
Com exceção das mutações que são letais independentemente das condições,
reconhece-se universalmente que nenhum traço de qualquer organismo pode
desenvolver-se a não ser que estejam dados inputs ambientais propícios (Sterelny &
Griffiths, 1999, p.13. Minha tradução).
Se considerarmos que o próprio organismo onde este gene está, bem como
os outros genes que se relacionam com ele, fazem parte do ambiente deste gene,
então não é exagero falar que absolutamente nenhum gene funciona
independentemente do ambiente. Mas mesmo em uma definição mais restrita do
termo “ambiente”, o chamado determinismo genético, como Sterelny & Griffiths
falaram, simplesmente não existe!
A falta de compreensão de que o determinismo genético não existe se alia
com a falta de compreensão de que as pesquisas que relacionam genes e
comportamento são estatísticas e acabam criando um monstro que só existe na
cabeça daqueles que o temem. Quando um geneticista, por exemplo, diz que
homens são mais agressivos do que mulheres por causa de uma maior produção
de testosterona, ele não está relatando uma lei, um princípio inviolável. Ele está é
mostrando uma relação estatística. Está dizendo que, de forma geral, os homens
tendem a ser mais violentos do que as mulheres. Isto quer dizer que se um
antropólogo achar alguma população vivendo em algum canto isolado do mundo
onde as mulheres são mais violentas, ele não estará refutando a afirmação
anterior. Em análises estatísticas é de se esperar que uma série de exceções
existam, de outro modo a própria análise não faria sentido. Mas o fato de que
ainda hoje tais antropólogos tentem refutar tais análises com casos isolados, como
acabamos de ver no caso dos diversos instintos, só nos mostra que eles estão
lutando contra um certo determinismo (se for homem, então é violento) que
simplesmente não existe. Ou pelo menos não existe mais.
Do mesmo modo que um gene não pode ser entendido fora de seu ambiente,
um comportamento, mesmo um comportamento aprendido ou imitado, tem
sempre um lado genético. Afinal de contas, a nossa capacidade de aprender e de
245
imitar, como veremos no capítulo sobre os neurônios-espelhos (capítulo 7), é ela
mesma uma capacidade biológica que se desenvolveu durante a evolução do ser
humano através da seleção natural, assim como qualquer outra característica física
nossa. Separar biologia e cultura é criar uma divisão inexistente. Curiosamente,
segundo Steven Pinker, esta divisão já não é aceita mais entre os biólogos, mas
infelizmente ainda o é pelos antropólogos que defendem a total dominação da
cultura, no que só poderia ser chamado de determinismo cultural. Até porque “não
há nenhuma razão para esperar que influências genéticas sejam menos
irreversíveis do que influência ambientais” (Dawkins, 1999, p.13)! Para refutar a
doutrina do determinismo cultural, mas não para defender o determinismo
genético, Pinker escreveu logo no início de um de seus últimos livros:
A idéia de escrever este livro ocorreu-me quando comecei a fazer uma coleção de
assombrosas afirmações de sumidades e críticos sociais acerca da maleabilidade da
psique humana: os meninos brigam e lutam porque são incentivados a isso; as
crianças gostam de doces porque os pais os usam como recompensa por comerem
verduras; os adolescentes têm a idéia de competir na aparência e na moda por causa
dos concursos de ortografia e prêmios acadêmicos; os homens pensam que o
objetivo do sexo é o orgasmo devido ao modo como foram socializados (Pinker,
2004, p.13).
Esta coleção criada por Pinker é justamente fruto do preconceito que deu
origem ao determinismo cultural, que não é mais do que outro nome para tábula
rasa. O mais importante é notar que nem um determinismo e nem o outro é
satisfatório. Ambos não são capazes de dar conta do comportamento humano.
Além disso, também não é viável tentar fazer uma separação do tipo “alguns
comportamentos são explicados pela biologia e outros pela cultura”. Tal estratégia
só manteria a segregação entre estas duas áreas quando o que se deve buscar é a
união. Um comportamento, seja ele qual for, normalmente será uma mescla de
motivações biológicas e culturais. Um simplesmente não se dá sem o outro. A
cultura não está solta, livre da biologia, e a biologia não existe sem um ambiente.
Infelizmente não será possível trabalhar estas questões aqui. A discussão que
ficou conhecida como Nature vs. Nurture por si só ocupa vários livros, artigos e
teses. Basta neste momento constatarmos que explicar a cultura e o
comportamento humano através da biologia é considerado algo tão perigoso pela
antropologia que deve ser imediatamente ignorado. Embora existam motivos
históricos para isso, não existem motivos conceituais. Teme-se um determinismo
246
genético que, a rigor, não existe. Por isto estas críticas, ao invés de serem
respondidas, podem ser simplesmente ignoradas, pois elas atacam um ponto de
vista que simplesmente não é de ninguém52.
Mas apesar de todas estas divergências que foram aqui apresentadas, é
possível encontrar largas semelhanças entre o fazer antropológico e o fazer
memético. Algo que já deveria ser mais do que esperado, já que ambos visam
discutir a cultura e, mais importante ainda, ambos visam discuti-la nela mesma, ou
seja, tratar a transmissão cultural de maneira independente da transmissão
genética.
Apresentaremos aqui brevemente algumas semelhanças entre a antropologia
e a memética com o intuito de começar a construir uma ponte conceitual comum
onde um diálogo seja possível. Faremos algo semelhante no próximo capítulo com
a lingüística. O intuito é somente apresentar alguns poucos conceitos e idéias da
antropologia que poderiam ser reutilizados pela memética, é claro que dentro de
uma estrutura conceitual bem diferente, e que por isso servem como um lugar
comum onde estas duas áreas podem focar mais nas suas semelhanças do que nas
suas diferenças. Isso permite que exista uma compreensão mútua, algo que é
indispensável mesmo quando se está querendo discordar. Mas antes de entrarmos
neste assunto, é preciso tratar do objeto de ambas: a cultura.
5.1
Você Tem Sede de Quê?
A palavra cultura tem tantos significados e tons diferentes que, ao mesmo
tempo em que se torna importante definir do que estamos falando, torna-se
também quase impossível fazer isso. No entanto, não só por rigor conceitual, mas
também por respeito, a memética deve, no mínimo, escolher e defender um
determinado conceito de cultura com o qual ela pretende trabalhar. Dizemos que é
antes de tudo uma questão de respeito porque ao trabalhar com a cultura a
memética entra na área de várias outras disciplinas que já estudam tal tema há
52
Aqui deve ser feita uma ressalva: infelizmente os relatos da mídia sobre as descobertas genéticas
do comportamento estão cobertas de referência ao determinismo genético e ela é em grande parte a
culpada pela invenção deste monstro. Mas uma discussão teórica séria não deve levar em
consideração manchetes sensacionalistas!
247
mais de um século. Há muito tempo estas áreas de estudo vêm tentando definir o
conceito de cultura e até o momento a memética simplesmente ignorou tal
trabalho de forma que foi corretamente considerada como arrogante.
Não devemos esperar que a memética defina de uma vez por todas o que é
cultura e termine com este assunto. O que esperamos é que ela ao menos entre
nesta discussão e proponha e defenda o seu conceito ou então assuma
publicamente a adequação a um conceito já existente.
Com este intuito apresentaremos aqui uma parte inicial desta discussão
visando assumir uma posição da memética dentro da mesma, mas sempre tendo
em mente que muitas tentativas de definir a cultura deverão ser feitas ainda pela
memética no futuro. Não proporemos aqui a criação ou mesmo a defesa de um
conceito de cultura tipicamente memético. O que buscamos é algo muito mais
simples, buscamos somente a inclusão da memética dentro da discussão sobre o
que é a cultura.
O termo cultura tem muitos significados, curiosamente alguns deles de
entonação biológica. Ter uma cultura de algo significa ter uma lavoura, uma
criação de alguma entidade biológica. É um termo muito usado quando se faz, por
exemplo, cultura de bactérias para estudo. Nas palavras de Eagleton:
A raiz latina da palavra ‘cultura’ é colere, o que pode significar qualquer coisa,
desde cultivar e habitar a adorar e proteger. Seu significado de ‘habitar’ evoluiu do
latim colonus para o contemporâneo ‘colonialismo’(...).. Mas colere também
desemboca, via o latim cultus, no termo religioso ‘culto’ (Eagleton, 2005, p.10).
Estas ligações da palavra cultura se mantêm até hoje. Cultuar e cultivar são
palavras ainda muito próximas no português, assim como usamos o termo “culto”
tanto para o ato religioso quanto para uma pessoa de largos conhecimentos. Já
podemos ver, mesmo neste sentido inicial do termo que é tão distante do sentido
que usaremos na memética, alguns indícios do que normalmente chamamos de
cultura. Há uma relação entre a noção de criar, fazer crescer, desenvolver,
tipicamente física e biológica, com a noção mais mentalista de admirar, conhecer,
aprofundar. Se unirmos as duas poderíamos ter, por exemplo, uma noção de
“fazer crescer o conhecimento”, algo que já se aproxima bastante do que
entendemos por cultura.
As possibilidades de se trabalhar com este termo vão além: no nosso próprio
uso cotidiano ele já se mostra bastante polissêmico. Cultura muitas vezes é usada
248
como sinônimo de civilização. Ter cultura é ser civilizado, ter bons modos, saber
ler, escrever e se expressar bem. Vamos ao cinema ou ao teatro em busca de um
pouco de cultura. Neste sentido cultura está associada a noção de “Alta Cultura”
que originalmente era oposta ao barbarismo e à selvageria. Existe dentro desta
concepção uma clara elitização. Alguns filmes, por exemplo, seriam “cultura”
enquanto outros seriam “puro entretenimento”. Neste sentido o termo “cultura”
está diretamente associado ao termo “culto”.
No entanto, neste último século, principalmente depois dos estudos de
antropólogos como Franz Boas, houve uma mudança radical na significação deste
termo. Tal termo perdeu grande parte do seu caráter elitista e segregador e passou
a ser considerado como muito mais abrangente. Cada povo, cada grupo, passou a
ser considerado como tendo uma cultura que deve ser respeitada, estudada e até
defendida das influências externas. É o surgimento do relativismo cultural.
Enquanto o índio era antes o selvagem sem cultura, ele passa a ser agora
justamente o defensor de uma cultura que deve ser protegida da invasão de
culturas dominantes como a nossa cultura ocidental contemporânea. Na medida
em que nossa cultura destrói outras culturas pelo mundo afora, deixamos de ser os
cultos e passamos a ser os bárbaros! “Numa inversão curiosa, os selvagens agora
são cultos, mas os civilizados, não” (Eagleton, 2005, p.50).
A cultura deixou de ser um grupo de valores superiores de um grupo
dominante e passou a ser “aproximadamente resumida como o complexo de
valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo
específico” (Eagleton, 2005, p.54), onde o termo chave é justamente a palavra
“específico”. Quanto mais particular, mais raro, mais específico, maior é o valor
de tal cultura. Uma língua falada somente por um punhado de índios, por
exemplo, merece muito mais uma atenção do que uma outra mais difundida.
Tal termo, então, originalmente significava algo de maior, grandioso, que
superava as nossas particularidades e exigia estudo e atenção dedicada. Ser
civilizado ou culto não era tarefa simples, demandava dedicação para submergir
nas grandes criações dos maiores gênios da humanidade. Era preciso estudar as
maiores obras que o homem já criou para ser considerado culto. Na verdade, ser
culto ainda é, de algum modo, sair de si e entrar no que de melhor o ser humano
produziu até então. Algo de etéreo, abstrato, superior, sublime, além do homem.
Curiosamente o termo cultura passou a significar quase que seu oposto. Ao
249
contrário de buscar uma identidade humana universal, procurar pela cultura é hoje
buscar uma identidade típica, particular, regional, específica. Quanto menos
universalizante e globalizante melhor. A cultura não é mais o consenso do que há
de melhor na humanidade, mas o conflito do que há de idiossincrático em cada
grupo.
Ainda hoje se discute o conflito entre alta cultura e cultura de massa, ou
Cultura vs culturas. Mas mesmo dentro desta distinção não é mais possível deixar
de reconhecer que cultura de massa também é cultura. Neste caso, a concepção da
cultura como certos comportamentos idiossincráticos que, de certo modo, definem
as relações internas de um povo ganhou destaque em relação ao conceito de
cultura como civilização.
5.2
Cultura
A primeira definição do termo cultura foi dada por Edward Tylor em 1871
em seu livro Primitive Culture logo na primeira página do primeiro capítulo.
Segundo ele o termo cultura:
Tomado em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui
conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e
hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade (Tylor, in:
Castro, 2005, p.69).
Após Tylor,
literalmente centenas de novas definições surgiram.
Curiosamente veremos em breve que logo esta primeira definição de Tylor já é
suficientemente boa para ser utilizada na memética, pois sua definição acaba
sendo similar à cultura tratada como “todo o comportamento aprendido, tudo
aquilo que independe de uma transmissão genética” (Laraia, 2006, p.28). Tal
definição é considerada por alguns como excessivamente abrangente (cf.
Eagleton, 2005, p.55) de modo a se tornar pouco útil, abrangendo praticamente
tudo. Esta crítica não é sem fundamento, mas uma definição da cultura que deve
ser aceita pelas mais diversas áreas científicas que a estudam acabará sendo
sempre abrangente, cabendo a cada área específica uma melhor delimitação deste
conceito de acordo com seus interesses.
250
O conceito de Tylor era bastante amplo e neutro de modo a incluir
igualmente os mais diversos tipos de atividades culturais. Mas assim que todas
elas eram incluídas, eram logo classificadas dentro de uma escala que ia dos
povos selvagens até as civilizações européias. Era o chamado evolucionismo
cultural, doutrina que previa uma evolução unilinear de todos os povos: todos eles
percorreriam as mesmas etapas de um extremo ao outro em um caminho
progressivo que saía da selvageria e ia até a civilização (seção 4.8). Não só Tylor,
como também Frazer, Spencer, Morgan e outros, defenderam idéias semelhantes a
esta. Nas palavras de Morgan:
A selvageria precedeu a barbárie em todas as tribos da humanidade, assim como se
sabe que a barbaria precedeu a civilização. A história da raça humana é uma só – na
fonte, na experiência, no progresso (Morgan, in: Castro, 2005, p.44).
Frazer chega a comparar a passagem do selvagem para o civilizado com a
passagem da infância para a idade adulta em uma clara alusão à teoria da
recapitulação (cf. Frazer, in: Castro, 2005, p.107)53. Tal idéia de cunho claramente
Spenceriano estava na origem da antropologia e embora tenha trazido grandes
avanços, tinha como fundamento um preconceito que é hoje intolerável.
O principal pesquisador que reagiu a este preconceito foi Franz Boas (1858 1952), conhecido como pai da antropologia moderna, criticando o evolucionismo
e mostrando que cada cultura tinha sua história particular dentro da qual deveria
ser entendida. Nasce o multiculturalismo e o relativismo cultural que aceita cada
cultura dentro de seus próprios pressupostos. Nas palavras de Boas:
Se admitimos que é possível existirem diversos tipos definitivos e coexistentes de
civilização, fica evidente que não se pode manter a hipótese de uma única linha
geral de desenvolvimento (Boas, in: Castro, 2006, p.42).
Ao contrário dos evolucionistas, Boas não acreditava em grandes sistemas
que valeriam para toda a humanidade. Cada cultura, cada povo, deveria ser
estudado dentro da sua história e respeitando a sua individualidade. O método
comparativo utilizado pelos evolucionistas dá lugar ao método histórico de Boas e
a palavra cultura começa a ser usada no plural. Já é possível ver em Boas também
um afastamento da biologia que, como acabamos de ver, tomou hoje uma
proporção quase doentia dentro da antropologia. Ele acreditava que a constituição
53
Curiosamente Frazer também propõe uma teoria semelhante a memética ao falar da luta pela
sobrevivência na esfera mental (cf. Frazer, in: Castro, 2005, p.115).
251
hereditária tinha influência comportamental, mas “qualquer tentativa de explicar
as formas culturais numa base puramente biológica está fadada ao fracasso”
(Boas, in: Castro, 2006, p.60). Como já vimos ,ao contrário de ser uma crítica à
memética, esta constatação de Boas é justamente o que permite a existência dela
(seção 3.1 e 4.3).
A crítica de Boas ao evolucionismo colocou por terra a idéia de que existiria
uma grande unidade, sendo que os diversos povos só representariam diversos
estágios na evolução do que seria, no fundo, uma mesma cultura. O termo
“cultura” perde a sua unidade para toda a humanidade e com a multiplicação da
cultura também vem a multiplicação dos conceitos que visam definir o que é a
cultura.
Marconi e Presotto (2006, p.21) dizem que o número de definições deste
conceito já passou de 160! Tratar mesmo uma pequena porção destes conceitos
aqui seria impraticável, não só pelo número de conceitos, mas pela complexidade
do tema. A memética, caso pretenda se fundamentar como uma ciência, terá que
indubitavelmente se apropriar desta discussão e defender um conceito que lhe seja
mais próximo. Infelizmente o que os defensores da memética têm feito até agora é
simplesmente ignorar este problema deixando os antropólogos corretamente
irritados.
Pretendemos aqui dar somente o primeiro passo desta caminhada da
memética em direção à antropologia. Para isso só um grupo pequeno de conceitos
serão apresentados, mas na tentativa de que sejam conceitos representativos de um
todo maior. Dentre estes conceitos, um em particular será indicado como mais
conveniente para a memética e que fornecerá a base onde futuros pesquisadores
desta área poderão começar a trabalhar.
O primeiro conceito de cultura já foi apresentado: é o de Tylor. Seu grande
opositor, Boas, apresenta um outro conceito de cultura mas que é considerado
como fazendo parte do mesmo grande grupo de Tyler. Para Boas a cultura é “a
totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam o
comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social” (1964, p.166 in:
Marconi & Presotto, 2006, p.22). Tylor, Boas, Linton, Malinowski e outros
podem ser agrupados como tratando a cultura como idéias ou crenças que podem
dar origem a padrões de comportamentos e costumes. A cultura seria de algum
modo um fenômeno mental.
252
Também poderiam estar incluídos neste grupo W. Goodenough por tratar a
cultura como “tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar
de maneira aceitável dentro de sua sociedade” (Goodenough, in: Laraia, 2006,
p.61). Embora mais pragmático, a cultura permanece como uma forma de
conhecimento e crença mental. De maneira diversa, mas dentro de um grande
grupo que definiu conceitos idealistas de cultura, estaria também Claude LéviStrauss ao tratar a cultura como “um sistema simbólico que é uma criação
acumulativa da mente humana” (Keesing, in: Laraia, 2006, p.61).
Já para Kroeber e Kluckhohn, Beals e Hoijer a cultura seria constituída de
abstrações do comportamento (cf. Marconi & Presotto, 2006, p.22). Para eles a
cultura não deve ser confundida com o próprio comportamento ou os artefatos
produzidos por tal comportamento. No entanto, Leslie A. White criticava tal
conceitualização como demasiadamente intangível e imperceptível, não sendo
capaz de fundar uma ciência. A cultura deveria ser de algum modo observável,
embora não fosse o próprio comportamento. Vimos uma crítica semelhante de
Sperber contra Dennett, em relação ao papel da abstração na memética, na seção
3.2. Deste modo ela é definida como:
Quando coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são considerados e
interpretados num contexto extra-somático, isto é, face à relação que têm entre si,
ao invés de com os organismos humanos (Marconi & Presotto, 2006, p.23);
Vemos já aí uma tentativa de estudar a cultura nela mesma. Observa-se o
comportamento, mas tratando as suas relações não com o mundo físico e sim com
os outros comportamentos. Ao fazer isso já se abre um caminho por onde a
memética pode entrar. Mas foi Felix M. Keesing que apresentou um conceito que
poderia ser usado, pelo menos inicialmente, pelos defensores da memética. Para
ele a cultura é:
Comportamento cultivado, ou seja, a totalidade da experiência adquirida e
acumulada pelo homem e transmitida socialmente, ou, ainda, o comportamento
adquirido por aprendizado social (Keesing, 1961, p.49, in: Marconi & Presotto,
2006, p.23).
O enfoque que ele dá ao fato de que cultura é comportamento socialmente
adquirido exclui praticamente só o comportamento geneticamente adquirido e cria
aquele conceito mais amplo de cultura mencionado no começo deste capítulo.
253
Junto com Keesing, temos ainda G.M.Foster que amplia ainda mais este conceito,
mas ainda mantendo o enfoque na transmissibilidade:
A forma comum e aprendida da vida, compartilhada pelos membros de uma
sociedade, constante da totalidade dos instrumentos, técnicas, instituições, atitudes,
crenças, motivações e sistemas de valores conhecidos pelo grupo (Foster, 1964,
p.21, in: Marconi & Presotto, 2006, p.23).
Foster, então, amplia o conceito de Keesing para incluir elementos materiais
e não materiais. Deste modo, cria uma definição de cultura como a transmissão de
ambos os elementos dentro de uma sociedade. De certo modo, podemos dizer que
ele une Keesing e White criando, assim, um conceito de cultura provindo de
dentro da própria antropologia e que poderia ser largamente adotado pela
memética.
Infelizmente, dado o estado atual da questão, antropologia e memética se
encontram em campos opostos. Os defensores da memética muito frequentemente
se originam da ciência biológica ou são filósofos da biologia, já os antropólogos
são cientistas sociais que, infelizmente, uniram a crítica ao evolucionismo
antropológico a uma certa recusa a tudo o que é biológico no comportamento
humano. No entanto, é possível buscar dentro da própria antropologia conceitos
que podem ser utilizados pela memética e, deste modo, construir uma ponte que
permita a melhor compreensão entre ambos.
5.3
Antropologia e Memética: um breve diálogo
A antropologia pode ser dividida em três grandes áreas. Se retirarmos a
antropologia filosófica, que faz mais parte da própria filosofia, ficamos com a
antropologia social e/ou cultural e a antropologia física. Ambas têm como objeto
o homem e suas obras, mas com um enfoque diferente. A antropologia física,
também chamada de biológica,
estuda a natureza física do homem, procurando conhecer suas origens, evolução,
sua estrutura anatômica, seus processos fisiológicos e as diferentes características
raciais das populações humanas, antigas e modernas” (Marconi & Presotto, 2006,
p.4).
254
Esta pode ser dividida em diversas áreas. Entre elas estão a Paleontologia
humana, que estuda a origem e evolução humana através dos fósseis; a
Somatologia, que estuda as variedades físicas dos homens; a Antropometria, que
estuda as técnicas de medição do corpo humano; entre outras. Percebe-se que a
antropologia física não é similar a memética, mas pode ser estudada ao lado desta,
por tratar do homem enquanto ser físico, que seria o principal ambiente ao qual o
meme deve se adaptar. De maneira semelhante a própria biologia tem muito a
ganhar com os estudos da geografia, geologia e meteorologia, como fica evidente
pela biogeografia e pela teoria da vicariância, que será explicada na seção 9.7.
Dentre os ramos da antropologia física, a paleontologia seria indubitavelmente a
área que mais interessaria à memética, pois, como veremos na próxima seção, há
indícios de que a evolução humana se deu largamente através da relação entre
organismo e cultura.
No entanto, seria a antropologia cultural que mais interessaria à memética,
pois esta, como o próprio nome indica, estuda a cultura humana, praticamente o
mesmo objeto de estudo da memética. A antropologia cultural:
Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e
desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. Tem foco de interesse voltado
para o conhecimento do comportamento cultural humano, adquirido por
aprendizado, analisando-o em todas as suas dimensões (Marconi & Presotto,
2006, p.5).
Fazem parte da antropologia cultural a Arqueologia, que é o estudo e
reconstrução das culturas passadas extintas através de vestígios materiais; a
Etnografia, que é o estudo de culturas normalmente simples e ainda existentes,
visando a observação, análise e reconstituição de tais culturas; a Etnologia, que
interpreta e compara as diferentes culturas estudadas pelos etnógrafos, entre
outras. Todas estas áreas interessam diretamente aos estudiosos da memética por
já conterem pesquisas de campo de grande valor com as quais deve ser possível
criar interpretações meméticas e ver no que tais interpretações auxiliam ou não, na
compreensão das diversas culturas e suas histórias.
Para tais estudos os antropólogos utilizam diferentes métodos, como o
comparativo, utilizado na etnologia, o descritivo, utilizado na etnografia e o
genealógico, utilizado no estudo de parentescos. Dentre estes métodos dois
merecem destaque por sua semelhança com o que é feito na biologia. Em primeiro
255
lugar temos o método estatístico, que é basicamente o mesmo método utilizado na
biologia. Nas palavras de Marconi e Presotto:
Método muito empregado tanto no campo biológico verificando as variabilidades
das populações, quanto no campo cultural, levantando diversificações dos aspectos
culturais (Marconi & Presotto, 2006, p.12).
O segundo método é o chamado método histórico que também é usado
dentro da teoria da evolução para se reconstruir histórias evolutivas (capítulo 2).
Este
consiste em investigar eventos do passado, a fim de compreender os modos de vida
do presente, que só podem ser explicados a partir da reconstrução histórica da
cultura e da observação das mudanças ocorridas ao longo do tempo (Marconi &
Presotto, 2006, p.12).
É uma questão bastante pertinente no momento discutir se as semelhanças
nos métodos não indicam uma semelhança nos objetos. Objetos completamente
díspares dificilmente poderiam ser estudados dentro de um mesmo método. Para
que isso possa acontecer é preciso que haja algo em comum entre os diferentes
objetos que lhes permitam ter um mesmo tipo de análise metodológica. A simples
utilização dos mesmos métodos para se estudar a evolução e a variabilidade dos
seres vivos e para estudar a evolução e a variabilidade da cultura já é, ao menos,
um indício de que as semelhanças propostas pela memética entre a evolução
cultural e a evolução da vida é mais do que uma simples analogia útil.
Mas não é só nestas grandes linhas que a antropologia e a memética podem
se encontrar. Existem conceitos e análises mais específicas que foram
desenvolvidas pela antropologia, mas que podem ser apropriadas pela memética,
ao menos em um primeiro momento, para garantir que haja uma tradução
conceitual entre estas duas áreas. Podemos ver que muitas das análises feitas pela
antropologia são igualmente válidas e importantes para a memética.
Um exemplo já abordado, e que será aprofundado no capítulo sétimo, é o
papel da imitação e da aprendizagem na transmissão da cultura. Ambos, a
memética e a antropologia cultural, precisam da transmissão da cultura através de
meios não genéticos para fazer algum sentido. Na verdade, curiosamente a
memética precisa até mais do que a antropologia, pois se toda cultura fosse
passada geneticamente a antropologia ainda poderia existir como área de estudo
que tem como objeto a cultura, independente do meio de transmissão da mesma.
256
Já a memética só faz sentido ao tratar da transmissão cultural exclusivamente
através de um meio não genético. De outro modo ela não existiria e seria
substituída pela sociobiologia e pela psicologia evolutiva. Surpreendentemente
podemos então ver que é mais importante para a memética do que para a própria
antropologia se afastar dos reducionismos biológicos da cultura!
Uma das principais críticas feitas à memética é o seu caráter discreto, ou
seja, o fato de que divide a cultura em várias unidades discretas (seção 10.3). No
entanto, esta crítica não é muito válida, pois tal divisão tem um fundo muito mais
metodológico do que ontológico. Do mesmo modo vemos na genética a divisão
entre genes, mas falando de maneira mais rigorosa um gene nunca pode ser
tratado isoladamente (seção 1.12.5 e capítulo 2). Como nunca é demais enfatizar
esta questão, pois ela não só traz problemas para a compreensão da memética,
como também causa problemas na própria biologia, podemos citar Eva Jablonka:
A rede genética é composta de dezenas ou de centenas de genes e de produtos de
genes, os quais interagem uns com os outros e, conjuntamente, afetam o
desenvolvimento de um traço particular (Jablonka & Lamb, 2005, p.6. Minha
tradução).
Considerar a cultura como formada de traços discretos não é mais errado do
que considerar um organismo feito de partes separadas ou genes individuais.
Ambos têm somente um valor metodológico na medida em que nos permite
simplificar os estudos. Na verdade o que é dito é “se nada for alterado em seu
ambiente, então este gene, ou este meme, terá a seguinte função___”. Como já
vimos, genes não codificam estruturas fenotípicas, mas sim diferenças fenotípicas,
ou seja, se só um determinado gene for alterado enquanto o genótipo e o ambiente
no qual ele se encontra permanecem ambos inalterados, então dizemos que ele é
um “gene para” aquilo que ele modificou (capítulo 2). Mas este mesmo gene em
outro genótipo pode, e provavelmente terá, outro efeito. O mesmo se dará em
outro ambiente. Fica claro então que um gene nunca pode ser verdadeiramente
compreendido separado do todo que é o genótipo e os fatores ambientais. Mas
para uma simplificação metodológica é importante fazer isso. O mesmo acontece
com a relação entre os memes e a cultura.
No entanto, a memética não é a única área a fazer uma análise discreta da
cultura. A própria antropologia utiliza o conceito de “traço ou elemento cultural”
como sendo o menor elemento que permite descrição de uma cultura. Um traço
257
cultural é a “menor unidade ou componente significativo da cultura, que pode ser
isolado no comportamento cultural” (Marconi & Presotto, 2006, p.33). Tais traços
seriam compostos de partes ainda menores, os itens, mas um item não tem valor
cultural por si só. Uma caneta, por exemplo, só se torna um traço cultural em sua
associação com a tinta. A diferença entre traço e item não é de maneira nenhuma
simples. Um traço em uma cultura pode muito bem ser um item na outra e viceversa.
O mais interessante é que traços culturais não precisam ser materiais. Eles
podem ser atitudes, comportamentos, habilidades etc. Uma forma de aperto de
mão, de beijo ou mesmo uma festividade pode ser considerada um traço cultural.
A relação entre um traço cultural e um meme é imediata. Embora seja possível
argumentar que eles não sejam a mesma coisa. Objetos, por exemplo, podem não
ser considerados como memes. Uma cadeira não é um meme, mas o costume de
se sentar em cadeiras, ou mesmo a idéia de que elas são para sentar, pode ser um
meme.
Temos então um conceito antropológico muito semelhante ao conceito de
meme, mas mesmo assim a memética é criticada por cientistas sociais como
tentando tratar uma realidade contínua de maneira discreta. A questão é que
antropólogos normalmente não estão muito interessados na descrição dos traços
culturais, seu interesse costuma estar voltado para como estes traços se unem em
complexos culturais e como estes complexos se unem em padrões culturais. O
seguinte exemplo é esclarecedor:
O matrimônio, como padrão cultural brasileiro, engloba o complexo do casamento,
que inclui vários traços (cerimônia, alianças, roupas, flores, presentes, convites,
agradecimentos, festa, jogar arroz nos noivos, amarrar latas no carro etc.), o
complexo da vida familiar, de cuidar da casa, de criar filhos, de educar crianças.
(Marconi & Presotto, 2006, p.35)
Vemos, então, um padrão, formado de complexos, que por sua vez são
formados de traços. O interesse do antropólogo normalmente está voltado para a
união dos traços e dos complexos na formação de padrões. Historicamente a
antropologia tem focado mais na cultura vista como um todo do que nas
particularidades dos traços individuais. Embora Franz Boas, como vimos, tenha se
voltado para uma pesquisa mais particular, sem os grandes esquemas do
evolucionismo, ele ainda manteve um estudo que visava o todo de uma
258
determinada cultura estudada. Esta característica se manteve no chamado
“funcionalismo”, que surgiu na década de 30, tendo como seu principal
representante Malinowski, e que, como o próprio termo indica, defendia que as
partes não
podiam
ser
plenamente compreendidas
fora do
todo.
O
configuracionismo, de Sapir e Benedict, que vem logo depois, mantém esta
vertente, destacando a singularidade do todo e tendo “por tema básico a integração
da cultura” (Marconi & Presotto, 2006, p.260). Mais recentemente, o
estruturalismo de Leví-Strauss, como o próprio termo também indica, mantém o
que está sendo dito aqui, pois “ela [a estrutura] consiste em elementos tais que
uma modificação qualquer de um deles acarreta uma modificação em todos os
outros” (Marconi & Presotto, 2006, p.265). Fica fácil perceber que praticamente
ao longo de toda a história da antropologia o enfoque principal foi sempre o
conjunto e nunca as partes.
No entanto, esta é apenas uma escolha metodológica. A memética também é
perfeitamente capaz de fazer exatamente esta mesma escolha se decidir focar mais
na união de vários memes do que nos memes individuais, criando o que foi
chamado por Dennett de memeplexo. Podemos ver isso nas análises que tanto
Susan Blackmore quanto Dawkins fazem da religião como um grande conjunto de
memes. O fato de se trabalhar só com um meme, ou só com um traço cultural, não
significa que ele possa ser perfeitamente compreendido isolado dos outros traços,
ou memes, e do ambiente no qual eles funcionam. É apenas uma simplificação
metodológica para facilitar a pesquisa inicial, uma técnica extremamente comum
dentro de todas as ciências e que existe desde Descartes, quando este sugere que
se vá do mais simples para o mais complexo.
É claro que neste momento um antropólogo pode criticar o fato de que
traços culturais simplesmente não podem ser entendidos fora de complexos e
padrões culturais. Deste modo não se pode estudar a cultura do mais simples para
o mais complexo, pois o simples só pode ser compreendido dentro do complexo.
É o chamado holismo que se encontra em oposição ao reducionismo. Mas em
primeiro lugar poderíamos dizer que esta crítica ignora à própria definição de
traço cultural que acabou de ser apresentada. Este deveria ser a “menor unidade
ou componente significativo da cultura, que pode ser isolado no comportamento
cultural”. Faz parte da própria noção antropológica de traço cultural o fato de que
ele é significativo mesmo em sua simplicidade.
259
No entanto, definições podem ser modificadas, mas em nada isso mudaria o
que está sendo dito aqui, pois, falando de modo mais rigoroso: um meme,
exatamente como um gene, também só pode ser perfeitamente compreendido em
relação aos outros memes, ou genes, e ao ambiente no qual eles estão inseridos. A
rigor, o holismo vale para os dois. São muito comuns, por exemplo, as críticas de
Gould e Mayr à genética de “saquinhos de feijão”, ou seja, que discretizam os
genes como se eles pudessem ser entendidos separadamente. Mas mesmo assim a
genética, e futuramente a memética, não devem abandonar o fato de que a melhor
maneira para se explicar cientificamente algo complexo é começar por suas partes
mais simples e ir aos poucos estudando as relações entre elas até que se tenha a
capacidade de estudar um todo complexo. Mais uma vez é preciso deixar claro
que a diferença entre traços e memes é muito mais uma diferença metodológica do
que uma diferença de objetos de estudo.
É típico da ciência simplificar para estudar, não por assumir que o objeto é,
ele mesmo, simples, mas porque só assim pode ser dado o rigor que o objeto
merece. O reducionismo metodológico é uma estratégia típica para tratar do
holismo do objeto. Qualquer cientista sabe que o que ele faz é uma simplificação
do todo, mas esta é a sua estratégia para compreender o todo (seção 4.9). Se
modelos matemáticos não forem simples, por exemplo, eles podem facilmente
extrapolar a capacidade computacional de nossos maiores computadores. A
estratégia é sempre ir aos poucos, explicar as partes que compõem o todo. Se por
um acaso o holismo estiver correto e o todo realmente não puder ser reduzido às
suas partes, isso ficará evidente, pois depois de termos todas as partes explicadas
faltará algo para chegar ao todo. Mas agora, já tendo tratado de tudo aquilo que
podia ser reduzido, será muito mais simples tratar de tais “propriedades
holísticas”. Vimos na seção 1.12.2 que algo semelhante a isso ocorreu na biologia
com a seleção de grupo: uma vez tratado o que podia ser reduzido, restou o que
não podia, que agora é tratado com muito mais rigor. Isso nos mostra que o
holismo da antropologia e o “reducionismo” da memética não são duas visões de
mundo opostas, e sim duas metodologias diferentes de como tratar este mesmo
mundo.
Já de posse do conceito de traços culturais podemos nos aprofundar em
nossa análise da antropologia. Uma outra semelhança já analisada é a transmissão
cultural por meios não genéticos. Esta transmissão causa a acumulação cultural.
260
Nas palavras de Laraia: “toda experiência de um indivíduo é transmitida aos
demais, criando assim um interminável processo de acumulação” (Laraia, 2006,
p.52). A acumulação é mais um ponto chave para relacionar a antropologia à
memética, pois “acumulação de mutações” é, como vimos, uma das definições de
evolução.
Sem a capacidade de acumular a cultura que lhe é transmitida, para depois
transmitir a cultura que foi acumulada, dificilmente poderíamos falar em mudança
cultural. Um traço, complexo ou padrão cultural que não é acumulado junto com
os outros simplesmente não pode ser considerado como fazendo parte da cultura
de um povo. Ele seria realizado por aquele que o inventou e depois esquecido,
pois não se uniria aos padrões já existentes. Tal acumulação nada mais é do que a
retenção das características existentes e, sem ela, não pode haver nenhuma forma
de evolução.
Para manter o exemplo já dado anteriormente por Marconi e Presotto sobre
o matrimônio, se por falta de arroz alguém resolve jogar feijão nos noivos duas
coisas podem acontecer: ou este novo traço cultural será unido aos demais de
modo que passará a ser transmitido como parte do complexo do casamento, ou
simplesmente será esquecido. Para haver evolução cultural tem que haver
acumulação. Exatamente o mesmo se poderia dizer da memética e da evolução
biológica.
Mas a acumulação não é o único fator importante. Para se falar em evolução,
no sentido darwinista do termo, é também necessária uma seleção que só existe se
houver competição. Nas palavras de Laraia:
A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é
capaz de participar de todos os elementos da cultura. Este fato é tão verdadeiro nas
sociedades complexas com um alto grau de especialização, quanto nas simples,
onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e
idade (Laraia, 2006, p.80. & cf. Marconi & Presotto, 2006, p.38).
O fato de que há um número limitado de indivíduos com uma capacidade
limitada de participação na cultura significa que alguma forma de processo
seletivo deve estar ocorrendo. A seguinte citação é bastante esclarecedora sobre
este tema:
Eliminação Seletiva. Consiste na competição pela sobrevivência feita pelo
elemento novo. Quando um traço cultural ainda se revela mais compensador do que
261
suas alternativas, ele perdura; mas quando ele deixa de satisfazer às necessidades
do grupo, cai no desuso e desaparece, numa espécie de processo seletivo (Marconi
& Presotto, 2006, p.44).
Tal citação poderia muito bem pertencer a um livro de memética, mas foi
escrita por dois antropólogos. É verdade que eles muito provavelmente estão
falando metaforicamente, mas a memética vem justamente para mostrar que isso é
muito mais do que uma simples metáfora, é uma nova metodologia para o estudo
da cultura. Dado o que foi dito na citação anterior a esta, tal competição e seleção
é um processo necessário, então não teríamos motivo para tratá-la simplesmente
como uma competição metafórica.
Nesta última citação de Marconi e Presotto é possível antever também o que
faria o papel de agente selecionador: segundo eles é o fato de que um determinado
traço é mais “compensador” ou “satisfaz melhor as necessidade de um grupo”.
Vemos que quem faz o papel selecionador é justamente o que poderia ser
chamado de o ambiente da cultura, ou seja, não só os seres humanos considerados
de maneira biológica e psicológica, como também os outros traços culturais. Um
novo traço só será aceito se ele for “compensador e satisfatório”, mas quem
decide se este é o caso? Ser compensador e satisfatório só faz sentido mediante
um critério e tal critério só poderia ser dado pelo aparato biológico e psicológico
dos seres humanos, assim como pela adequação aos outros traços já existentes.
Assim, por exemplo, uma sinfonia para piano só será parte da cultura de um povo
se este a apreciar de alguma maneira, mas esta apreciação só poderá ser feita se
for biologicamente possível para o ser humano. Uma música que não pode ser
tocada devido a sua complexidade física, ou não é apreciada, não se tornará parte
da cultura. Ou seja, será negativamente selecionada.
Para ter competição entre traços culturais é preciso que existam diferentes
traços. Sem variabilidade não há competição, seleção, ou evolução, seja ela
cultural ou biológica. A variabilidade da natureza e da cultura é uma constatação
antiga e só tomou o papel que tem hoje depois de Boas na antropologia e Darwin
na biologia. Foram eles que ressaltaram a importância da variabilidade. No que
diz respeito à biologia, tal variabilidade é fruto principalmente da mutação e da
deriva genética. No que diz respeito à cultura podemos dizer que:
Cada novo traço cultural nada mais é do que o desenvolvimento de elementos
culturais existentes anteriormente. Mesmo que pareçam totalmente novas, as
262
invenções são compostas de velhos elementos, como os sindicatos, cuja origem se
encontra na organização dos trabalhadores por ofícios. Sociedades indígenas
isoladas têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade
complexa, atingida por sucessivas inovações tecnológicas (Marconi & Presotto,
2006, p.43).
O mesmo se dá na biologia, novas adaptações se fazem sobre as antigas. É,
então, uma questão se tal variação é volitiva ou não volitiva. Como já vimos ao
tratar da teoria de Dennett no terceiro capítulo (seção 3.2), esta questão deve ser
tratada pelas ciências cognitivas que devem estudar, dentre outros temas, o que é a
criatividade e como se dá a escolha racional (seção 10.10). Caso a escolha se dê
de modo racional, ou seja, após uma análise do ambiente se crie por vontade
própria uma solução, então o processo será mais semelhante ao lamarckismo.
Caso não seja volitiva, se dê através de uma espécie de acaso, sendo que a própria
criatividade humana pode ser um tipo de acaso, então será perfeitamente
darwinista.
Vimos então que podemos encontrar dentro da própria antropologia
tradicional praticamente todos os elementos que precisamos para fazer uma
análise memética da cultura. Com isso de maneira nenhuma está se propondo que
antropologia e memética sejam a mesma coisa. A questão é simplesmente que
existe sim um terreno comum onde ambas se encontram e onde um diálogo é
possível.
5.4
Paleontologia: o nascimento do homem e do meme
Até o momento tratamos a relação entre a antropologia cultural e a
memética, mas esta relação também pode se dar entre a antropologia física,
particularmente a paleontologia, e a memética, pois o estudo da evolução do
homem nos indica que a evolução cultural pode ter tido um papel fundamental.
Neste caso seria mais do que uma evolução simultânea entre cultura e a biologia,
teríamos a cultura, e principalmente a linguagem, não só como caractere
fundamental do ser humano, mas mais importante ainda: a necessidade de cultura
263
e da linguagem teria criado a pressão evolutiva que impulsionou o
desenvolvimento do cérebro humano e o transformou no que é hoje (seção 4.9).
Infelizmente estudos paleontológicos e antropológicos não podem resolver
definitivamente esta questão, só podem nos dar indícios de que houve uma forte
evolução cultural e o surgimento da linguagem ao mesmo tempo em que ocorria
um rápido crescimento da capacidade craniana. Veremos no sétimo capítulo que
parte deste aumento provavelmente se deve ao crescimento do sistema espelho,
responsável por nossa habilidade de imitar.
No entanto, é possível conjecturar que o crescimento do cérebro tem um alto
custo evolutivo. Há um grande custo energético, pois um órgão com tamanha
complexidade precisa de cerca de 22 vezes mais energia do que a mesma massa
de tecido muscular para funcionar apropriadamente (cf. Mithen, 2002, p.21 e
p.136). Ele chega a usar 16% do nosso metabolismo basal, enquanto a média dos
mamíferos é somente 3% (cf. Richerson & Boyd, 2006, p.135). É um custo
energético surpreendentemente alto. Ainda há um custo social, pois dar a luz a um
bebê com uma cabeça muito grande é perigoso. Para resolver o problema do parto
difícil, o ser humano nasce com um cérebro pequeno que crescerá bastante com o
tempo. Isto exige um longo tempo de educação até que o indivíduo possa se virar
sozinho. Ou seja, a criança humana deverá ser cuidada por vários anos. Nas
palavras de Mithen:
a prole dos humanos modernos mostra um tamanho de cérebro não maior que o de
um chimpanzé recém-nascido – em torno de 350 cm³. No entanto, ao contrário do
que ocorre com os chimpanzés, o cérebro humano continua aumentando na mesma
velocidade do crescimento fetal, imediatamente após o nascimento. Aos quatro
anos de idade, ele triplicou, quando a maturidade é atingida, corresponde a
aproximadamente 1.400 cm³, ou seja, quatro vezes seu tamanho logo depois do
parto. O chimpanzé, por sua vez, apresenta um discreto aumento cerebral pósnascimento, chegando a atingir um volume de 450cm³ (Mithen, 2002, p.314).
Todas estas desvantagens em ter um cérebro grande só podem ter sido
superadas por uma vantagem ainda maior, e todas as indicações são justamente
que esta vantagem é a nossa habilidade de aprender e de comunicação. Nas
palavras de Laraia:
A cultura desenvolveu-se, pois, simultaneamente com o próprio equipamento
biológico e é, por isso mesmo, compreendida como umas das características da
espécie, ao lado do bipedismo e de um adequado volume cerebral (Laraia, 2006,
p.58).
264
Esta simultaneidade deverá ser futuramente explicada, pois ela tanto pode
indicar uma co-evolução, onde a mudança de uma causa uma mudança na outra e
vice-versa; como uma evolução dirigida, onde a mudança em um causa uma
pressão seletiva para a mudança no outro, mas não vice-versa; ou mesmo uma
simples simultaneidade, onde as duas mudanças ocorrem de maneira largamente
independente. A resposta a este tipo de questão provavelmente virá de pesquisas
antropogenéticas como a de Cavalli-Sforza (seção 4.9), mas basta para o que se
segue apresentar a correlação durante a evolução humana entre o aumento do
volume cerebral e o desenvolvimento da cultura.
Antes de entrarmos no Homo, tínhamos os chamados Australophitecus.
Estes viveram na África há aproximadamente 5 a 3 milhões de anos. Foram a
primeira linhagem que nos separou dos chimpanzés. Destes, os mais conhecidos
são o Australophitecus africanus, que media cerca de 1,50 e tinha uma capacidade
craniana de cerca de 400 a 550 cm³, um pouco maior do que de um chimpanzé, e
o Australophitecus robustus, que era parecido com o africanus, embora bem mais
pesado. Já tinham uma locomoção bípede, postura ereta e capacidade para utilizar
alguns instrumentos. Talvez tenha caçado coletivamente, dado que chimpanzés
ainda fazem isso, o que implica em alguma forma rudimentar de comunicação,
também observada em chimpanzés.
O primeiro da linhagem Homo foi o Homo habilis, mas existe uma
discussão, na qual não entraremos aqui, se ele é de fato um Homo ou um
Australophitecus. Além da discussão de se só existia o Homo habilis, ou se além
dele também estavam presentes o Homo rudolfensis e o Homo ergaster. Para além
destas discussões de classificação e nomenclatura, o mais importante é que ele
também viveu na África há aproximadamente 2,5 a 1,5 milhão de anos e já tinha
um volume craniano consideravelmente maior de 650 a 700 cm³. Seu nome vem,
é claro, do fato de ele ser habilidoso na construção de instrumentos. Eram
instrumentos simples, principalmente de pedra, mas já eram trabalhados e
encontrados em grande quantidade, principalmente na Garganta de Olduvai, de
onde surge o nome para os utensílios olduvaienses. Eram normalmente pedras
lascadas de maneira bem simples, tendo como principal instrumento o machado
de mão. Além disso, “o Homo habilis talvez já conseguisse falar alguma coisa há
2 milhões de anos” (Cavalli-Sforza, 2003, p.228). Tudo indica que se houve um
265
momento onde a cultura passou a criar uma pressão seletiva para cérebros maiores
e mais capazes este momento foi o Homo habilis.
Seguido dele temos o Homo erectus. Antes de entrar nas características
anatômicas e culturais dele é importante fazer uma ressalva do que de fato quer
dizer “seguido”. Quando construímos a cadeia evolutiva do ser humano a
tendência natural é construir uma linha reta de melhoramento que vai do
Australophitecus, passa pelo Homo habilis, depois, erectus e chega no sapiens,
um substituindo o outro na escala evolutiva. Esta linha mostraria um
desenvolvimento e um melhoramento progressivo de nossas habilidades. No
entanto, o mais provável é que esta história, contada desta maneira, esteja errada.
O Homo erectus não necessariamente foi um sucessor direto do Homo habilis. E o
mesmo vale para a relação entre este e o Homo sapiens. Ao contrário de uma
progressão linear existem indicações de uma progressão arbustiva com várias
espécies de Homo, muitas vezes convivendo no mesmo tempo e até no mesmo
espaço (cf. Gould, 2003, p.256). Alguns cientistas, por exemplo, acreditam que o
Homo erectus surgiu do Australophitecus africanus e não do Homo habilis. Além
disso, há muita discussão sobre as datas exatas, os locais, as migrações e muitos
outros dados. A aparência de uma linhagem progressiva, linear e bem conhecida
não é nada mais do que isso, uma aparência (cf. Gould, 2003, p.253). No entanto,
o que interessa neste momento preliminar de estudo não é exatamente como
organizar estas linhagens entre si, no tempo e no espaço, mas sim o fato de que
Australophitecus, habilis, erectus e sapiens são marcos históricos na evolução do
homem e são razoavelmente bem estudados em comparação com as outras
espécies de Homo.
O Homo erectus, já perfeitamente bípede e ereto, daí o seu nome, foi
provavelmente a primeira espécie de Homo a sair da África. Sua origem está em
algum lugar entre 2 e 1 milhão de anos e pode ter vivido até 100 mil anos atrás.
Deste modo, é bem possível que tenha coexistido não só com outras linhagens de
Homo como também com os Australophitecus. Sua capacidade craniana era
bastante variável podendo ir de 630 até 1.000 cm³ na média, podendo chegar até
mesmo a 1.200 cm³. Ele já fabricava uma gama de diferentes ferramentas de pedra
em grandes quantidades. “É provável que o aumento do cérebro esteja associado,
pelo menos em parte, ao aperfeiçoamento de utensílios” (Cavalli-Sforza &
266
Cavalli-Sforza, 2002, p.75). Deve também ter sido capaz de dominar o fogo.
Caçava animais de grande porte se valendo da cooperação e do uso de armadilhas.
O Homo sapiens pode ter se originado do erectus ou do Homo
heidelbergensis, que às vezes é considerado uma sub-espécie do erectus. Surge
entre 500 e 300 mil anos atrás e tem uma capacidade craniana já igual ao do ser
humano moderno de aproximadamente 1.400 cm³. Por volta de 250 mil anos uma
nova técnica de fabricar instrumentos, conhecida como Método de Levallois,
surge, sendo capaz de produzir instrumentos muito mais trabalhados. Dos Homo
sapiens um dos mais destacados, além, é claro, do Homo sapiens sapiens
(chamado também de Cro-Magnon) que é a nossa sub-espécie e que surge há
cerca de 50 a 100 mil anos, é o Homo neanderthalensis. Este é tipicamente
encontrado na Europa e por lá habitava até aproximadamente 30 mil anos. Isto
significa que o sapiens sapiens e o neanderthalensis devem ter se encontrado,
sendo que uma discussão bastante atual é se o desaparecimento do
neanderthalensis se deu por causa do sapiens, seja por competição por alimentos,
seja por luta entre espécies, ou se o que aconteceu na verdade é que
intercruzamentos uniram as duas espécies.
Curiosamente o neanderthalensis pode ter tido uma capacidade encefálica
ainda maior do que a nossa com uma média de 1.500 cm³! Vivia em cavernas e
utilizava o fogo. “Aperfeiçoou as técnicas e os instrumentos. Além da pedra
lascada, fez uso intensivo do osso e da madeira. Utilizou conchas, dentes e
chifres.” (Marconi & Presotto, 2006, p.64). Era capaz de fazer machados,
martelos, lanças, um tipo de cola, instrumentos musicais de ossos e foi o autor das
primeiras sepulturas, tendo indicações de práticas ritualísticas.
Já o Homo sapiens sapiens era indistinguível do ser humano moderno. Tinha
uma grande habilidade na fabricação de instrumentos tendo sido conhecido por
seus propulsores que eram capazes de atirar lanças a grandes distâncias e com
muita força54. Ficou também conhecido pelo grande desenvolvimento da arte
tanto em pinturas como em esculturas. Só depois de cerca de 40 mil anos de sua
existência, há 30 ou 60 mil anos atrás, ele passou pelo que os antropólogos
chamam de “explosão cultural” que define a passagem do Paleolítico médio ao
54
Tais propulsores podem ser vistos no filme “A Guerra do Fogo”. Este filme também mostra a
coexistência entre diferentes espécies de homem.
267
superior (cf. Mithen, 2002, p.248). Desde então a biologia do Homo sapiens
sapiens permaneceu a mesma, mas sua cultura se transformou na que temos hoje.
Esta breve história do ser humano com certeza apresenta falhas e grandes
lacunas, mas é o suficiente para mostrar como o desenvolvimento da cultura se
deu sempre ao lado do desenvolvimento da caixa craniana. Como sabemos que é o
cérebro o responsável por grande parte do nosso comportamento, seria no mínimo
ingênuo considerar que não existe aí uma relação que se deu, literalmente, por
milhões de anos. Tudo indica que a habilidade do homem de criar e transmitir
cultura se mostrou biologicamente benéfica, pois o protegia de predadores,
auxiliava na caça e na cooperação, que foi selecionada impulsionando um
crescimento vertiginoso da capacidade craniana que saiu de uma média de 500
cm³ para uma média de 1.400 cm³, ou seja, quase o triplo. Mithen chega a falar de
dois “surtos de aumento”:
Podemos observar que ocorreram dois grandes surtos de aumento, um entre dois e
um milhão e meio de anos atrás, que parece estar relacionado com o aparecimento
do Homo habilis, e outro menos nítido, entre quinhentos mil e duzentos mil anos
atrás. Os arqueólogos especulativamente associaram o primeiro ao
desenvolvimento da manufatura de utensílios, mas não conseguem detectar
nenhuma mudança marcante nos registros arqueológicos que se correlacione com o
segundo pico de rápida expansão cerebral. Nossos ancestrais continuaram a viver
no mesmo estilo básico de caçadores-coletores, com a mesma série limitada de
ferramenta de pedra e de madeira (Mithen, 2002, p.20).
É no mínimo curioso que existam registros arqueológicos de um surto que
ocorreu há 2 milhões de anos, mas não exista de um outro bem mais recente. Uma
possível resolução deste problema seria justamente propor que o que ocasionou o
segundo surto não foi uma mudança propriamente material, como no primeiro
caso, mas uma mudança cultural que não deixaria registros. Duas possíveis
explicações, que não são excludentes, seriam um aprimoramento na linguagem
e/ou nas relações sociais. Blackmore também concorda que este segundo surto
pode ter significado o surgimento da linguagem moderna (cf. Blackmore, 1999,
p.91). Hoje existem claros indícios de que o tamanho do cérebro em primatas está
fortemente associado com as habilidades sociais, quanto maior a complexidade
social, maior o cérebro (cf. Mithen, 2002, p.166).
Uma análise memética da relação entre memes e aumento do cérebro foi
dada por Susan Blackmore. Ela nos diz que em tal ambiente primitivo é possível
que a habilidade de imitar tenha sido selecionada porque os melhores imitadores
268
seriam mais capazes de se proteger e de caçar. Uma vez existindo uma pressão
seletiva para melhores imitadores é possível também que um processo conhecido
como seleção sexual tenha ocorrido. Neste caso, assim como fêmeas de pavão
buscam procriar com pavões que tenham a maior cauda somente porque assim
seus descendentes terão também caudas grandes e, deste modo, serão escolhidos
por outras fêmeas e assim por diante, os seres humanos podem ter procurado
procriar com os melhores imitadores, causando, assim, uma forte pressão seletiva
para a habilidade de imitar. Nas palavras de Blackmore:
depois que a imitação evolui, aparece um segundo replicador que se espalha muito
mais rápido que o primeiro. Já que as habilidades que são inicialmente copiadas são
biologicamente úteis, será vantajoso, para os indivíduos, tanto copiar os imitadores
quanto acasalar com eles. Essa conjunção significa que os memes de sucesso
começam a ditar quais genes obtém maior sucesso: os genes responsáveis por
ajudar a difusão daqueles memes (Blackmore, 1999, p.99. Minha tradução).
No entanto, ela lembra que aceitar que houve tal seleção sexual não é
necessário para compreender a explicação memética do desenvolvimento do
cérebro humano. É claro que não há provas concretas desta história, assim como
também não há provas que a desmintam. Várias outras explicações para o
aumento do cérebro foram sugeridas (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.235).
Ficamos, então, com uma possibilidade de como o cérebro humano pode ter se
desenvolvido visando justamente a nossa capacidade de imitar.
Aqui finalmente teríamos a relação entre a antropologia física e a memética
que é a base, como vimos na seção 4.9, dos estudos da co-evolução, pois é
possível que o cérebro tenha que se desenvolver cada vez mais justamente para
dar conta de imitar comportamentos mais complexos que dão origem a
instrumentos muito mais eficientes. Ou seja, a evolução da cultura teria
ocasionado a pressão seletiva para o aumento do cérebro o que fez com que nos
tornássemos o que somos hoje. É por isso que Dennett diz “que as mentes
humanas são, em grau notável, as criações de memes” (Dennett, 1991, p.207) e
defende que “ser” humano é uma criação dos memes (seção 3.2).
6
Todos Juntos Somos Fortes
Uma análise apressada da memética a considera como uma ciência ainda por
fazer, mas uma análise memética das ciências humanas pode mostrar que isso não
é necessariamente verdade. A memética pode ser uma ciência com uma história
bem maior do que a esperada, sendo anterior ao próprio darwinismo! O objeto de
estudo da memética, a cultura em todas as suas facetas, já vem sendo objeto de
estudo de outras áreas há séculos. A memética propõe uma nova forma de abordar
tal objeto, no entanto, isso não significa ignorar o que já foi feito no passado. Um
olhar mais cauteloso é capaz de observar que muitas outras áreas desenvolveram
estudos que podem interessar à memética e alguns que podem, até mesmo, ser
reclassificados como estudos propriamente meméticos. Se os defensores da
memética se detiverem nestas análises antes mesmo de tentar desenvolver novas
abordagens descobrirão que a memética é, de certa maneira, uma ciência que já
existe e que está em pleno funcionamento.
Como nos indicou Dobhzansky, o que Darwin fez foi em grande parte juntar
as diferentes áreas da biologia dentro de uma compreensão unificada. Mais do que
uma simples teoria, a evolução por seleção natural seria um tipo de “cola
conceitual” capaz de unir diversas áreas. Embora estas fossem obviamente
relacionadas, pois todas tratavam do mundo vivo de um modo ou de outro, não
eram consideradas todas como fazendo parte de um mesmo arcabouço teórico e
lhes faltava até mesmo os conceitos necessários para um diálogo entre elas.
Darwin mostrou que no fundo todas eram faces diferentes de um mesmo
problema. Com isso ele foi capaz de unir a biologia em um todo coeso e
conceitualmente coerente. Por isso podemos dizer que se “nada na biologia faz
sentido a não ser à luz da evolução”, então Darwin, de certa maneira, criou o que
chamamos hoje de biologia.
Um dos grandes benefícios da memética é justamente o fato de que ela
talvez possa fazer o mesmo para as diversas abordagens da cultura que hoje se
encontram separadas, sendo consideradas ciências distintas. Antropologia,
lingüística, sociologia, história, economia, marketing, design, pedagogia,
270
publicidade e propaganda são só alguns exemplos de áreas que vêm, em alguns
casos, há séculos trabalhando o desenvolvimento e a transmissão da cultura e
devem todas ser respeitadas em sua individualidade, mas que podem ser
compreendidas dentro de um mesmo conjunto conceitual originário da memética.
Esta deve encontrar a unidade dentro da multiplicidade, mostrando, por exemplo,
que dentro do aparato conceitual memético aquilo que um publicitário faz está
diretamente relacionado ao que um antropólogo e um economista fazem.
Seria impossível e contraproducente tratar de maneira profunda e completa
todas as áreas a este respeito. Isto será um trabalho de centenas de pesquisadores
durante décadas. Com certeza um dos primeiros trabalhos que a memética deveria
fazer é justamente este, a saber, rever tudo o que já foi estudado sobre cultura e
fazer uma análise memética, identificando as semelhanças e as diferenças. A
memética não deve ignorar os estudos já feitos pelas ciências humanas, muito
pelo contrário, deve respeitá-los e uni-los dentro de um mesmo conjunto de
conceitos. Foi o que Darwin fez com a biologia e o que lhe garantiu a base
empírica de sua teoria, dando-lhe respeitabilidade.
É justamente esta habilidade da memética de unir áreas díspares a sua maior
força e um dos principais motivos pelo qual deve-se tentar desenvolver tal ciência.
De outro modo poder-se-ia facilmente criticar esta empreitada mostrando a sua
inutilidade, ou seja, mostrando que se já temos diversas ciências capazes de dar
conta da diversidade de estudos sobre a cultura, qual seria o motivo para incluir a
memética neste grupo? Desenvolver a memética seria uma escolha pela
redundância. Mas isso não acontece justamente porque a memética tem a
capacidade de unir estas diversas áreas que, do contrário, manteriam a sua
disparidade e não seriam capazes de descobrir o quão poderosa pode ser uma
abordagem conjunta da cultura.
271
6.1
Linguística Histórica
A linguagem terá destaque porque além de ser uma das características mais
propriamente humana, ela ainda é um dos principais meios por onde a cultura é
transmitida, permitindo que ela pule gerações. Um livro, por exemplo, pode ficar
sumido durante séculos, mas ter grande influência na cultura assim que
reencontrado.
Não se sabe ao certo qual foi a origem da linguagem e como ela se deu.
Como algo tão imaterial não deixa rastros fósseis, podemos apenas trabalhar com
a adequação de hipóteses aos dados que temos. Como veremos no nono capítulo,
sobre filosofia da ciência, a união de várias hipóteses provindas de áreas
diferentes, trabalhando com dados diferentes e utilizando métodos diferentes, é a
melhor abordagem científica que podemos ter neste tipo de estudo (seção 9.7).
No caso da linguagem, vimos no capítulo anterior que há indicações
paleontológicas de seu surgimento quando os primeiros humanos começaram a
caçar em conjunto. Vimos também que tais indicações são confirmadas por
estudos de neuroantropologia referentes ao desenvolvimento do cérebro. Veremos
brevemente, no próximo capítulo, que estes estudos indicam uma possível origem
da linguagem em nossas habilidades gestuais. Estudos também são feitos sobre a
origem do nosso aparelho fonador. Embora saber exatamente como a linguagem
surgiu pudesse fortalecer ou enfraquecer o assunto aqui tratado, teremos que
deixar de lado esta questão e assumir que, durante a evolução do homem, se deu
também a evolução da linguagem. Para o que será tratado aqui, mais importante
do que saber como a linguagem surgiu será saber como ela se desenvolve, evolui.
Não tentaremos desenvolver uma história da lingüística e nem mesmo uma
abordagem inicial de suas várias áreas (psicolingüística, sociolingüística,
pragmática, filologia, dialetologia, estilística, fonologia etc.), embora todas elas
devam ser estudadas por futuros cientistas meméticos trataremos aqui somente o
que Saussure chamou de lingüística diacrônica, em oposição à sincrônica, mas
que é mais conhecida como lingüística histórica ou glossologia. Esta área foi
escolhida justamente por se assemelhar mais à memética, possibilitando, assim,
uma primeira união das duas, que futuramente poderá se expandir para as outras
áreas da lingüística. O intuito do que se segue é apenas apresentar certas
272
características da lingüística diacrônica e mostrar como elas são semelhantes, às
vezes idênticas, ao que se espera da memética. Com isso esperamos não só
aproximar estas duas áreas, mas mostrar que de certa maneira a memética já
existe.
A lingüística diacrônica surge da constatação de que existe um longo
processo de mudança em todas as línguas existentes e de que durante este
processo novas línguas surgem e outras perecem. Além disso, foram constatadas
regularidades neste processo de mudança que permitem, então, um estudo de
como ela se deu. Nas palavras de Weedwood:
Línguas poderiam ser sistematicamente comparadas no tocante a seus sistemas
fonéticos, estrutura gramatical e vocabulário, de modo a demonstrar que eram
‘genealogicamente’ aparentadas. Assim como o francês, o italiano, o português, o
romeno, o espanhol e as outras línguas românicas tinham se originado do latim,
também o latim, o grego e o sânscrito, bem como as línguas célticas, germânicas e
eslavas e várias ouras línguas da Europa e da Ásia tinham se originado de alguma
língua mais antiga, à qual é costume aplicar o nome de indo-europeu ou protoindo-europeu (Weedwood, 2002, p.105).
Feita a comparação sistemática entre as diversas línguas, é possível
classificá-las por grau de parentesco e colocá-las dentro de uma árvore
genealógica semelhante às usadas na biologia.
A primeira constatação para entendermos a mudança lingüística é
exatamente a mesma constatação que Darwin fez sobre os seres vivos e que
permitiu
o
surgimento
do
pensamento
populacional
em oposição
ao
essencialismo, a saber, a constatação da variabilidade interna das línguas. A
variabilidade externa é bastante óbvia, línguas diferentes são diferentes. Mas a
variabilidade interna precisa de um cuidado maior para ser compreendida, pois de
outro modo qualquer variação interna será considerada como somente um erro
particular. O mesmo problema existia na biologia quando a variabilidade dentro
de uma espécie era só considerada como um pequeno erro, ou desvio sem
importância, e só a variabilidade entre as espécies era relevante (seção 1.1 e 9.3).
Mas tanto para a evolução das espécies, quanto para a evolução das línguas, é
justamente esta variabilidade interna que importa, sendo que a diferença entre as
espécies, e entre as línguas, é na verdade o acúmulo destas pequenas diferenças.
Nas palavras de Faraco:
273
As pesquisa dialetológicas (que se iniciaram por volta do fim do século XIX) e a
sociolingüística (que se estruturaram a partir da década de 1960) têm demonstrado
que não existe língua homogênea: toda e qualquer língua é um conjunto
heterogêneo de variedades. Nesse sentido, quando usamos rótulos como português,
árabe, japonês, chinês, turco para designar realidades lingüísticas, não fazemos
referência a uma realidade homogênea ou a um padrão único de língua, mas sempre
a um conjunto de variedades, podendo algumas ser até ininteligíveis entre si, como,
por exemplo, o chinês pequinês e o chinês cantonês; ou o italiano da Calábria (sul
da península itálica) e o italiano de Bérgamo (norte) (Faraco, 2005, p.31).
Uma língua, que foi chamada na citação anterior de rótulo, não é um
agrupamento homogêneo e sim um conjunto heterogêneo ligado por uma
semelhança estatística. As semelhanças e diferenças dentro de uma mesma língua
podem variar constantemente, sendo possível que de uma língua surjam várias
outras, mas também sendo possível que diferenças sejam amenizadas, como
vemos que está acontecendo neste exato momento com a reforma ortográfica do
português. Normalmente as diferenças aumentarão ou diminuirão dependendo da
freqüência do contato entre as diversas formas de uma língua. Exatamente como
acontece entre as sub-espécies, ou espécies geográficas, de uma espécie que
podem diminuir suas diferenças por intercruzamentos. Hoje é comum se falar
sobre três fontes diferentes de variação: variação diatópica (geográfica), variação
diastrática (social), variação diafásica (estilística) (cf. Faraco, 2005, p.178 - 184).
Mas para o que se segue a simples constatação da existência da variação já é o
suficiente.
Uma outra forte semelhança entre as línguas e o reino natural é que estas
diferenças se dão de uma maneira gradual. Não há um limite geográfico claro
onde possamos separar dois dialetos da mesma língua. Um estudo que demonstrou
isso foi feito por Georg Wenker em 1876. Ele enviou uma lista de sentenças em
Alemão padrão para vários professores de várias localidades de Alemanha
pedindo para que fosse colocado dentro do dialeto local.
Colocaram-se as respostas em mapas, buscando-se demarcar a fronteira entre o alto
e o baixo alemão. O resultado, porém, foi diferente do esperado: constatou-se que
não havia uma fronteira nítida entre os dois grupos dialetais, mas áreas de transição
em que o consonantismo do alto alemão afetava apenas segmentos do léxico, isto é,
no mesmo dialeto algumas palavras seguiam o padrão conservador do Norte, e
outras, o padrão inovador do Sul (Faraco, 2005, p.188).
Vemos, então, uma outra característica da mudança lingüística: ela não se dá
aos saltos. A transição entre dois dialetos se dá por partes e aos poucos e não de
274
maneira abrupta e radical. Tal fato garante, em um primeiro momento, a
inteligibilidade dos dialetos que pode, com o tempo, ou diminuir até que eles
sejam tão ininteligíveis um para outro que sejam considerados línguas distintas,
ou também aumentar, reunindo os dois dialetos, ou simplesmente permanecer
como estão. Pode acontecer também, é claro, que um dialeto domine o outro de
modo a suplantá-lo a ponto do outro dialeto desaparecer. Mas o mais interessante
no momento é que as mudanças lingüísticas se dão de maneira lenta e gradual
passando por uma série de fases intermediárias, processo em tudo semelhante ao
processo evolutivo na biologia:
O que é perceptível por esses estudos é que, em geral, determinada mutação avança
por pequenos incrementos e por meio da seleção gradual entre membros de um
conjunto de variantes coexistentes, processo que costuma durar relativamente
longos períodos de tempo (cf Labov, 1972; Labov, Yaeger & Steiner, 1972, Lass,
1978, entre outros, in: Faraco, 2005, p.88)
Tal citação poderia muito bem estar em qualquer livro sobre evolução das
espécies sem a necessidade de qualquer modificação. Deste modo, temos dentro
da lingüística a própria base do pensamento populacional que, por sua vez, é a
própria base da teoria da evolução por seleção natural: o lento e contínuo processo
de mudança que transforma variações internas em espécies (tipos):
O que era nesse longínquo ponto do tempo apenas um conjunto de variedades
dialetais é hoje um emaranhado universo de línguas raramente compreensíveis
entre si, resultado de milênios e milênios de ininterruptas mudanças e de contínua
diferenciação (Faraco, 2005, p.46).
Curiosamente podemos ver que no lugar onde estaria, segundo o conceito
biológico de espécie, a capacidade de intercruzamento como o critério separador
das espécies, está a mútua compreensão entre as diversas línguas. A falta da
mútua compreensão é justamente o que impede uma língua de se unir a outra e,
deste modo, é o que as mantêm distintas. Seria na biologia o chamado
“mecanismo de isolamento”. Nas palavras de Cavalli-Sforza:
Vale a pena notar que a unidade biológica espécie corresponde à unidade
linguagem: ambas são grupos de indivíduos capazes de comunicar-se, isto é, de
trocar informação. Membros de uma mesma espécie podem cruzar entre si e, assim,
trocar informação genética, bem como indivíduos que falam a mesma língua
comunicam-se trocando informação verbal (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002,
p.235).
275
Uma crítica poderia surgir aqui, talvez a crítica mais comum contra a
memética provinda tanto da lingüística quanto da antropologia: é o fato de que
mesmo línguas que já divergiram podem voltar a se unir ou parcialmente em um
processo chamado de transculturação, ou totalmente em um processo chamado de
aculturação (cf. Marconi & Presotto, 2006, p.46). Um exemplo que faz parte do
nosso cotidiano são as palavras em inglês que vieram para o português
principalmente com a informatização. Nas palavras do pai da antropologia
moderna:
Há uma diferença fundamental entre dados biológicos e culturais que torna
impossível transferir os métodos de uma ciência para outra. As formas animais
desenvolvem-se em direções divergentes, e uma mistura de espécies que uma vez
se tornaram distintas é desprezível no conjunto da história de seu desenvolvimento.
O mesmo não acontece no domínio da cultura. Pensamentos, instituições e
atividades humanas podem se espalhar de uma unidade social para outra. Assim
que dois grupos entram em contato estreito, seus traços culturais disseminam-se de
um para o outro (Boas, in: Castro, 2006, p.98).
Embora este processo pareça realmente ser muito mais comum na cultura do
que no mundo vivo, é preciso levar certos aspectos em consideração antes de
tratar isso como uma crítica arrasadora. Em primeiro lugar há a questão da
relevância estatística. É preciso analisar se a transculturação e a aculturação são
eventos estatisticamente relevantes, pois mesmo se a memética não for capaz de
dar conta de tais eventos, não se pode impedir o surgimento de uma nova ciência
por causa de algumas exceções. De outro modo é provável que nenhuma nova
ciência ou nova abordagem científica seja capaz de surgir! Veremos melhor o
papel das exceções na ciência no nono capítulo (seção 9.2). Devemos lembrar que,
embora adotar palavras de uma língua estrangeira seja comum, a fusão de duas
línguas não é. Talvez algumas pessoas bilíngües possam falar estranhamente duas
línguas juntas, mas um punhado de pessoas habilidosas não pode ser classificado
como uma língua. Mas nada impede que duas línguas, entendidas como dois
memeplexos, habitem o mesmo cérebro e compitam pelo controle do
comportamento.
Há também a difícil questão de saber o quão deve ser parecida a evolução
cultural e a evolução biológica para que se possa falar em memética. Algo que
pode nos ajudar nesta questão é perguntar se esta característica que a cultura tem,
mas que falta na biologia, não poderia ser também uma boa adaptação biológica,
276
ou seja, se fosse descoberto que duas espécies distintas se uniram total ou
parcialmente no passado, teríamos refutado a evolução por seleção natural
darwinista? Não parece haver motivo para achar que a evolução darwinista seria
refutada por tal fato. Mas se consideramos que tal possível evento biológico não
sai da estrutura conceitual maior que é o darwinismo, então não temos motivo
para acreditar que o fato de isso acontecer na cultura significa que ela foge do
darwinismo. Questionar se essas idiossincrasias da cultura sairiam do darwinismo
se fossem encontradas na biologia é uma boa regra geral para se tratar este tipo de
crítica e pode ser aplicada a inúmeros casos.
Além disso, como já mostramos exaustivamente na seção 1.11, tais uniões
entre diferentes espécies ocorreram e ocorrem na história da vida. Na verdade,
ocorrem uniões até mesmo entre diferentes reinos. E a união parcial, que poderia
ser chamada de “transculturação biológica” chega a ser bastante comum em
bactérias. Temos ainda o caso das mitocôndrias que poderiamos chamar de
“aculturação biológica”. Um ponto interessante a se observar é que esta crítica tão
comum feita contra a analogia evolução cultural e evolução biológica pode se
mostrar, na verdade, como mais uma entre as muitas instigantes semelhanças
entre estes dois processos.
O fato é que os processos de transculturação e de aculturação normalmente
acontecem, tanto na biologia quanto na cultura, quando uma estrutura maior
engloba uma menor. Sendo que os termos “maior” e “menor” não têm nenhum
julgamento de valor e, do mesmo modo, poderiam ser usados os termos “mais
especializada” e “menos especializada”. Isso pode acontecer também com duas
culturas igualmente “pouco” especializadas que entram em contato. Mas muito
dificilmente acontece entre duas culturas “muito” especializadas ou uma cultura
menor englobando uma maior. Tais relações entre as culturas são encontradas
também na história da biologia. O mais comum é que um ser vivo mais complexo
englobe um menos complexo, ou dois seres pouco complexos se unam. Mas é raro
que duas espécies complexas se unam ou que uma espécie mais simples englobe
uma mais complexa55. Vemos, então, que justamente onde a analogia parecia
falhar encontramos uma relação ainda mais profunda.
55
Uma definição preliminar do que seria ser mais “simples” e “complexo” foi dada por Dawkins
(1998): se descrevermos dois indivíduos típicos de duas espécies diferentes no mesmo nível de
descrição, aquele que tiver a maior descrição será o mais complexo.
277
Feita esta digressão, podemos voltar à análise da mudança lingüística. Esta
mudança pode ocorrer em absolutamente todos os aspectos da língua. Podem
ocorrer mudanças morfológicas, fonético-fonológicas, sintáticas, semânticas,
lexicais, pragmáticas, sendo que em alguns a mudança será mais lenta. A escrita,
por exemplo, tem um ritmo de mudança mais lento do que a fala. Vários motivos
podem ser apontados para isso, entre eles está o fato de que a escrita é
normalmente dominada por um grupo mais culto, onde “escrever corretamente” é
valorizado56. Além disso, o fato de que o texto escrito tem uma permanência
maior do que o falado permite com que a “forma correta” se mantenha por mais
tempo. O fato de que a mudança da língua falada seja mais rápida do que a da
escrita pode ser constatado por qualquer falante de língua portuguesa quando
começa a aprender francês e logo observa que é muito mais fácil ler do que ouvir
a língua francesa, pois na escrita ainda existem muitas semelhanças com o
português que sumiram na fala. Apresentaremos aqui apenas alguns tipos de
mudanças.
Temos as mudanças fonético-fonológicas. Em uma mudança fonética são
alterados apenas a pronúncia de certos segmentos. A mudança, por exemplo, do /l/
para o /w/ em alto, golpe, soldado. A grafia se manteve, mas a letra l agora tem
som de u. Já a mudança fonológica altera-se o número de fonemas (unidade
sonora distintiva) como, por exemplo, o desaparecimento de /ts/ e /dz/ do
português medieval para o moderno. Tais mudanças podem se dar por um
processo chamado de assimilação. Neste processo um som se torna semelhante ao
som de seu vizinho. Na passagem do latim para o português, por exemplo, o
ditongo /aw/, escrito au, se transformou, em grande parte das palavras, em /ow/,
escrito ou. Auru, paucu e lauru se transformaram em ouro, pouco e louro,
respectivamente (cf. Weedwood, 2002, p.110). Tal mudança ainda se aprofunda
mais no português, sendo que /ow/ se transforma na fala em /o/, mas mantendo a
grafia ou. Escrevemos ouro, mas falamos oro.
Há também o processo de dissimilação, onde um som se torna diferente de
seu som vizinho para que haja nítida distinção entre os dois. Por causa deste
56
Talvez por isso não consigamos nos livrar desta inutilidade que é a crase e o acento circunflexo
no plural de “tem”, que permanecem na escrita, mas sem utilidade na fala. Só os indivíduos deste
grupo são incapazes de entender uma frase em que estes acentos estejam faltando, deste modo, só
para eles tais acentos são necessário. Mas infelizmente estão na mão deste grupo as mudanças
oficiais do português.
278
processo, no Brasil o ditongo ei, como em queijo, é pronunciado por assimilação
como /e/, já em Portugal é pronunciado por dissimilação com /ay/. Ou seja,
falamos quejo enquanto eles falam quaijo. Um tipo de dissimilação é a haplologia,
onde uma sílaba é eliminada por ser idêntica ou semelhante. Em português
saudadoso virou saudoso, bondadoso virou bondoso, idolólatra virou idólatra e
dedo-duro originou o verbo dedurar.
Existem também mudanças morfológicas onde a estrutura interna da língua
é modificada. Sufixos, como o –ulu- latino que designava um diminutivo, pode
passar a fazer parte da raiz de uma palavra. A palavra artelho, por exemplo, não
vem do latim artus, mas do diminutivo articulus (cf. Faraco, 2005, p.37). Outro
exemplo muito conhecido é mudança do sistema de flexão de caso do latim que,
nas línguas românicas, deixaram de existir, perdendo as terminações que
marcavam as declinações, e passaram a ser marcados pela ordem das palavras e
pelo advento do artigo definido. Dare lupu alimentum, por exemplo, se transforma
em dar alimento ao lobo.
Muito interessantes e bastante comuns são também as mudanças sintáticas.
A mudança morfológica acima citada é também uma mudança sintática, pois
muda a organização das sentenças. Podem surgir também novas distinções
gramaticais. O pronome pessoal você surgiu da expressão lexical Vossa mercê.
Tal processo é chamado de descoloração semântica e, neste caso, também está
acontecendo uma redução fonética enquanto o você se transforma em cê. No
interior do Brasil ainda é possível encontrar, junto com o cê, o voismicê. Vemos
também que gradualmente a expressão a gente, vem se tornando um pronome
equivalente ao nós (cf. Faraco, 2005, p.40).
É interessante notar aqui o que foi dito anteriormente sobre o estudo feito
por Wenker que em 1876 verificou a coexistência de diferentes formas no
Alemão. O mesmo se dá no português do Brasil, pois qualquer falante hábil é
capaz de utilizar e compreender ao mesmo tempo as duas formas a gente e nós e
também você e cê. Inclusive é capaz de distinguir quando há necessidade de falar,
na prática, da forma considerada mais correta. O modo como uma palavra deve
ser usada na prática faz parte do que é chamado de pragmática, que também está
sujeito a mudanças. O pronome pessoal você, por exemplo, passou também por
uma mudança pragmática, já que a forma como ele é usado também mudou. O
mesmo podemos observar no vous e no tu francês.
279
Há também mudanças semânticas, quando o significado de uma palavra
muda. Tais mudanças deram origem ao estudo da etimologia. O verbo pensar, por
exemplo, vem do latim pensare que significava “calcular o peso”, passando a
significar “pesar as idéias”. Já veado, vem do latim venatu que significava
qualquer caça morta (cf. Weedwood, 2002, p.115). Um exemplo bem conhecido é
revolução que dizia respeito só ao movimento regular e cíclico dos corpos
celestes, mas que foi ampliado para significar a destruição de uma ordem social
velha e sua substituição por uma nova. Um outro exemplo bem interessante é
rubrica que significava originalmente terra vermelha (rubro ainda significa
vermelho), depois passou a significar tinta vermelha, depois significou título dos
capítulos das leis escrito antigamente com tinta vermelha, posteriormente
significou sinal ou marca, até chegar em assinatura abreviada, como é hoje (cf.
Faraco, 2005, p.41). Por último, temos também mudanças lexicais, onde novas
palavras surgem, seja internamente, seja por empréstimo externo.
Além de todas estas mudanças, existem também aquelas na própria grafia
das letras. Um exemplo bastante interessante é a invenção dos algarismos
romanos. Normalmente eles são associados as letras do alfabeto (I, V, X, L, C, D,
M), mas na verdade esta associação foi bastante tardia. Georges Ifrah, um dos
grandes historiadores da matemática, nos diz:
Os algarismos romanos (cuja normalização por identificação às letras da escrita
latina monumental se fez, portanto, numa época tardia de sua história) nasceram na
verdade centenas de anos – talvez mesmo milhares de anos – antes da civilização
romana (Ifrah, 1998, p.188).
Mais surpreendente ainda é que os algarismos iniciais (I, V, X), tanto dos
romanos quanto dos etruscos, têm provavelmente uma origem extremamente
antiga, na verdade, a mais antiga de todas, pois eles são remanescentes da prática
do entalhe em madeira para se contar algo. Cada animal que entrava, por exemplo,
se fazia um traço na madeira ( I ), quando cinco animais tinham entrado o quinto
traço era diagonal (V), lembrando a relação entre os dedos e o dedão, e o décimo
traço era marcado por dois traços diagonais se cruzando (X). Os traços diagonais
eram feitos para facilitar a contagem, pois se o número de indivíduos fosse
grande, seria contraproducente relacionar cada um com um traço individual e
depois contar tudo de novo. Tais traços são uma das formas mais antigas de
escrita conhecida, precedendo todos os alfabetos existentes. Fica claro, então, que
280
os números I, V e X não têm relação de origem nenhuma com as letras “i”, “v” e
“x”. Nas figuras a seguir, tiradas do próprio livro de Ifrah, podemos ver o
processo pelo qual se originou o algarismo para 50 (L), para 500 (D) e para 1.000
(M):
Figura 1: história do algarismo romano para 50.
Figura 2: história do algarismo romano para 500.
Figura 3: história do algarismo romano para 1000.
Um processo semelhante ao romano aconteceu na numeração árabe. Esta
era uma numeração bem simples, também formada por traços individuais. Mas
como era utilizado um pincel com tinta para grafar estes números o formato de
seus algarismos também foi mudando de acordo com a necessidade de escrever
um número sem levantar o pincel do papel, de modo que traços com significado
bastante intuitivo foram se transformando em grafias sem qualquer significação
direta (Ifrah, 1998, 208). Podemos ver tal processo no quadro da próxima página:
281
Figura 4: história dos algarismos árabes 5, 6, 7, 8 e 9.
O estudo de todos estes diferentes tipos de mudança mostram que algumas
regularidades podem ser encontradas. Estas regularidades algumas vezes são
chamadas de leis da mudança, embora chamá-las de leis seja muito forte. De
qualquer modo, tais regularidades existem e baseado nelas é possível até fazer
razoáveis previsões, bem como reconstruções de línguas desaparecidas. Um
exemplo muito comum de regularidade é a transformação do latim /kl-/ e /pl-/
que, quando estavam no início das palavras, se transformaram em /λ-/ do
espanhol, escrita ll, e em /š-/ do português, escrita ch-. Assim, clamare, clave,
plenu e plicare, todas do latim, viraram no espanhol llamar, llave, lleno e llegar, e
no português chamar, chave, cheio, chegar, respectivamente. Tal correspondência
não vale para todos os casos e pode ter se dado através dos seguintes estágios
intermediários /kl- > ky- > ktš- > tš- > š-/ (cf. Faraco, 2005, p.55).
Um dos mais famosos estudos de tais regularidades é a chamada lei de
Grimm. Algumas das suas correspondências podem ser vistas a seguir, junto com
alguns exemplos (cf. Weedwood, 2002, p.117):
Grego
Latim
Gótico
Sânscrito
Eslavo
p
p
f
p
p
b
b
p
b
b
ph
f/b
b
bh
b
t
t
q
t
t
282
d
d
t
d
d
th
f/d
d
dh
d
phero
fero
biru
bharami
bera
phrater
frater
brodhar
bhratar
bratru
fotus
páda
peši
taihun
daśa
Exemplos:
pous, podôs
pés, pedis
deka
decem
Tabela 3: Lei de Grimm
Baseado em regras como estas foram feitas tentativas de descobrir as formas
originárias do proto-indo-europeu. No caso da palavra dez chegou-se ao resultado
*dekm57. Claro que tal reconstrução é apenas uma tentativa, mas mesmo que
errada ela mostra a força do que foi chamado, por óbvias razões, de método
comparativo. Tal método, dada as devidas proporções, se mostra bastante
semelhante aos métodos existentes na biologia para reconstruir filogenias, entre
eles o cladismo que já foi longamente explicado (seção 1.10). Encontra, inclusive,
problemas semelhantes como convergências e empréstimos que podem induzir a
falsas relações genealógicas (seção 3.2). Um exemplo interessante se deu com o
prefixo a- do português:
O prefixo a- do português pode significar tanto uma privação (amoral, apolítico,
acéfalo) como um “tornar-se” (avermelhar, amolecer, aportuguesar). O motivo é
que tal prefixo vem tanto do an- grego, que significava privação, quanto do adlatino que significava aproximação (Martin, 2003, p.51).
No entanto, mesmo em suas ousadias existem sucessos e existem
comprovações da eficácia de tal método:
Algumas vezes, as formas hipotéticas são confirmadas empiricamente por registros
dialetológicos e/ou pela descoberta de documentos escritos. Essas situações, que
ocorreram no passado, ajudaram a reforçar a confiabilidade no poder heurístico do
método (Faraco, 2005, p.126)
Já a questão de se todas as famílias provêm de uma mais antiga é uma
questão bem complicada e quase nunca trabalhada58, mas Cavalli-Sforza nos fala
57
58
O asterisco marca que o termo é uma reconstrução.
Problema idêntico a este existe sobre a origem única da vida.
eu levo
irmão
pé
dez
283
de um estudo de Greenberg sobre o étimo 59 tik, que parece estar presente em
quase todas as famílias: das 17 ele não se encontra nas duas mais antigas, e em
todas indica um significado similar, algo como “dedo, um, único, apontar, mão e
braço” (Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.249).
Uma semelhança ainda mais surpreendente entre língua e biologia é que, na
lingüística, existem estudos com praticamente a mesma função, e técnica
semelhante, ao que é conhecido como relógio molecular na genética (cf. CavalliSforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.230). A chamada glotocronologia serve
justamente para dar uma medida de tempo às mudanças históricas. “Ela toma por
base a premissa de que os vocabulários básicos das línguas se alteram em
determinada proporção” (Marconi & Presotto, 2006, p.302). O vocabulário básico
é composto de umas 100 ou 200 palavras referentes ao ar, às nuvens, ao sol, à
chuva, às partes do corpo e aos fenômenos universais. Baseado em tal estudos
chegaram a um número de mudança em tal vocabulário de cerca de 19% em 1.000
anos. Com isso eles são capazes de datar uma língua para o qual não tem dados
precisos.
O grupo de palavras adotadas pela glotocronologia são as que melhor se
conservam com o tempo, talvez por serem na sua maioria aprendidas logo na tenra
infância. É claro que existem muitas divergências aqui, mas alguns exemplos
podem ser dados, baseados na sonoridade das palavras (cf. Cavalli-Sforza &
Cavalli-Sforza, 2002, p.232):
Um
Dois
Três
Cabeça
Olho
Dente
Irlandês
aon
dau
ri
ceann
suil
iacal
Galês
um
do
tri
pen
ligad
dant
Danês
em
to
tre
hoved
öje
tand
Sueco
em
to
ter
huvud
öga
tand
Inglês
uan
tu
thri
hed
ai
tuth
Alemão
ain
zwai
drai
kopf
auge
zahn
Espanhol
um
dos
tres
kabesa
oho
diente
Francês
ön
dö
truà
tet
oi
dan
59
“Étimo” diz respeito ao significado ou origem de uma palavra. De onde provém o termo
etimologia.
284
Romeno
un
doi
tei
kap
okiu
dinte
Albanês
nii
dy
tre
krie
sy
dami
Grego
enas
dyo
tris
kefali
mati
dondi
Polonês
jeden
dva
tsi
glova
oko
zab
Russo
adin
dva
tri
galavá
oko
zup
Búlgaro
edin
dva
tri
glava
oko
zib
Finlandês
yksi
kaksi
kolme
pää
silme
hammas
Estoniano
üks
kaks
kolm
pea
sailm
hambaid
Húngaro
egy
ket
harom
foe
sem
fog
Basco
bat
bi
iru
buru
begi
ortz
Tabela 4: palavras da glotocronologia
Mesmo um olhar leigo pode descobrir uma serie de conexões nesta tabela.
Por exemplo, o Basco parece ser radicalmente diferente de todas. Mesmo uma
pessoa que nunca olhou um mapa poderia adivinhar que o Polonês, o Russo e o
Búlgaro são falados em países próximos e com bastante relações entre si.
Também são evidentes as semelhanças entre Finlandês e o Estoniano, o mesmo
acontece com o Danês e o Sueco. O fato é que as 15 primeiras línguas são indoeuropéias, o Basco é de uma família desconhecida e as três restantes são
Uralianas.
Vemos, então, que existem fortes semelhanças entre os métodos já utilizados
na lingüística história, e na filologia, e os métodos que poderiam ser usados na
memética. Estas semelhanças já tinham sido há muito tempo notadas por alguns
lingüistas. August Schleicher chega a escrever, em 1863, um panfleto intitulado O
darwinismo testado pela ciência da linguagem ironizando a suposta inovação do
darwinismo. Nas palavras dele:
O que Darwin agora defende acerca da variação das espécies no curso do tempo
[...] tem sido há muito tempo e em geral reconhecido em sua aplicação aos
organismos da fala [...] Traçar o desenvolvimento de novas formas com base em
formas anteriores é muito mais fácil, e pode ser realizado em escala bem maior, no
campo da língua do que nos organismos de plantas e animais (Schleicher, in:
Weedwood, 2002, p.93).
Para eles chegava a ser engraçado tanta polêmica sobre métodos e resultados
que consideravam há muito tempo comprovados nos estudos lingüísticos.
Infelizmente Schleicher tinha algumas opiniões místicas e acreditava que as
285
línguas tinham vida própria, o que acabou dando origem a um preconceito contra
as suas idéias. Mas esta relação entre o darwinismo e a lingüística ainda se
mantém nos dias atuais. Konrad Lorenz, um dos pais da etologia, nos diz que:
O estudo comparativo de linguagens usa, há muito tempo, os mesmo métodos, para
desembaralhar a etimologia de uma palavra, que o método usado pela morfologia
comparativa para determinar a história filogenética de um órgão ou organismo
(Lorenz, 1995, p.39).
Em concordância com isso o antropo-geneticista Luigi Luca Cavalli-Sforza
nos diz:
Do mesmo modo que os taxonomistas de plantas e animais, os lingüistas
reconstruíram árvores que ilustram relações lingüísticas a que chamam de
‘genéticas’ – equivalente ao uso do termo em biologia (Cavalli-Sforza, 2003,
p.178).
Mas talvez o mais interessante é que o próprio Darwin notou tal semelhança.
Como é tão raro ver Darwin falando de algo que ele não pesquisou
exaustivamente, a citação merece ser colocada na íntegra:
Da mesma forma que os seres orgânicos, as linguagens podem ser classificadas em
grupos e subgrupos; e podem ser classificadas tanto naturalmente, segundo a
descendência, como artificialmente, segundo outros caracteres. As linguagens
dominantes e os dialetos se estendem largamente e levam as outras línguas à
gradual extensão. Da mesma maneira que uma espécie, uma linguagem, uma vez
extinta, conforme observa Sir C. Lyell, não reaparece mais. Uma mesma linguagem
não tem dois lugares de nascimento. Duas linguagens diversas podem cruzar-se ou
mesclar-se. Vemos variabilidade em toda língua e novas palavras sobrevêm
continuamente; mas, dado que o poder da memória tem um limite, as palavras
tomadas individualmente como as línguas inteiras vêm gradualmente se
extinguindo. Conforme Max Muller muito bem observou: ‘A luta pela vida vai
constantemente contra as palavras e as formas gramaticais em toda a língua. As
formas melhores, mais breves e mais fáceis estão constantemente ganhando terreno
e devem seu êxito à sua virtude intrínseca’. A estas causas mais importantes da
sobrevivência de certas palavras podem ser acrescentadas simples novidades e
modas; com efeito, na mentalidade do homem existe um forte amor pelas pequenas
mudanças em todas as coisas. A sobrevivência ou a conservação de certas palavras
favorecidas na luta pela existência é a seleção natural (Darwin, 2002, p.112 -13).
Vemos, nesta última linha, que o que Darwin está propondo está longe de
ser só uma analogia. Ele vai bem mais longe e faz uma afirmação que poderia
estar em qualquer livro de memética. Darwin foi capaz de observar todos os traços
importantes para a evolução e o desenvolvimento das línguas. Existiria a variação,
286
a hereditariedade e o ambiente selecionador que era a mente humana. Em uma
análise mais recente o antropólogo e lingüista Terrence Deacon disse:
Os cérebros humanos, com suas limitações de processamento, e as culturas
humanas, com seu contexto comunicativo especial, podem ser considerados os
“ambientes” nos quais a linguagem evolui (Deacon, in: Depew & Weber, 2003,
p.86. Minha tradução).
Teríamos, então, uma típica luta por espaço, sendo que só certas variações
sobreviveriam. Palavras, expressões ou estruturas lingüísticas que fossem mais
fáceis de aprender, de lembrar e de usar teriam uma maior probabilidade de serem
passadas adiante. Vemos isso no caso do processo de regularização dos verbos em
inglês. Além disso, palavras ou estruturas novas que podem ser usadas em muitas
situações também seriam mais comuns. Como já vimos, palavras aprendidas mais
cedo teriam uma menor chance de sofrerem mudanças. Darwin foi capaz de
antever como seria possível reconstruir as genealogias:
Se se descobre que duas línguas se assemelham por uma multiplicidade de palavras
e de modos de construção, serão universalmente reconhecidas como derivadas de
uma mesma fonte, apesar de diferirem notavelmente em algumas poucas palavras e
modos de construção (Darwin, 2002, p.179).
Vemos que até mesmo o cauteloso Darwin foi capaz de perceber as
semelhanças entre a evolução das línguas e a evolução das espécies. Tais
semelhanças poderiam parecer mera curiosidade ou mesmo coincidência, mas o
número de semelhanças e a proximidade entre os dois processos e os dois
métodos de estudos indicam que há algo mais que deva ser aprofundado. Afinal
de contas, se o mesmo método pode ser aplicado em dois objetos diferentes, só
pode ser porque existem semelhanças que permitem tal aplicação.
Recentemente a lingüística diacrônica está mais esquecida, o foco da
lingüística contemporânea tem sido outro. Chega-se a falar em tabu em relação ao
estudo da evolução das línguas (cf. Cavalli-Sforza & Cavalli-Sforza, 2002, p.247).
Mas isso em nada modifica o que foi dito aqui, pois mesmo os lingüistas
interessados só no aspecto sincrônico não negam a mudança da língua, só não
consideram este o aspecto mais interessante de se estudar. Além disso, a memética
também tem muito a aprender com a lingüística sincrônica. Infelizmente, não
trataremos dela neste trabalho.
287
No entanto, a lingüística diacrônica ensaia uma retomada de um modo que
muito interessa à memética, ou seja, de uma maneira matematicamente rigorosa.
Na edição de Outubro de 2007 da Nature, 3 artigos sobre o tratamento matemático
da mudança lingüística foram publicados. Em um deles, que, na verdade, resumia
os outros 2, chega-se até a falar sobre a memética, dando como referência
justamente Blackmore, Dennett e Dawkins, e termina o artigo com a seguinte
afirmação:
Se algum dia aparecer uma ciência memética que possa rivalizar com a genética,
ela deveria proceder nas seguintes linhas: combinando uma análise quantitativa
cuidadosa de alterações lingüísticas bem-documentadas com modelos teóricos
sofisticados capazes de levar em consideração a complexa diversidade de camadas
da evolução cultural (Fitch, 2007, p.66. Minha tradução).
Deve-se deixar claro que quando ele diz que a memética vai “rivalizar” com
a genética é justamente porque ela pretende mostrar que nem toda a cultura é
geneticamente predeterminada. O mais interessante é que estas “linhas” que ele
fala que a memética deve seguir são justamente as “linhas” dos dois artigos
anteriores, ou seja, de certo modo é memética já sendo feita nestes artigos. Tais
artigos falam sobre a constância da mudança das línguas e mostram que palavras
que são mais usadas mudam consideravelmente mais lentamente do que palavras
que são pouco usadas. Nas palavras de Fitch:
Apesar das diferenças significativas em seus métodos, ambos os artigos
documentam o mesmo padrão geral: palavras freqüentemente usadas são resistentes
à alteração. Inflexões relativamente raras, tais como “help/holp”60 tornam-se
regularizadas, enquanto que verbos ingleses de alta freqüência retiveram seu estado
ancestral irregular (“go/went” ou “be/was”61). Geralmente, termos que ocorrem
com alta freqüência nos idiomas indo-europeus (tais como “um”, “noite” ou
“língua”) são resistentes à substituição por novas formas fonológicas (Fitch, 2007,
p.66. Minha tradução).
Vimos que esta constância das palavras mais freqüentes é usada na
glotocronologia, que é capaz de descobrir há quanto tempo duas línguas se
separaram estudando tais palavras. O que estes dois trabalhos citados por Fitch
fizeram foi trazer mais rigor matemático para esta técnica. Além disso, dois
modos de mudança lingüística são sugeridos por tais artigos: palavras usadas
60
“Help” é tanto o substantivo “ajuda”, quanto o presente do verbo ajudar “to help”. “Holp” é uma
forma do passado de “to help” que está presente sobretudo em certos dialetos.
61
Respectivamente, verbo “ir” no presente e no passado, e verbo “ser” no presente impessoal e no
passado.
288
frequentemente podem ter uma taxa menor de erros de percepção ou de pronúncia,
ou então todas as palavras têm uma taxa de erro constante, mas as usadas
frequentemente têm uma menor chance destes erros serem adotados. Existiria uma
espécie de sistema de correção de erros.
Talvez a mais curiosa análise da mudança lingüística que Fitch apresenta
seja a da transformação de palavras comuns em termos pejorativos. Ele analisa
palavras em inglês como “hussy” e “wench” que originalmente eram uma maneira
respeitosa de se falar de mulheres comuns, mas que se tornaram termos
pejorativos. No entanto, o termo “lady” era restrito para as mulheres de nobreza,
mas ficou comum. A possível explicação é que quando se falava com, ou sobre,
uma mulher era sempre melhor ser bem educado. O termo mais educado era
“lady”, então este era o usado frequentemente, enquanto os outros dois caíram no
esquecimento. Como o termo “lady” era considerado superior aos outros dois,
quando ele passa a ser usado para qualquer mulher, ou seja, desce de nível, os
outros dois descem também e já não podem ser usados senão pejorativamente.
Assim, uma palavra se sobrepôs às outras por haver uma pressão social para se ser
bem educado. Algo semelhante acontece frequentemente quando termos médicos
para tratar doentes mentais se tornam termos pejorativos como, por exemplo,
idiota, mongolóide, debilóide e débil mental. Tal mudança obriga a criação de
novos termos médicos, que futuramente se tornarão novos termos pejorativos.
Este processo, inclusive, prediz o fracasso de qualquer tentativa politicamente
correta em corrigir termos pejorativos criando novos termos como “afrodescendentes”, que provavelmente se tornarão também termos pejorativos no
futuro.
6.2
Quanto Mais, Melhor: economia, história, publicidade e propaganda
Ao tratar da cultura, a memética transita por áreas que tratam deste mesmo
objeto há séculos, como acabamos de ver no caso da lingüística e anteriormente
no caso da antropologia. Poderiam ser levadas em consideração também várias
outras áreas que não serão tratadas na presente tese como a economia, a história, a
289
sociologia, a publicidade e propaganda etc. Destes, a publicidade e propaganda
mereceriam um destaque, pois são as áreas que não só estudam a transmissão de
informação por diversos meios, como também são capazes de fazer algumas
previsões e até mesmo testá-las.
Uma propaganda qualquer, como as que estão presentes na televisão ou
revistas, normalmente têm atrás de si todo um aparato teórico-conceitual que
indica como levar o consumidor a comprar tal produto e que pode ser testada
simplesmente vendo se tal propaganda teve o efeito desejado. A memética já
poderia encontrar aí uma primeira base empírica de suas previsões com a qual
trabalhar. Dawkins mesmo trata da questão da propaganda, embora não faça uma
relação direta com a memética. Mesmo não citando a memética, só dele ter falado
na etologia nos mostra como a memética não é só uma recebedora passiva de
analogias da biologia, mas pode, ela mesma, criar analogias que serão úteis dentro
da biologia. Em suas palavras:
As propagandas não estão aí para informar ou desinformar, e sim para persuadir. O
anunciante utiliza seu conhecimento de psicologia humana, das esperanças, medos
e motivos secretos de seus alvos, e desenha uma propaganda que possa manipular
seu comportamento de forma eficaz. A exposição de Packard (1957) a respeito das
profundas técnicas psicológicas dos anunciantes comerciais consistem numa leitura
fascinante para o etologista. Lá, encontra-se a seguinte citação de um gerente de
supermercado: ‘O que as pessoas gostam é de ver um monte de mercadorias.
Quando há apenas três ou quatro latas de algum produto em uma prateleira, elas
simplesmente não se movem.’ (Dawkins, 1999, p.62. Minha tradução).
Publicitários precisam saber como vender e, para isso, precisam entender
como afetar o comportamento de alguém de maneira direcionada e previsível.
Muito do que eles fazem é justamente baseado no tipo de pesquisa que interessa à
memética (cf. Norman, 2004). Experimentos, que no futuro poderão ser
considerados experimentos em memética, já foram realizados dentro da psicologia
e são utilizados por publicitários, e outros surgem a todo o momento. Em 1993, E.
Hanna e A. Meltzoff fizeram um experimento com crianças de 14 meses e
descobriram o poder da imitação e da transmissão cultural nestas crianças:
Ensinou-se a algumas crianças – os tutores – a brincar com um brinquedo de forma
nova. Esses tutores foram, então, levados a uma série de creches que nunca haviam
visitado antes. As outras crianças ‘ficavam sentadas ao redor das mesas, tomando
suco, chupando o dedo e agindo, em geral, como agem os bebês’, enquanto os
tutores brincavam com o brinquedo de uma maneira nova. Dois dias mais tarde, os
bebês observadores foram examinados em suas próprias casas (ou seja, não nas
creches), e constatou-se que haviam obviamente adotado o comportamento que
290
envolvia brincar com o brinquedo da maneira nova. Devemos levar isso em
consideração quando ouvimos alguém dizer que a televisão não afeta o
comportamento infantil (Dugatkin, 2000, p.187. Minha tradução).
Se as pesquisas e “experimentos” em publicidade e propaganda podem nos
dizer qual produto irá vender, ou qual música será escutada, pode ser também que
nos digam, por exemplo, qual variante lingüística terá maior sucesso, ou qual
novo hábito se propagará com mais rapidez, ou qual método pedagógico é mais
eficaz.
Dentro
de uma perspectiva
memética,
publicidade,
lingüística,
antropologia, sociologia, história etc. estão todas falando a mesma língua e devem
trabalhar juntas para estudar a cultura. As técnicas utilizadas nestas áreas
poderiam ser reaproveitadas pela memética. O professor de economia Don Ross
acredita que já existem técnicas matemáticas rigorosas para serem exploradas pela
memética:
O aparato técnico que buscamos estava sob nossos narizes todo o tempo. Trata-se
da macro-economia apoiada pela teoria evolutiva dos jogos. Tudo que Dennett e
Blackmore fizeram com os memes é realizado e justificado, bastando, para tanto,
observá-los como estratégias que competem para superar a replicação umas das
outras em uma sucessão de hospedeiros (Ross, 2002, p.171. Minha tradução).
Vale lembrar que a teoria dos jogos, que é hoje tão bem adaptada aos
estudos do comportamento animal, entre outros, veio justamente da economia
através de Maynard-Smith. Isso nos mostra que ela é claramente neutra em
relação ao substrato e já é utilizada no estudo do comportamento cultural humano,
mas estava restrita ao comportamento ligado à economia. Talvez o mais
interessante neste tipo de estudo seja mostrar, como aconteceu no caso da
etologia, como estratégias tipicamente irracionais, visando o bem individual,
podem simular estratégias perfeitamente racionais. Cabe lembrar o fato
interessante de que existem indícios que as ligações entre darwinismo e economia
seriam ainda mais profundas, pois a teoria de Darwin pode ser entendida como
uma “criativa adaptação intelectual” da teoria econômica de Adam Smith (cf.
Gould, 1997, p.398). Isso significa que a própria biologia evolutiva poderia ser
vista como tendo surgido de uma analogia da economia e, deste modo, da
memética! A memética poderia aproveitar dos métodos, resultados e bases
empíricas não só da macro-economia, mas também da neuroeconomia e da
economia comportamental. O mesmo vale para todas as outras disciplinas já
291
citadas. Dawkins inclusive chega a levantar este ponto falando sobre o estudo de
história da arte:
A própria disciplina acadêmica da história da arte, com seu rastreamento
sofisticado de iconografias e simbolismos, pode ser encarada como um estudo
elaborado sobre a memeplexidade (Dawkins, 2007, p.264).
Se a memética for percebida deste modo ficará claro que ela não é uma
ciência por fazer. Seu valor está antes de tudo na sua capacidade de unir diversas
áreas que não se encontram no momento dentro de uma estrutura conceitual
comum. Há sim um longo caminho que ela deve percorrer, mas já há um caminho
percorrido por outras ciências correlatas e não é preciso percorrê-lo de novo.
Podemos, deste modo, ver a memética não só como uma promessa, mas como
uma realidade em construção. A memética precisa, antes de tudo, de alguém com
a capacidade de unir diversas pesquisas empíricas, realizadas pelas mais diversas
áreas que estudam a cultura. Só assim ela terá embasamento empírico suficiente
para se estabelecer como ciência.
Costuma-se perguntar se a memética está esperando pelo seu Michelson e
Morley, que refutaram a doutrina do éter, ou pelo seu Watson e Crick, que
descobriram a estrutura física dos genes. Mas se o que foi dito aqui está certo,
nenhuma das duas análises está correta. A memética ainda espera por seu Darwin:
alguém com amplo conhecimento nas diversas áreas científicas que trabalham
com a cultura e que seja capaz de mostrar como estas diversas áreas no fundo
contam a mesma história e só podem ser compreendidas juntas. Neste sentido, o
grande erro dos defensores da memética até o momento foi o de ignorar estas
pesquisas.
7
Tentando em Frente aos Neurônios-Espelho
A ciência não é feita de respostas definitivas, lógica e ontologicamente
fundamentadas em todos os seus mínimos detalhes. Ao contrário disso, ela é feita
por homens, homens que tentam da melhor maneira possível, mas sempre dentro
de suas capacidades humanas. Durante a leitura de qualquer trabalho científico
não devemos procurar por mais do que o melhor que aquela pessoa, na maioria
das vezes grupo de pessoas, foi capaz de fazer dadas todas as suas limitações,
sejam elas econômicas, sociais, políticas ou até mesmo limitações de tempo,
limitações familiares, pessoais e psicológicas. E muitas vezes uma proposta
científica, mesmo aquela que Kuhn colocaria dentro das ciências normais, não
passa de uma tentativa, uma escolha de um grupo de indivíduos de como uma
determinada questão poderia ser resolvida. A ciência não é feita de passos seguros
e sim de boas tentativas. Tais tentativas devem ser julgadas, é claro, de uma
maneira impiedosa, e também sem nenhuma consideração pelo indivíduo ou
grupo que a propôs. Um artigo científico qualquer deve passar pelo mesmo
escrutínio e provação pelos seus pares, não importando se seu autor é considerado
um pária nos meios científicos ou um gênio. Só assim podemos ter alguma
pretensão de objetividade.
Embora tal escrutínio tenha que ser impiedoso, não precisa ser rude, brutal
ou arrogante. Uma tentativa, qualquer tentativa, sempre vale, mesmo que sem
sucesso. Na pior das hipóteses, pelo menos foi demonstrado que aquele caminho
não deve mais ser seguido. Tal respeito pelas tentativas, mesmo as erradas, pode
ser considerado como o que está na base do famoso lema panfletário “Tudo Vale”
de Feyerabend. Tal lema poderia ser reescrito como “é preciso tentar para saber se
vai dar certo ou não!”. Veremos no nono capítulo que Feyerabend nos mostra em
certas passagens que o principal ensinamento que se pode tirar de seu Contra o
Método é justamente este: não se pode negar uma tentativa antes dela ter
fracassado62. Gould em um brilhante artigo também nos mostra a necessidade de
62
No entanto, é claro que devemos concordar com seus críticos de que o fracasso pode nunca ser
reconhecido e péssimas tentativas podem ter vidas ilimitadas nos levando a um pluralismo tão
exacerbado que seria demasiadamente contraproducente. Mas ainda aqui cabe a questão de se isso
iria de fato acontecer ou se é só um temor exagerado. Não entraremos em tal questão aqui.
293
não se ver as tentativas fracassadas com um olhar puramente negativo (cf. Gould,
1997, p.159).
Se isso vale para a ciência que poderíamos chamar de normal, ou mesmo de
cotidiana, para fugir das implicações do termo de Kuhn, vale ainda mais quando
se está explorando todo um novo ramo da ciência. Neste caso não temos nada
mais do que tentativas a fazer. E como nos falta até mesmo os critérios já bem
fundamentados para julgar tais tentativas, é de se compreender que até mesmo
péssimas tentativas tenham uma vida longa. Na história das ciências não nos
faltam exemplos de tais situações. Dentro da própria biologia podemos lembrar as
inúmeras explicações para a diversidade do mundo natural que foram propostas
antes de Darwin, muitas das quais já foram apresentadas nos primeiros capítulos
da presente tese. Ao contrário de julgá-las de maneira extemporânea, devemos
louvá-las como boas tentativas dentro das possibilidades de seu tempo63. Na falta
de uma grande teoria, como a evolução por seleção natural, nada mais razoável do
que usar a onisciência e onipotência divina para explicar a assustadora adaptação
do mundo natural.
Um exemplo mais recente são as tentativas de propor explicações naturais
de cunho darwinista para áreas que ainda são dominadas pelas chamadas Ciências
Humanas. A própria memética é um exemplo de tal tentativa, assim como a
psicologia evolutiva, a sociobiologia, as teorias da co-evolução e, por que não, até
mesmo o darwinismo social, todas vistas no quarto capítulo. Com exceção desta
última, todas se mantêm como tentativas, com diversos graus de sucesso, de
abordar as Ciências Humanas utilizando conceitos e métodos criados,
principalmente, dentro da biologia. Como em qualquer tentativa, há sempre o que
melhorar e também há sempre muito mais para fazer do que o que já foi feito.
Mas mesmo dado todas as suas limitações e ineficácias o mais importante é que se
tente, de outro modo não será possível seguir em frente.
Em uma abordagem tão nova e ousada quanto a possibilidade de explicar a
cultura através de um processo de seleção natural não é surpreendente que as
diversas tentativas propostas se amparem em outras tentativas como modo de
avançar, criando, assim, um acúmulo de tentativas que pode parecer como
demasiadamente frágil para ser chamado de científico. Não podemos criticar que
63
Larry Laudan não será abordado aqui, embora faça considerações semelhantes (cf. Laudan,
1977).
294
tudo isso seja visto com muita precaução, mas é importante que esta tentativa seja
feita, mesmo se for somente para fracassar logo adiante.
A memética é sem dúvida uma das tentativas mais arriscadas, pois propõe
um modo completamente novo de se olhar para a cultura e também para nós
mesmos. Como foi visto em várias seções do presente trabalho, muitas críticas
que ela deve enfrentar surgem justamente por causa desta sua demasiada ousadia.
Se a memética for aceita como mais uma abordagem válida de estudo do ser
humano e de sua cultura, então haverá toda uma nova possibilidade de estudo
junto com uma quantidade de trabalho a ser feito. Tudo nela ainda está por fazer,
não passa de tentativas e mais tentativas. Dentre os obstáculos que ela terá que
enfrentar um se impõe logo de início, a saber, responder o que será chamado aqui
de questão ontológica (seção 10.4).
Mesmo levando em consideração o fato já apresentado que o conceito de
gene não é tão sólido como se costuma acreditar, e que por muito tempo a
biologia prosperou sem ele (seção 1.6 e 1.7), ainda assim, o fato de que existe
hoje ao menos um substrato físico, capaz de responder por boa parte das funções
que um gene deve realizar, já é o suficiente para que tal conceito tenha um status
ontológico bem superior ao conceito de meme.
Buscar pelo que seria o substrato ontológico dos memes pode tomar diversas
formas, dependendo de que interpretação for feita da teoria memética. O mais
comum é tratar o meme como sendo de alguma forma mental ou cerebral, sendo o
comportamento e os objetos frutos de tal comportamento o efeito, o fenótipo, de
tais estruturas mentais ou cerebrais (seção 10.8). Não será possível entrar aqui nas
diversas discussões da filosofia da mente sobre a relação entre o mental e o
cerebral64. Como a abordagem pretendida aqui é científica, será então assumido o
que poderíamos chamar de “senso comum científico”, que trata a mente como
nada além do que o próprio cérebro e seu funcionamento. Deste modo a questão
passa a ser “qual o substrato cerebral dos memes?”.
Uma indicação que pode ser útil para ajudar na tentativa de responder a esta
questão é o fato de que seja lá qual for este substrato, ele deve estar, no mínimo,
intimamente relacionado com o substrato que permite a nossa incrível capacidade
de imitação. A nossa grande habilidade de imitar não só nos diferencia de
64
Tais problemas já foram tratados na monografia de final de curso, assim como na dissertação e
em diversos artigos publicados (cf. Leal-Toledo 2002, 2005 e 2006)
295
praticamente todos os animais como também é justamente ela que, segundo a
memética, nos permite a transmissão de memes entre indivíduos (seção 3.3 e 8.1).
Dado o fato de que estudos sobre a nossa capacidade de imitar já são realizados há
décadas, podemos, então, ver se estes estudos são capazes de jogar alguma luz
sobre o problema aqui tratado. No entanto, como estamos procurando um
substrato físico no cérebro, também podemos nos beneficiar principalmente dos
recentes estudos do substrato neuronal da imitação. Dentre tais pesquisas uma se
encontra em franco destaque, a saber, as recentes pesquisas sobre os chamados
neurônios-espelho. Tais neurônios apresentam propriedades muito interessantes e
podem ser tratados como uma primeira tentativa de buscar uma base cerebral para
os memes ou, pelo menos, para a transmissão memética.
Os neurônios-espelho são uma descoberta recente das neurociências (início
dos anos 90) e já são considerados como uma das grandes promessas desta área,
capazes de revolucionar como o cérebro é entendido, principalmente no que diz
respeito a nossa capacidade de compreender, imitar e aprender. É comum
acreditar, não só por causa dos estudos científicos, mas também por causa de
nossas próprias intuições a respeito do nosso funcionamento mental, que para a
mente compreender ou imitar uma ação o cérebro deve utilizar áreas distintas. A
primeira área deve perceber tal ação, a segunda deve ser capaz de traduzir tal ação
alheia em uma ação do nosso próprio corpo e a terceira deve ser capaz de
comandar e coordenar nosso corpo para realizar tal ação.
Vimos, na seção 3.3, que Susan Blackmore defende algo parecido. No
entanto, uma das grandes descobertas das neurociências foi justamente que, ao
contrário do que se imaginava antigamente, e ainda é comum acreditar hoje em
dia, o cérebro não utiliza áreas distintas para certas percepções e funções motoras
(cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.19). Sabemos agora que áreas que eram até
recentemente consideradas como sendo exclusivamente motoras na verdade têm
um papel fundamental na percepção e reconhecimento das ações realizadas por
outros. Desse modo, ao contrário de dividir funções, o cérebro faz tudo de uma
vez só. Surpreendentemente Darwin chega perto de prever algo semelhante a isso:
Não parece improvável que, quando pensamos muito numa determinada sensação,
a mesma parte do sensório, ou uma bastante próxima, seja ativada da mesma
maneira que quando realmente temos a sensação. Se isso acontecer, as mesmas
células do cérebro serão estimuladas, ainda que talvez num menor grau, quando
pensamos intensamente num gosto azedo e quando o sentimos realmente. E em
296
ambos os casos elas transmitirão forças nervosas para o centro vasomotor com os
mesmos resultados (Darwin, 2000, p.319)65.
A descoberta dos neurônios-espelho se deu por acaso no estudo da área
motora, conhecida como F5, em cérebros de macacos. Foi observado que um
mesmo neurônio individual disparava tanto quando uma determinada ação era
realizada, quanto quando esta mesma ação era observada por este macaco. Tais
ações, é claro, não eram quaisquer ações, mas ações evolutivamente relevantes
como, por exemplo, pegar algo com precisão, segurar algo, mover os lábios para
pegar algo ou para mastigar etc. Já era conhecido o fato de que tais áreas não
diziam respeito à movimentos individuais e sim a atos motores, ou seja, um
determinado neurônio disparava não quando um determinado movimento como,
por exemplo, pegar algo com a mão esquerda, era executado, mas sim quando era
executado um determinado ato motor como, por exemplo, pegar algo. Não
importava se este algo era pego com a mão esquerda, direita ou mesmo com a
boca, o que importava era somente a própria ação de pegar algo.
Além disso, se exatamente este mesmo movimento físico de pegar algo
fosse realizado dentro de outra ação, como se coçar, por exemplo, tal neurônio
não disparava (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.23). Tais ações foram
chamadas de ações intransitivas, ou seja, não envolvem um objeto específico para
o qual a ação é voltada. Tudo isso indicava, mais do que claramente, que aquele
neurônio da área motora F5 do cérebro de macacos não dizia respeito à
codificação de determinados movimentos musculares da mão. O que ele
codificava era algo de certa maneira mais abstrato: ele era ativado sempre que
algo era pego de maneira precisa, não importava como. Um neurônio que poderia
ser entendido como um “neurônio do agarrar-com-a-mão-e-a-boca” (Rizzolatti &
Sinigaglia, 2008, p.23. Minha tradução). Para a surpresa dos pesquisadores foi
descoberto que este mesmo neurônio, que deveria ser exclusivamente motor,
também era ativado quando o macaco observava exatamente esta mesma ação
específica sendo realizada por outros. Ele era, então, um neurônio visuo-motor: a
65
Existem também, mas não serão tratados aqui, os chamado “neurônios-espelho emocionais” que
estariam na base de nossa capacidade de empatia, principalmente no que diz respeito às nossas
emoções primárias como o medo, a dor, nojo e alegria. Foi descoberto, por exemplo, que a mesma
área cerebral que nos habilita a ter uma expressão facial de nojo é também o que nos permite
identificar esta expressão em outros. Deste modo, se ela é afetada não só perdemos nossa
habilidade de sentir nojo como também perdemos nossa habilidade de reconhecer expressões
faciais de nojo, mas sem perder a habilidade de reconhecer nenhuma outra expressão (cf.
Rizzolatti e Sinigaglia, 2008, p.181).
297
mensagem mandada por tais neurônios era exatamente a mesma, não importava se
a ação estava sendo realizada ou observada66! Mais impressionante ainda é o fato
de que em certas ações que produzem sons, como quebrar a casca de um
amendoim para comer sua noz, os neurônios-espelhos podem ser ativados até
mesmo só com este som, de modo que fica ainda mais claro que para tais
neurônios o que importa é a própria ação e não o modo como ela é realizada (cf.
Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.103). De certa maneira este neurônio era ativado
não por um determinado ato, seja ele motor ou visual (ou mesmo sonoro), mas
sim pela compreensão do significado deste ato (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008,
p.50). Isto indica que a função primordial de tais neurônios em macacos é
justamente a capacidade de compreender de maneira imediata a ação dos outros.
Nas palavras de seus descobridores:
Nos seres humanos, como nos macacos, a visão dos atos realizados pelos outros
produz uma ativação imediata das áreas motoras incumbidas da organização e
execução desses atos e, através dessa ativação, é possível decifrar o significado dos
‘eventos motores’ observados, isto é, entendê-los em termos de movimentos
centrados em objetivos. Tal entendimento é completamente isento de qualquer
mediação reflexiva, conceitual e/ou lingüística, uma vez que é baseado
exclusivamente no vocabulário de atos e no conhecimento motor do qual depende
nossa capacidade de agir. Ademais, também como ocorre com o macaco, tal
entendimento não é limitado a atos motores singulares, mas é extensível a toda uma
cadeia de atos (Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.125. Minha tradução).
Tais neurônios estariam envolvidos em uma capacidade motora de
compreensão que seria imediata, ou seja, sem a necessidade de uma análise
conceitual da ação que está sendo observada ou realizada. Simplesmente
observando uma ação, sem nenhum ato conceitual mais elaborado, um macaco
poderia, por exemplo, reconhecer que outro macaco estava pegando algo para
comer. Para Rizzolatti e Sinigaglia esta seria a função primordial dos neurôniosespelho tanto em macacos quanto em humanos. No entanto, mais interessante que
a semelhança entre o nosso cérebro e o cérebro dos macacos, são as diferenças
que encontramos entre eles justamente no que diz respeito a estas áreas. Tais
diferenças trazem toda a pesquisa sobre estes neurônios para ainda mais perto da
memética.
66
É claro que não é tão simples assim. Alguns neurônios são de fato bem específicos quanto aos
seus estímulos. Mas outros chamados de “broadly congruent” são estimulados por atos claramente
conectados, mas não idênticos, por exemplo, responder ao ato motor de agarrar e ao ato visual de
agarrar e segurar (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.82)
298
Existem algumas diferenças fundamentais entre os neurônios-espelho dos
macacos e dos humanos, muitas são de extrema relevância para os assuntos
tratados aqui, pois mostram justamente o substrato neural que nos dá um maior
poder de aprendizagem, imitação e linguagem. Tal poder superior fica evidente
com o fato de que tais neurônios ocupam um maior espaço cortical nos humanos
do que nos macacos (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.124). Uma das
diferenças fundamentais é que, ao contrário dos macacos, nos humanos os
neurônios-espelho também respondem a atos intransitivos, ou seja, movimentos
que não são diretamente relacionados a nenhum objeto em particular, como por
exemplo, simplesmente mover o braço. Embora esta não pareça ser uma diferença
importante, sua conexão com a possibilidade de linguagem é bastante clara:
expressões corporais que buscam passar um significado, por exemplo, abrir os
braços para indicar que algo é grande, não são diretamente relacionados a nenhum
objeto em particular. Isso permite ao ser humano uma gama muito maior de atos
motores que podem ser compreendidos e imitados através dos neurônios-espelho.
Uma outra diferença importante é a capacidade de reproduzir fielmente a
duração no tempo de vários movimentos observados (cf. Rizzolatti & Sinigaglia,
2008, p.117). Este fato permite ao cérebro não só imitar os movimentos, mas
imitá-los de maneira mais fiel, respeitando a duração de cada movimento, assim
como a sua conexão temporal. Por causa disso podemos imitar um ato respeitando
o seu aspecto temporal, ou seja, podemos distinguir se estamos fazendo uma aula
de Tai-chi-chuan ou de aeróbica. É importante também para a nossa capacidade
lingüística, pois esta, ao se tornar mais complexa, exige cada vez mais um
determinado ritmo de expressão para ser compreendida e, além disso, o próprio
ritmo tem significado. Uma mesma expressão pode ter significados bem
diferentes de acordo com o ritmo e a entonação em que é expressa. Tal ligação
entre os neurônios-espelhos e a espantosa habilidade humana para a linguagem se
tornou ainda mais evidente quando tais neurônios foram descobertos na área de
Broca, uma área notoriamente ligada à linguagem.
Grande parte dos neurônios-espelho dizem respeito a atos relacionados com
a alimentação, como pegar comida, mastigar ou chupar. Tais movimentos são
muito semelhantes aos movimentos utilizados para a comunicação verbal.
Experimentos recentes mostram que determinados neurônios-espelho em
humanos são ativados quando se observa um outro homem, ou um macaco, ou
299
mesmo um cachorro, mordendo um pedaço de comida dado em sua boca. No
entanto o mesmo não se deu quando foram observados atos comunicativos, mas
sem som algum, só a imagem da boca se movendo de um homem, de um macaco
e de um cachorro. Neste caso houve forte ativação quando o que era visto era um
humano, uma fraca ativação quando era um macaco e praticamente nenhuma
ativação quando era um cachorro (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2006, p.136). Os
movimentos necessários para morder e para falar são muito semelhantes, mesmo
assim os resultados foram díspares. Os neurônios-espelho foram capazes de
compreender a mordida do cachorro, mas incapazes de compreender os
movimentos ligados ao latido67. Já na observação de movimentos humanos, houve
uma resposta eficaz a ambos os movimentos. Tais resultados indicam claramente
que certos neurônios não disparam somente para movimentos labiais, mas são
direcionados seletivamente para atos comunicativos. Teríamos, então, neurôniosespelho exclusivos para a comunicação.
Esta característica reforça uma hipótese para o surgimento da linguagem
entre os humanos que defende que esta surgiu de gestos realizados principalmente
com os braços e também de expressões faciais. Partindo desse princípio, é bem
possível que os neurônios-espelho tenham um papel fundamental em tal origem
ajudando a resolver uma série de questões sobre ela. É importante notar que o
próprio modo como tais neurônios funcionam já nos dá uma excelente indicação
da sua importância para a comunicação, pois para um ato comunicativo ter
sucesso deve haver uma espécie de paridade. Isto quer dizer que só podemos dizer
que algo foi devidamente comunicado se a mensagem que foi recebida é de
alguma maneira semelhante, de preferência idêntica, à mensagem que foi enviada.
Sem isto podemos dizer que tal comunicação falhou. Para que isso seja possível
parece ser necessário que uma mesma ação seja compreendida de uma forma
razoavelmente idêntica em cérebros diferentes. Fica claro, então, que a própria
forma como os neurônios-espelho funcionam facilita exatamente este tipo de
processo.
67
Deve-se ressaltar aqui uma questão da filosofia da mente: a rigor neurônios não compreendem
nada, quem compreende é a mente ou o sujeito. No entanto, estamos partindo do pressuposto
materialista de que a mente é o cérebro, ou pelo menos é o que o cérebro faz. Além disso, o termo
“compreender” foi usado por Rizolatti e Sinigaglia para explicar a capacidade de um neurônioespelho disparar sempre que observar o ato motor ao qual ele corresponde.
300
Se isto for verdade, poderemos encontrar ao menos parte da origem da
linguagem em nossa habilidade de gesticular. Mesmo depois de milênios, a nossa
capacidade de gesticular e de modificar o tom da voz ainda é extremamente
importante para uma comunicação efetiva68. Há ainda uma ligação forte entre a
comunicação oral e os gestos. Algumas pesquisas e uma série de dados clínicos
indicam justamente isto. Tais pesquisas indicam uma ligação direta entre os gestos
dos braços e o movimento da boca. Participantes que, por exemplo, eram
instruídos a abrir a boca quando iam pegar um objeto tendiam a abrir mais a boca
quando um objeto era maior do que quando era menor (cf. Rizzolatti & Sinigaglia,
2008, p.165). Um outro exemplo é o efeito facilitador que o uso de gestos tem na
recuperação da linguagem de pacientes debilitados (cf. Rizzolatti & Sinigaglia,
2008, p.167). Embora as pesquisas sejam apenas iniciais, os resultados parecem
promissores.
Vemos mais uma vez que a relação entre neurônios-espelho, imitação,
cultura e linguagem vai se estreitando cada vez mais e uma abordagem mais
consistente da memética começa aos poucos a se delinear no horizonte. Tais
neurônios com todas as suas funções são justamente as estruturas cerebrais que a
memética precisa para começar a construir uma base sólida e ir além do seu poder
explicativo passando a almejar até mesmo um futuro poder preditivo. Com o
aprofundamento do estudo do cérebro talvez sejamos capazes de algum dia saber
aproximadamente quais comportamentos têm uma maior probabilidade de serem
imitados.
Uma última observação que aproxima os neurônios-espelho da memética
pode ser tirada da neuroantropologia, ou seja, o estudo das estruturas cerebrais de
fósseis humanos. É claro que tais estudos não são muito precisos, pois eles devem
ser realizados não com cérebros, mas com caixas cranianas fossilizadas. Mesmo
assim, há indicações de que o desenvolvimento do sistema de espelho foi
justamente umas das mudanças cerebrais relevantes para a evolução dos humanos.
Assim, o papel de co-evolução entre memes e genes, que já foi mencionado, no
surgimento do Homo sapiens, na seção 5.4, teria uma fundamentação
neurocientífica. Nas palavras de Rizzolatti e Sinigaglia:
68
Qualquer pessoa que tenha o costume de conversar pela internet, seja através de chats, e-mails,
orkut, etc. sabe como a falta de gesticulação e do tom da voz costumam originar mal-entendidos.
Veremos brevemente na seção 10.7 que este problema pode ter ocasionado uma série de mudanças
na grafia para dar tonalidade emotiva em textos escritos.
301
Análises realizadas em traços de circunvoluções cerebrais nas cavidades de um
grande número de crânios de Homo habilis de quase 2 milhões de anos de idade
mostram que as regiões frontais e têmporo-parietais desenvolveram-se fortemente
naquele estágio do processo evolutivo. Isso sugere que a transição dos
australopitecos para o Homo habilis coincidiu com a transição para um sistema
espelho mais diferenciado, o qual forneceu o substrato neural para a formação da
“cultura da imitação” que, de acordo com Merlin Donald, chegou ao ápice com o
aparecimento do Homo erectus, que caminhou na terra entre 1.5 milhões e 300 mil
anos atrás. Também é plausível supor que os neurônios-espelho evoluíram ainda
mais durante a transição do Homo erectus para o Homo sapiens, a qual ocorreu há
250 mil anos, e responde pela expansão tanto do repertório motor quanto da
habilidade recentemente adquirida de se comunicar intencionalmente através de
gestos manuais que gradualmente vão se tornando mais articulados e que,
freqüentemente, eram acompanhados por vocalizações (Rizzolati & Sinigaglia,
2008, p.162. Minha tradução).
As áreas correspondentes hoje à linguagem (Broca e Wernicke) se situam na
região temporal do hemisfério esquerdo, causando certa assimetria do crânio que
já começa a ser encontrada nos Homo habilis. Por este motivo, cerca de 2 milhões
de anos atrás é também a data estimada para o início das “pressões seletivas para
uma vocalização aumentada” (Mithen, 2002, p.336) que implicaram no
surgimento do que hoje chamamos de linguagem. Vemos, então, e provavelmente
não por coincidência, o nosso principal instrumento para transmitir cultura e um
aumento no sistema espelho surgindo praticamente juntos.
Temos, deste modo, uma possível evidência fóssil capaz de fundamentar o
papel crucial que a habilidade de imitar teve na evolução do ser humano.
Curiosamente tal citação chega inclusive a mencionar a idéia de uma “mimic
culture” na origem do ser humano que poderia ser facilmente entendida em termo
meméticos.
Cada vez mais as relações entre os neurônios-espelho e a memética vão se
estreitando a começamos a desenvolver, para manter o espírito do início deste
capítulo, no mínimo uma boa tentativa que deveríamos perseguir.
8
IMITAÇÃO
O conceito de imitação é ao mesmo tempo óbvio e difícil de definir. Uma
definição precisa do que é imitação tem sido buscada, mas sem consenso.
Normalmente, assim como mostramos no caso do conceito de gene e de espécie, o
conceito de imitação proposto depende da área científica em que ele é utilizado.
Tal multiplicidade de conceitos torna difícil distinguir quais seres seriam capazes
de imitação e em que grau. No entanto, algo é certo: não se conhece na natureza
nenhum ser mais capaz de imitação do que o ser humano. Tal capacidade de
imitar, como mostramos (seção 3.3, capítulo 5 e seção 5.4) e voltaremos a mostrar
em seguida, parece estar no próprio fundamento do que nos faz humano, tendo
sido um diferencial de extrema importância na evolução da nossa espécie. Seres
humanos são extremamente hábeis em imitar e o são desde cedo. É sabido que se
alguém mostra a língua para um bebê imediatamente após ele nascer, ele mostrará
a língua de volta (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.152). Por este motivo,
embora seja um conceito difícil de definir, a imitação nos seja tão próxima e
intuitiva. Um ser humano completamente incapaz de imitação é quase
inconcebível, ele deveria ter um grau de autismo tão alto que sua sobrevivência
dependeria completamente da ajuda de outros68.
Duas definições para imitação poderiam ser propostas:
A primeira, que é usada principalmente pelos psicólogos experimentais, caracteriza
a imitação como a capacidade de um indivíduo de replicar um ato que já pertence
ao seu repertório motor, depois de vê-lo sendo executado por outrem; a segunda,
aceita principalmente pelos etologistas, considera a imitação como o processo pelo
qual um indivíduo aprende um novo padrão de ação através da observação, depois
do que ele é capaz de reproduzi-lo até os mínimos detalhes (Rizzolatti & Sinigaglia,
2008, p.139. Minha tradução).
Estes dois conceitos interessam à memética e poderíamos discutir se eles são
excludentes ou complementares. No entanto, o segundo é claramente mais
68
“Junto com os robôs e os chimpanzés, os autistas nos lembram que o aprendizado cultural só é
possível porque pessoas neurologicamente normais possuem um equipamento inato para realizálo” (Pinker, 2004, p.94). Há algumas evidências de que tal “equipamento inato” seja justamente o
sistema espelho (capítulo 7).
303
interessante na medida em que foca na capacidade de transmissão de padrões de
comportamentos que não eram previamente conhecidos. Este conceito será focado
aqui, embora haja evidências de que os neurônios-espelho também são
responsáveis pelo primeiro tipo de imitação (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008,
p.144). Veremos na seção 10.1 que aquela primeira definição de imitação
praticamente responde as críticas de Dan Sperber.
Um experimento feito com humanos que observavam um vídeo onde um
acorde musical que eles não conheciam era apresentado em um violão, mostrou a
importância dos neurônios-espelho para a transformação de informação visual em
respostas motoras (cf. Rizzolatti & Sinigaglia, 2008, p.145). Baseado nos dados
publicados até o momento, fica cada vez mais evidente que os neurônios-espelho
participam nas duas formas de imitação citadas e que as diferenças entre o nosso
sistema espelho e o dos macacos é justamente o que nos permite uma capacidade
muito maior de aprendizado por imitação.
A importância da imitação em seres humanos foi demonstrada não só
através do estudo dos neurônios-espelho como através de estudos clínicos.
Sabemos que, além de tais neurônios, devemos ter também alguma outra estrutura
ligada a eles que seja facilitadora ou inibidora garantindo que as ações sejam de
fato imitadas ou não. Sem esta estrutura, a mera observação de um movimento
qualquer iria implicar em sua imediata imitação. E é precisamente isso que
acontece em pacientes que sofrem de echopraxia. Um provável problema na área
inibidora dos neurônios-espelho causa, nestes pacientes, uma compulsão de imitar
os atos de outros de maneira imediata e quase reflexiva (cf. Rizzolatti &
Sinigaglia, 2008, p.151). O próprio Darwin relata este fenômeno:
Que existe no homem forte tendência para a imitação, independentemente da
vontade consciente, é inquestionável. Isso se evidencia de forma extremamente
marcante em certas doenças cerebrais, principalmente na fase inicial das
degenerações inflamatórias do cérebro, e foi chamado de ‘sinal de eco’. Esses
pacientes imitam, sem entender, qualquer gesto absurdo que se faça, e qualquer
palavra pronunciada perto deles, mesmo em língua estrangeira (Darwin, 2000,
p.331. Ver também: Darwin, 2002, p.92).
No que diz respeito à memética, se devemos buscar nos neurônios-espelho a
base neural dos memes ou da nossa capacidade de transmitir memes, devemos
buscar nestas estruturas inibidoras e facilitadoras justamente a parte seletiva da
evolução memética. São elas que vão dizer que atos serão imitados ou não, ou
304
seja, que memes serão transmitidos e recebidos ou não. Infelizmente o estudo de
tais áreas, no que diz respeito à sua relação com os neurônios-espelho, ainda não
foi muito desenvolvido. No entanto, no caso dos pacientes incapazes de segurar
sua compulsão por imitação, sabemos que isso normalmente é originado por causa
de lesões no lóbulo frontal. Justamente esta área do cérebro é a mais conhecida
pelos leigos por ser retratada de maneira simplificada na mídia como o “lar da
nossa personalidade”. O lóbulo frontal está notoriamente ligado à nossa
habilidade de prever conseqüências, escolher ações, organização, planejamento e,
talvez mais importante para a memética, adaptar nossas ações em relação às
expectativas sociais relacionadas a elas, de modo a suprimir ações que não seriam
socialmente aceitáveis69. Por estes motivos, mesmo que não existisse nenhuma
evidência de que tal parte do cérebro está associada à inibição da imitação, ainda
sim este seria o local mais apropriado para se buscar o que poderia ser chamado
de “o ambiente seletivo dos memes”. Deste modo, vemos mais uma vez as
pesquisas das neurociências se aproximarem da memética por inúmeras vias
distintas.
8.1
Quem Imita, Quando Imita, o que Imita?
Várias são as questões que o conceito de imitação levantou na memética.
Elas normalmente giram em torno de três grandes temas: o que é a imitação? Os
memes só podem ser passados por imitação ou também podem ser passados por
outras formas de aprendizado social? Quais animais são capazes de “verdadeira
imitação”? Todas estas questões fazem parte das discussões da memética,
principalmente depois que Susan Blackmore, como vimos na seção 3.3, defendeu
que só a “verdadeira imitação” é capaz de passar memes e que praticamente só os
humanos são capazes dela.
Cabe uma ressalva extremamente importante no que diz respeito às questões
conceituais envolvidas na definição e utilização do conceito de “imitação”, a
saber, por mais interessantes e importantes que elas sejam, sua discussão não é
verdadeiramente relevante para o assunto tratado aqui. Pelo menos não neste nível
69
Por isso ele chegou a ser associado ao conceito de super-ego de Freud.
305
mais inicial da discussão, pois independente do que é imitação e quais animais são
capazes dela, ainda assim é amplamente aceito que os seres humanos são capazes
de uma quantidade e variedade praticamente ilimitada de imitações e que através
da imitação um padrão de comportamento pode ser passado entre indivíduos.
Estas duas características já são suficientes para o presente trabalho.
Além disso, discutir quais animais são capazes de imitação, e em que grau, é
uma discussão importante, mas somente tangencia o assunto relevante neste
momento. Seja lá qual for a resposta dada a esta pergunta, podemos dizer que tais
animais são capazes de transmissão memética exatamente no mesmo grau em que
são capazes de imitação.
O mesmo vale para a discussão de se a aprendizagem só pode se dar por
imitação. Seja lá qual for a resposta para esta questão, o relevante para o que
estamos tratando aqui é que a informação seja transmitida de modo que haja
“hereditariedade cultural”. Onde houver esta transmissão haverá a possibilidade
de discutirmos se ela se dá de forma memética ou não. Ou seja, mais importante
do que saber exatamente o que é imitação, e como ela se dá, é saber se um padrão
comportamental pode ser passado de um indivíduo para outro. Em outras
palavras, é saber se existe de fato o que comumente chamamos de aprendizagem.
Se esta aprendizagem só se dá por imitação ou não é uma questão menos
importante no momento.
Esta questão é menos importante porque assumimos que uma ação tem que
ter uma origem, ou foi aprendida, seja por imitação ou algum outro processo de
aprendizagem, ou é inata, ou foi inventada por aquele indivíduo. O fato é que tais
processos normalmente trabalham juntos. Para imitar temos que ter estruturas
cerebrais inatas que nos permitam imitar e, é importante ressaltar, que nos
permitam também inibir a imitação. Os neurônios-espelhos são justamente tais
estruturas. O mesmo vale para a nossa capacidade de aprender, seja de que modo
for. Alguém que negue a nossa capacidade de aprender com os outros terá que
defender que todas as nossas ações e/ou conteúdos mentais ou são inatos, ou seja,
nunca foram aprendidos, ou foram criados individualmente por cada pessoa. Tal
tese seria extremamente contra-intuitiva, o que não significa que ela esteja errada,
mas seria responsabilidade de tal autor prová-la. Se todos os comportamentos
forem inatos, caberá à psicologia evolutiva e à sociobiologia estudá-los.
306
No entanto, se todos os comportamentos forem inventados individualmente,
a própria noção de cultura se perde. Na verdade, até a própria necessidade de se
estudar o que quer que seja se perde, pois não há estudo se não há informação
sendo passada. Será assumido no que se segue, então, que pelo menos uma parte
bastante significativa do que chamamos de cultura é transmitida socialmente. No
último capítulo trataremos mais propriamente da crítica de Dan Sperber sobre a
não existência de uma verdadeira transmissão cultural por imitação (seção 10.1).
A discussão que se segue deve, como acabamos de ver, ser considerada
como um problema que só tangencia o que estará sendo tratado neste trabalho
como um todo. Seu intuito é apenas reunir os problemas em torno do conceito de
imitação para permitir a inserção neste problema de alguém que não esteja
ambientado nesta discussão. Além disso, se torna relevante só na medida em que
queremos discordar das afirmações de Blackmore. Antes disso é importante
conhecer alguns casos de comportamento animal e transmissão de cultura que são
comumente discutidos ao se tratar deste problema.
É preciso, em primeiro lugar, lembrar que, como tudo mais na biologia, a
capacidade de transmitir cultura através da imitação ou outro meio, deve ter
evoluído através de pequenos passos. Mesmo que no surgimento do ser humano
tenha havido um rápido aumento nesta capacidade, ainda assim foi um salto
quantitativo, não qualitativo. Ao se tratar destas questões, sempre estaremos
começando em algo que não parece ser cultural e, aos poucos, chegando no tipo
padrão de transmissão cultural, passando por casos intermediários onde a sua
classificação será sempre, por definição, arbitrária. Podemos já antecipar que
esquecer de tal fato foi o erro de Blackmore.
Em um trabalho sobre a cultura em animais John T. Bonner (1980) mostra
claramente como se deu esta delicada gradação, desde seres vivos com
comportamentos geneticamente rígidos, passando a outros capazes de uma
escolha simples entre duas opções de comportamento, depois outros já capazes de
aprender através de tentativas e erros individuais, chegando em animais que
ativamente observam seus pares para saber como agir e, finalmente, alguns
poucos animais, entre eles os seres humanos, capazes de entrar em um processo
de ensino e aprendizagem consciente e de “verdadeira imitação”. No entanto, não
será seguido este caminho aqui. A preocupação principal de Bonner é discutir
como a cultura surgiu e mostrar que ela surgiu e foi selecionada por ser
307
adaptativa. Já a preocupação aqui é, aceitando o surgimento e a adaptabilidade da
cultura, discutir em quais animais e com que tipo de transmissão poderiam ser
passados memes. Para isso, basta ter em mente que, entre um comportamento
geneticamente rígido e um comportamento cultural livre de determinações
genéticas, existem inúmeros casos intermediários onde seria errado, enganoso,
arbitrário e desnecessário tentar classificá-los rigidamente dentro de uma destas
duas categorias mais evidentes.
Em primeiro lugar é interessante ver ao que todos eles são opostos: ao
comportamento puramente instintivo. Neste tipo de ação os padrões de
comportamento surgem sem absolutamente nenhuma instrução e nem mesmo um
processo de tentativa e erro. Algumas vespas, por exemplo, já nascem sabendo
voar, caçar, comer, achar um parceiro, se reproduzir, construir ninhos, etc (cf.
Bonner, 1980, p.37). Este é o típico comportamento geneticamente determinado,
no sentido de que não precisa de nenhum tipo de aprendizagem. Em oposição a
ele, podemos encontrar os mais diversos modos de passagem de informações não
genéticas, divididos nos mais diversos graus.
Normalmente associamos a capacidade de transmitir cultura à habilidade da
fala ou da imitação, mas a natureza achou outros modos de se passar informações
não geneticamente determinadas. Alguns deles não envolvem nenhum tipo de
comportamento que consideraríamos como comunicativo. Sabemos que a cultura
pode ser passada antes mesmo do nascimento de certos animais. Experimentos
mostraram que coelhos já nascem com certa preferência alimentar baseada na
dieta da sua mãe enquanto ela estava grávida. Informações nutricionais podem ser
passadas também através do leite. Se for levado em consideração que um
indivíduo que experimentou algum alimento, através do liquido amniótico ou do
leite da mãe, vai provavelmente manter esta característica e passar para seus
filhos, então temos a passagem de informação que não é nem genética, nem
epigenética. Neste caso poderia, inclusive, influenciar na evolução e seleção dos
genes, dado que há variação nas dietas e que umas dietas podem ser melhores do
que as outras. Podem também existir outras maneiras de se passar informação
sobre hábitos alimentares, como o odor, a saliva e as fezes. Todas desempenham
igualmente o mesmo papel e são capazes de criar tradições alimentares familiares.
Vemos neste caso uma forma de aprendizado que em nada se assemelha com o
que costumamos chamar por tal nome.
308
Há também alguns casos interessantes de seres unicelulares, como o
Protozoário conhecido como Stentor (Stentor polymorphus), que parecem ser
capazes de aprender por tentativa e erro (cf. Bonner, 1980, p.112). Neste caso,
foram borrifadas diferentes substâncias contra ele. Quando tal substância era
nociva ele logo aprendia a fugir, quando não, ele permanecia. Já um caso bastante
conhecido é o da comunicação de abelhas. A dança das abelhas indica a distância
e o ângulo em relação ao Sol onde está o néctar: o formato da dança indica se está
perto ou longe, a freqüência indica melhor a distância, e o ângulo da dança indica
o ângulo em relação à posição do Sol. Isto está longe do que costumamos chamar
de comunicação, pois é limitado, específico, preciso, rígido, mas mesmo assim é
um processo que realmente passa informação não-genética sobre o mundo. Neste
sentido ele já foi até considerado como “um exemplo legítimo de prática de
ensino” (Bonner, 1980, p.123. Minha tradução).
Com exceção dos chimpanzés, que veremos em seguida, um dos casos mais
discutidos na memética é o caso dos pássaros. Talvez isso se dê porque até
críticos da habilidade de imitar do chimpanzé, como Blackmore, admitem que
certos pássaros são capazes de verdadeira imitação. Alguns pássaros, como o
cuco, nascem já com uma habilidade inata de fazer o canto da sua espécie. Eles
precisam disso, pois são chocados por “pais adotivos” que são incapazes de
perceber que estão criando o filhote de outro animal. Deste modo, o cuco não
pode aprender o seu canto com seu pai, pois ele não é da mesma espécie. Como o
canto do cuco é usado para o acasalamento, é preciso que ele já nasça sendo capaz
de cantá-lo.
Já outros pássaros aprendem o modo de cantar com seus pais, como os
pássaros canoros e o neozelandês saddleback (Philesturnus carunculatus). Estes
são famosos por sua capacidade de verdadeira imitação. Seus cantos normalmente
imitam o de seus pais, mas eventualmente pequenos erros podem acontecer em
uma imitação, que dá origem a uma variação do canto original. Um pesquisador
familiarizado com tais cantos é capaz de saber de que população um determinado
pássaro veio só pela análise de seu canto. Um estudioso de tais pássaros foi
Jenkins. Estudando a variação nos cantos, ele disse que elas “surgem de diversas
maneiras: através da alteração do tom de uma nota, a repetição de uma nota, a
alteração do tempo das notas e a combinação de partes de outras canções já
existentes” (1978, p.76, in: Bonner, 1980, p.178. Minha tradução). Um processo
309
de mutação aleatória semelhante ao que esperamos na evolução memética. Tais
pássaros são universalmente considerados como prova da transmissão cultural em
animais não humanos.
Além disso, diferentes músicas parecem funcionar como um mecanismo de
isolamento entre duas espécies de tentilhões de Galápagos que, se não fosse pelas
diferentes formas de canto, poderiam muito bem se reproduzir entre si (cf.
Dugatkin, 2000, p.152). Assim temos duas espécies que foram separadas por um
traço cultural. Mais uma vez, um pesquisador, neste caso, também é capaz de
descobrir de que espécie veio um determinado animal apenas pelo seu canto.
Curiosamente, papagaios não são muito citados em casos de estudos sobre
imitação. O famoso papagaio cinza chamado Alex, que morreu recentemente, é
considerado como uma prova de que eles não só são capazes de imitar alguns sons
como também alguns comportamentos. Outro caso conhecido diz respeito a rota
de migração de muitos pássaros. Embora o desejo de migrar seja inato, a exata
rota de migração, bem como o exato local para onde se está migrando, é
aprendido (cf. Bonner, 1980, p.173).
Talvez o caso mais famoso justamente por não ser um caso de verdadeira
imitação diz respeito a pequenos pássaros ingleses (Parus major) que aprenderam
a abrir garrafas de leite colocadas pelo leiteiro nas portas das casas inglesas. Este
comportamento se espalhou muito rápido e logo ficou conhecido como um caso
de evolução cultural entre pássaros através da imitação. Mas depois foi descoberto
que não estava havendo aí um processo de imitação verdadeiro, pois neste caso,
um pássaro não aprende imitando o comportamento do outro. Ele apenas percebe
que o outro foi capaz de obter leite e, por isso, é atraído para o mesmo tipo de
garrafa. Lá ele aprende sozinho, por tentativa e erro, a abrir a garrafa. Deste modo,
não foi um comportamento fielmente passado adiante.
Um comportamento muito comum também em pássaros é a capacidade de
aprender que tipo de predadores cada espécie de pássaro deve temer. Eles fazem
isso normalmente observando o comportamento dos mais velhos. É um simples
caso de “se o mais velho se protegeu daquele indivíduo, então devo me proteger
também”. Foram feitos experimentos onde pássaros novos eram ensinados a temer
animais que normalmente não temeriam, só por ver o mais velho da sua espécie
ter uma reação de medo a ele. O mesmo experimento, com o mesmo resultado, foi
feito com macacos rhesus (cf. Dugatkin, 2000, p.194). Ao que tudo indica, este
310
também não é um caso de imitação do comportamento. Mas não há dúvidas de
que quando pensamos em cultura e imitação animal logo pensamos nos
chimpanzés. Talvez seja uma surpresa quando se descobre que existe um debate
se eles de fato são capazes de imitação na natureza.
As pesquisas mais detalhadas feitas com chimpanzés foram realizadas em
cativeiros. De tais pesquisas surgiram alguns chimpanzés famosos. Em 1960,
Beatrice Gardner e seu marido treinaram um chimpanzé chamado Washoe para
utilizar linguagem de sinais. Em 3 anos ele tinha aprendido 85 sinais (cf. Mithen,
2002, p.135). Sabe-se que “Bonobos inserido em um ambiente onde se usa a
linguagem de sinais aprendem espontaneamente a usar os sinais” (Sterelny &
Griffiths, 1999, p.315. Minha tradução). Outra chimpanzé, chamada Sarah, se
mostrou capaz de compreender conceitos abstratos como “igual”, “diferente”, “a
cor de”, “o nome de”. Outros experimentos mostraram que chimpanzés eram
capazes de categorizar objetos em categorias semânticas como “fruta” ou
“ferramenta” (cf. Mithen, 2002, p.133). “Chimpanzés parecem estar além de
simples associações e saber o significado dos termos com os quais eles trabalham”
(Ruse, 1995, p.179).
Já Kanzi, outro chimpanzé, foi “educado” em um ambiente mais natural e
com 6 anos se mostrava capaz de reconhecer 150 símbolos associados com
palavras. Talvez mais impressionante era sua habilidade de compreender frases
com palavras que ele não tinha aprendido e chegou a “inventar” sua própria
gramática: tinha somente duas posições gramaticais, mas certas palavras tinham
uma tendência maior de ficar na primeira posição e outras na segunda (cf. Mithen,
2002, p.134). Em um experimento, Kanzi foi testado e se saiu um pouco melhor
que uma criança de dois anos e meio. Foram testadas 600 sentenças, a maioria
com novas combinações de palavras para as quais ele não tinha sido treinado
antes, e ele se mostrou capaz de compreendê-las. Jablonka nos dá alguns
exemplos de sentenças que ele era capaz de compreender:
Pegue uma coca-cola para Rose
Faça cócegas em Rose com o coelho
Pegue o cachorro no refrigerador
Você pode fazer o coelho comer a batata doce?
Leve a cenoura para fora
Vá lá fora e ache as cenouras
Coloque coca-cola na limonada
311
Coloque limonada na coca-cola
(Jablonka & Lamb, 2005, p.350. Minha tradução).
Para responder a pergunta de se esta capacidade de aprendizagem observada
em cativeiro também está presente em situações naturais foram feitas várias
observações de chimpanzés em seu ambiente. Nestas observações vários
comportamentos foram descobertos, como o de preparar um instrumento feito de
folha que é enfiado em cupinzeiros e formigueiros para retirar tais insetos e comêlos; abrir nozes colocando-as sobre uma pedra-bigorna e batendo nela com uma
pedra-martelo; extrair medula de ossos utilizando gravetos; utilizar pedras e
gravetos para se proteger; caçar em conjunto com uma estratégia onde alguns
ficam no solo e outros nas árvores etc. Foram catalogadas cerca de 39 tradições
culturais diferentes, uma delas, a de abrir nozes, já existe comprovadamente há
pelo menos 400 anos na África Ocidental (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.183).
Mithen nos fornece alguns exemplos de tais tradições:
Somente os da floresta de Tai, na África Ocidental, extraem a medula de ossos com
gravetos; os de Mahale, na Tanzânia, não usam gravetos para caçar formigas,
apesar de se alimentarem deste inseto. Da mesma forma, os da floresta de Tai não
‘pescam’ formigas, embora as comam. Ao contrário dos Chimpanzés de Gombe, os
de Mahale e Tai não usam utensílios para a sua higiene pessoal (Mithen, 2002,
p.121).
No entanto, a verdadeira discussão gira em torno de como se dá o
aprendizado de tais tradições. A resposta comum de que era por imitação foi
questionada. Muitas indicações mostram que, ao invés de imitação, temos algo
semelhante ao que aconteceu com os pássaros que abriam garrafas para beber
leite, ou seja, o comportamento dos mais velhos incentiva os mais jovens a tentar
e descobrir por conta própria. No entanto, há casos observados de um processo de
ensino e aprendizagem. Mais uma vez é Mithen quem nos diz:
Os Boesch mencionam duas ocasiões em que mães observavam seus filhos tendo
problemas em abrir castanhas e passaram a indicar como resolver a questão. Em um
caso, demonstrou como posicionar corretamente a castanha na bigorna antes de
golpeá-la, enquanto no outro, mostrou a um filhote a maneira de segurar uma
pedra-martelo, e ele pareceu imediatamente repetir a ação com certo sucesso
(Mithen, 2002,p.139).
O mais surpreendente é o quão raro são estes casos. O ensino ativo
corresponde a só 0,2% das quase mil intervenções maternas observadas. Muitas
312
são as indicações de que os chimpanzés têm uma baixíssima capacidade de imitar
se comparados com os seres humanos.
Talvez o exemplo mais famoso de transmissão cultural se deu com um
macaco, mas não um chimpanzé. Uma macaca japonesa (Macaca fuscata)
chamada Imo, da ilha de Koshima, foi observada desde 1950. Com um ano e meio
Imo lavava as batatas para tirar a areia e a terra. Tal comportamento se espalhou
entre os outros indivíduos do seu grupo e eles começaram a lavar batatas,
principalmente no mar. Alguns anos depois, eles estavam sendo alimentados com
trigo e, para separar o trigo da areia, Imo inventou uma técnica: ela jogou o trigo
no mar que, boiando, se separou da areia e ela pôde, assim, catar e comer com
mais facilidade sem ingerir areia. Tal hábito também se espalhou, principalmente
entre os jovens. Talvez o mais interessante é que este hábito levou à outros
hábitos pois, com o tempo, tais macacos aprenderam a brincar e tomar banho no
mar, pulando, mergulhando e até nadando. Além disso, passaram a comer peixes
deixados por pescadores. Agora há relatos até de coleta de peixes e polvos por
eles70 (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.179). Mas, segundo Jablonka, estes podem
muito bem não serem casos de imitação:
Os jovens imitam adultos experientes? A resposta é que, na maioria dos casos em
que foi estudado, a imitação não ocorre. Ainda assim, eles aprendem com os outros
(Jablonka & Lamb, 2005, p.170. Minha tradução).
A defesa de que a imitação é uma capacidade quase que só humana é
comum. Os outros animais seriam capazes somente de outras formas de
aprendizado social menos específicos do que a imitação e menos capazes de
transmitir cultura. Na memética foi Susan Blackomre que trouxe esta discussão:
Depois de quase um século de pesquisas, há muito pouca evidência de imitação
verdadeira em animais não humanos. Uma exceção evidente é o canto dos pássaros,
e pode ser que sejamos simplesmente ignorantes do mundo submarino da imitação
dos golfinhos. Chimpanzés e gorilas criados em meio a famílias humanas
ocasionalmente apresentam formas de imitação que não aparecem em suas
contrapartes selvagens. Entretanto, quando os mesmos problemas são postos diante
de macacos e crianças humanas, apenas as crianças imediatamente empregam a
imitação para resolvê-los. Parece que estamos errados em usar o verbo
“macaquear” no sentido de imitar. Os macacos raramente macaqueiam (Blackmore,
1999, p.50. Minha tradução).
70
Será que evoluirão para macacos aquáticos?
313
Na verdade, a gigantesca capacidade de imitar tem sido considerada por
alguns como a nossa grande diferença com os animais. Blackmore deixa isso claro
logo no começo do seu livro ao dizer que “a tese desse livro é que o que nos torna
diferentes é nossa habilidade de imitar” (Blackmore, 1999, p.3. Minha tradução).
Esta defesa já tem sido comum inclusive entre antropólogos, alguns acham que a
imitação é tão própria dos seres humanos que acreditam ser esta uma cisão entre
homens e bichos. Os homens, ao nascer, ainda seriam mais dominados pelo
instinto do que pela cultura, mas logo a cultura se tornaria dominante através da
imitação. “Muito cedo, tudo o que fizer não será mais determinado por instintos,
mas sim pela imitação dos padrões culturais da sociedade em que vive” (Laraia,
2006, p.50).
Como vimos, para se fazer tal separação radical é preciso fazer um corte
entre a imitação e as outras formas de aprendizado social. No entanto, a primeira
dificuldade em discutir imitação provém, justamente, da tentativa de categorizar
as diferentes formas de aprendizados. Em primeiro
lugar temos os
comportamentos instintivos, que são razoavelmente simples de se entender, mas
quando o comportamento começa a precisar da interação com o meio ou com os
outros indivíduos para surgir vai ficando cada vez mais difícil distinguir tipos
diferentes de aprendizagem social. Muitos foram sugeridos, dentre eles apenas
alguns mais comuns serão apresentados.
No processo chamado de cópia cega o comportamento também é inato, mas
só surge quando um indivíduo se depara com uma determinada situação. Caso ele
nunca se encontre em tal situação, não se comportará deste modo. Na chamada
auto-aprendizagem, o indivíduo aprende um comportamento por pura tentativa e
erro. Nenhuma informação é passada, pois não é uma aprendizagem social. Na
facilitação social os indivíduos são atraídos para algo por ver um indivíduo,
normalmente da mesma espécie, em determinado local e uma vez lá aprendem por
tentativa e erro. Na aprendizagem por oportunidade um indivíduo mais velho, que
age como instrutor, coloca o aprendiz em uma situação onde ele terá a
oportunidade de aprender por conta própria. Já no treinamento, o professor altera
diretamente o comportamento do aprendiz com punição ou encorajando. Há
também o ensino, onde há um instrutor claramente definido e um aprendiz, e o
instrutor ensina ao aprendiz algo que não terá benefício imediato.
314
Existem muitas versões destas divisões e também muitas outras
categorizações possíveis, mas elas só foram apresentadas aqui para fazer o
contraponto ao que Blackmore chamou de “verdadeira imitação”. Nesta há um
processo muito mais complicado onde o que é aprendido é o padrão de
comportamento. O instrutor realiza um determinado comportamento que o
aprendiz deve imitar. Nas palavras de Blackmore:
A imitação significa aprender algo a respeito da forma de comportamento através
da observação dos outros, enquanto que o aprendizado social envolve aprender a
respeito do ambiente através da observação dos outros (Blackmore, 1999, p.3.
Minha tradução).
Vemos então que de fato pode ser feita uma diferença entre imitação e as
outras formas de aprendizagem social. Só na verdadeira imitação seria passado
um padrão de comportamento, pois só ela visa este feito. As outras formas de
aprendizagem social visam ensinar algo sobre o mundo. Por este motivo,
Blackmore diz que só a imitação é capaz de passar memes, pois só com ela
teríamos de fato uma cópia do comportamento que conta como uma
hereditariedade cultural:
Nesse sentido, então, não há hereditariedade real. Isso significa que não há
replicador novo, nem evolução nova, e que, portanto, o processo não deveria ser
considerado um processo memético (Blackmore, 1999, p.50. Minha tradução).
Só a imitação de fato se daria por cópia, todas as outras formas de
aprendizagem teriam, em algum momento, o individuo descobrindo o
comportamento por tentativa e erro. Richerson e Boyd aparentemente concordam
com Blackmore quando dizem que “apenas a imitação faz surgir a evolução
cultural cumulativa de comportamentos e artefatos complexos” (Richerson &
Boyd, 2006, p.109. Minha tradução). Assim, a verdadeira imitação necessitaria
de:
A imitação necessariamente envolve: (a) decisões sobre o que imitar, o que pode
contar como ‘o mesmo’ ou ‘similar’, (b) transformações complexas de um ponto de
vista para o outro, e (c) a produção de ações corporais correspondentes (Blackmore,
1999, p.52. Minha tradução).
Embora não possa ser negado que em alguns casos ela se dê assim, de
maneira nenhuma parece ser necessariamente assim. Como vimos nos neurôniosespelho, imitar pode ser um ato muito mais direto do que Blackmore assume, sem
315
a necessidade de grandes processos mentais. Ser complexo, ou não, não é o que de
fato importa aqui, mas sim se os outros animais são capazes ou não de imitação e,
principalmente, se outras formas de aprendizagem podem passar memes.
Blackmore faz a separação entre imitação, aprendizagem social e contágio.
As duas primeiras já foram abordadas, já o contágio é quando um comportamento
inato se espalha por causa de outros comportamentos semelhantes, como bocejos,
risadas e até emoções. Mais uma vez, neste caso também não haveria passagem de
memes, pois nenhuma informação foi de fato passada. No entanto, vimos que
repetir um comportamento inato ao observar outro é a primeira definição de
imitação dada no início deste capítulo por Rizzolatti e Sinigaglia. Mas Balckmore
só considera a segunda definição.
Com este conceito mais restrito de imitação só alguns animais se
enquadrariam: em “pássaros, golfinhos e baleias, um indivíduos ingênuos aprende
não apenas o que fazer, mas também como fazer. Eles copiam a ação de outrem”
(Jablonka & Lamb, 2005, p.172. Minha tradução). Podemos incluir também
chimpanzés, elefantes e talvez ratos. Mas muitas espécies onde existe uma forma
diferente de aprendizado estariam excluídos, até mesmo animais onde há uma
forma rudimentar de ensino: leões, tigres, gatos domésticos e guepardos
modificam seu comportamento de caça quando seus filhotes estão na idade para
caçar. Já algumas espécies de babuínos espantam seus filhotes de objetos
perigosos e algumas aves de rapina parecem ensinar suas crias a caçar (cf.
Dugatkin, 2000, p.197). Mesmo assim, nenhum deles ensina por imitação fiel dos
atos motores.
Contra estes casos, Blackmore insiste que eles não são capazes de passar
memes, pois não há informação passada. Quando um pássaro ensina outro a voar
ele não explica que movimentos fazer, mas apenas o empurra do ninho e deixa
que seus instintos ajam. O mesmo se daria nos pássaros capazes de abrir as
garrafas de leite e poderia ter se dado em muitos casos. Imo pode não ter sido
imitada, pode ter apenas incentivado outros animais a levar suas batatas para perto
do mar e, uma vez lá, eles descobriram como lavá-las por conta própria. Do
mesmo modo, chimpanzés filhotes já foram observados simplesmente batendo
uma pedra na outra esperando que, de algum modo, sejam recompensados por
uma noz. Se realmente imitassem teriam percebido que um dos passos mais
importantes é ter uma noz na qual bater!
316
No entanto, este exemplo nos mostra o que precisamos entender aqui:
mesmo que a ação deste pequeno chimpanzé seja completamente inútil, ela só
pode ter surgido por algum tipo rudimentar de imitação. Pode não ser a nossa
magnífica capacidade de imitar, mas já é um início. Exatamente como esperamos
que se dê na evolução, pois a nossa capacidade de imitar tem que ter surgido de
uma capacidade muito menor de fazer o mesmo. Tentar fazer como Blackmore e
criar um limite rígido para a imitação é acreditar que tal habilidade pode ter
surgido em um salto. Separar “verdadeira imitação” de “aparente imitação” só
pode ser feito, como tudo mais na biologia, de maneira estatística.
Talvez mais importante seja questionarmos se Blackmore, Richerson e Boyd
estão certos em considerar a imitação como única forma de passar informação e
única capaz de criar evolução cultural cumulativa. Aqui devemos notar que vale
exatamente o mesmo que dissemos antes, ou seja, entre uma forma de
comportamento capaz de passar fielmente a informação, como a imitação, e uma
outra forma que não passa informação nenhuma, como a auto-aprendizagem,
existirão formas capazes de passar informação com baixa fidelidade. Se levarmos
o que nos diz Blackmore ao pé da letra, veremos que nem mesmo a própria teoria
dela depende tanto do conceito de imitação quanto ela julga. O fato é que, para
ela, memes são informações armazenadas em cérebros. Blackmore não é o que se
convencionou chamar de “behaviorista memético”: que considera o próprio
comportamento como sendo o meme (seção 10.8). Isso significa que para ela, ao
contrário do que ela mesma diz, é possível que o meme seja passado, mesmo que
o comportamento não seja o mesmo! A restrição que ela faz da imitação como
uma forma de cópia exata do comportamento não é tão relevante quando se trata o
meme como informação.
Em seu último livro Dawkins percebeu isso muito bem, embora não pareça
perceber que isso é uma crítica a esta restrição de Blackmore. Ele afirma que as
críticas que dizem que os memes não se replicam com fidelidade são um
problema “ilusório” (cf. Dawkins, 2007, p.255). Para explicar isso ele dá o
exemplo do aprendiz que quer aprender a martelar com o mestre carpinteiro. Se
imaginarmos que ele busca uma “verdadeira imitação”, no sentido que Blackmore
parece dar, ele teria que copiar todos os movimentos do mestre. Como ele
dificilmente será capaz de fazer isso, diríamos que o meme não passou com
fidelidade. Mas o que acontece é que o que é imitado não é o comportamento, o
317
aprendiz entende o objetivo do mestre e a técnica e o imita neste sentido. Ele
aprende algo do tipo “dar o número de marteladas necessárias para colocar o
prego todo dentro da madeira”, mas não imita o número exato de martelada do
mestre. Por isso Dawkins pode dizer:
Os detalhes podem flutuar de formas idiossincráticas, mas a essência é transmitida
imutada, e é só isso o necessário para que a analogia dos memes como os genes
funcionem (Dawkins, 2007, p.255).
Blackmore poderia responder a isso dizendo que seu conceito de imitação
precisa, antes de tudo, de uma “decisão para o que conta como ‘o mesmo’”. Seria
isso que o aprendiz estaria fazendo. Mas se este for o caso, podemos ver que o
conceito de imitação de Blackmore pode ser tão relativizado que perde grande
parte de seu sentido. Um chimpanzé filhote que pega um pedaço grosso de
madeira e saí por aí batendo, na esperança que alguma noz apareça, também
tomou uma clara decisão para o que conta como “o mesmo” e, neste sentido,
estaria imitando.
Vimos isso nos casos que já tratamos. É verdade que pássaros não imitam os
outros no que diz respeito ao lugar para onde eles devem ir na hora de migrar.
Não há uma exata passagem de informação comportamental sobre quais
movimentos fazer para se chegar lá. Mas isso não quer dizer que não exista aqui
uma informação que foi culturalmente passada. Informação inclusive que pode ser
passada adiante por centenas de gerações e pode influenciar na sobrevivência de
uma espécie. Um determinado lugar de escolha para passar o inverno pode ser
melhor ou pior do que outros lugares. Populações que escolheram os melhores
lugares muito provavelmente serão selecionadas. Além disso, erros podem
acontecer aqui também. Um simples vento pode fazê-los pousar em uma outra
localidade que, por ventura, pode ser melhor do que a anterior e esta nova
informação será passada adiante.
Já vimos também que tais transmissões culturais formam tradições capazes
até de distinguir entre populações. Um pesquisador mais cauteloso pode saber de
onde um chimpanzé veio observando a presença de um determinado
comportamento cultural, ou saber a filiação de um determinado pássaro só pelo
seu canto. Como vimos no caso de Imo, estas tradições podem se acumular e levar
318
a outras mudanças que nunca teriam surgido se não fosse alguma forma de
aprendizagem social. Vemos aí um claro caso de acumulação cultural.
Blackmore aceita que há uma forma de aprendizado na aprendizagem social,
ela só ressalta que o que se aprende não é como executar um determinado padrão
comportamental. Mas se há aprendizado e se ele pode ser repassado de uma
maneira, teoricamente, infindável, então não há porque restringir a passagem de
memes só a um determinado tipo de aprendizado. Por estes motivos podemos
dizer que outras formas de aprendizado social podem também passar memes,
mesmo que seja com menos fidelidade. Em concordância com isso Dugatkin diz
que “há, certamente, muitos outros tipos de aprendizado social, e isso é realmente
tudo que precisamos para que os memes estejam presentes nos animais”
(Dugatkin, 2000, p.131. Minha tradução). Plotkin concorda que limitar a
transmissão memética à “verdadeira imitação” é um erro, pois o importante é que
exista a presença de um processo de cópia (cf. Plotkin, 1997, p.77).
Talvez isso fique mais evidente ainda se tomarmos como medida o próprio
ser humano. Aprender a dançar, por exemplo, é um típico aprendizado por
imitação e, deste modo, pode ser considerado um meme fielmente passado. Mas o
estilo de aprendizado que temos na escola, dificilmente seria classificado como
um tipo complexo de imitação. Quando uma criança aprende quem descobriu o
Brasil, ela não aprende a realizar os mesmos atos motores que o professor, mas
aprende uma nova informação passada através do que se convencionou chamar de
processo de ensino-aprendizagem. O mesmo se deu quando Susan Blackmore leu
O Gene Egoísta e aprendeu o conceito de meme. Dawkins não lhe ensinou um
padrão de comportamento, ele ensinou um conceito e pode ser que tal conceito
instigue
um
mesmo
comportamento
em ambos.
Mas
mesmo
se os
comportamentos forem radicalmente diferentes, ainda assim houve uma clara
transmissão cultural de informação sem ser por imitação. Em um artigo posterior,
a própria Susan Blackmore admitiu que poderia ter que ampliar sua visão:
A questão seria que tipos de aprendizado social podem reproduzir comportamentos
com fidelidade suficiente para mantê-los intactos por diversas gerações de cópia,
permitindo a seleção entre variantes e a alteração cumulativa. Pesquisas neste
sentido podem revelar que, de fato, outros tipos de aprendizado social podem
sustentar tal processo evolutivo e, nesse caso, eles deveriam ser incluídos como
processos que replicam os memes (Blackmore, 2000, p.28. Minha tradução).
319
Como já foi dito, que os homens são extremamente capazes de imitar está
fora de questão, o que é a “verdadeira imitação” também não é muito
questionável. O problema se concentra mesmo em que formas de aprendizado
social podem passar informação e quais animais são capazes disso. A resposta que
for dada a este problema só vai ampliar ou diminuir o escopo da memética, por
isso tal questão foi chamada de meramente tangencial.
No entanto, é uma questão pragmaticamente relevante, pois quando se quer
fazer pesquisas é sempre bom iniciar por casos simples, mas não controversos. O
mais provável é que encontremos estes casos mais simples nos animais. Muitas
pesquisas já foram feitas, por exemplo, na propagação cultural do canto de certos
pássaros. Tais pesquisas devem ser consideradas um modelo para a memética.
Mas sempre existirão casos onde a transmissão cultural não é clara ou é bastante
falha, mas não significa que ela deixa de existir abruptamente.
Como é largamente aceito, quanto mais imprevisível é o ambiente, mais
precisamos da habilidade de aprender, pois menos podemos depender do
comportamento geneticamente determinado, sendo que “ambiente” aqui muitas
vezes indica os outros indivíduos da mesma espécie. Por isso o aparecimento de
sociedades de animais foi considerado como uma forte pressão evolutiva para o
surgimento de processos cada vez mais vigorosos de aprendizagem. Como
sabemos que há uma gradação que abrange inumeráveis formas de relações
sociais, é esperado que esta mesma gradação se reflita na capacidade de aprender.
Podemos, é claro, arbitrariamente diferenciar entre “verdadeira transmissão
cultural” e “pseudo-transmissão cultural”, mas só se mantivermos em mente que a
primeira só passou a existir por intermédio da segunda. Isso significa que existem
casos intermediários onde a transmissão cultural se dá parcialmente. Tais casos
não serão contados como “verdadeira imitação”, mas cairão dentro de outras
formas de aprendizado social.
Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um 'conhecer' perspectivo; e quanto
mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos,
soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será nosso 'conceito' dela,
nossa 'objetividade'.
Nietzsche, III §12, 1998.
9
Filosofia da Ciência, um Sobrevôo Sobre o Labirinto:
exceções, palaetiologia e comunidade
Muito mais árduo do que fazer ciência é tentar definir o que é ciência. É uma
tarefa que exige não só um grande conhecimento em epistemologia, mas um
conhecimento ainda maior em ciência. Para facilitar tal processo, tem sido comum
dividir a epistemologia71 por áreas científicas. Fala-se em filosofia da física,
filosofia da química, filosofia da biologia etc. Neste sentido este capítulo poderia
muito bem ser entendido como uma “epistemologia da memética” e, em parte, é
exatamente isso que se pretende apresentar aqui.
Entretanto, há algo pouco satisfatório nesta estratégia para quem quer levar
o saber científico a sério. Ao dividir os diferentes ramos da ciência e nos
concentrarmos somente na epistemologia de cada um destes, colocamos em jogo o
próprio sentido do que é ser uma ciência. Se tal estratégia for aceita, podemos
muito bem, e justamente, começar a apresentar uma epistemologia da astrologia,
do tarot cigano, das viagens astrais, da leitura em borra de café etc. É claro que
todas estas diferentes áreas tem as suas teorias sobre o que é conhecer, como o
conhecimento pode ser verdadeiro, qual a diferença entre verdade e falsidade, qual
o critério de verdade e qualquer outra questão de interesse epistemológico. Neste
caso, é justo fazer uma epistemologia de todas elas. Mas quando todo este serviço
for realizado, qual será o papel da epistemologia?
A proliferação das mais variadas epistemologias com uma divisão de todas
as suas áreas como se cada uma tivesse uma própria metodologia, forçosamente
significaria que todas elas estão epistemologicamente fundamentadas. Teremos,
71
Embora seja possível fazer uma separação, epistemologia, filosofia da ciência e teoria do
conhecimento serão tratados aqui como sinônimos.
321
por exemplo, a técnica da previsão do futuro na borra do café fundamentada na
epistemologia da leitura em borra de café e pronto, tal técnica estará
epistemologicamente justificada. E caso alguém não concorde com tal técnica e
critique sua epistemologia, será considerada como uma tentativa de duas
epistemologias incomensuráveis tentando se sobrepor uma a outra. E assim
infinitamente, até que as pessoas possam se arrogar de ter uma, ou mais,
epistemologias pessoais. Feito isso, qual seria o sentido de se fazer uma
epistemologia? Seria um mero prazer intelectual de questionar as bases
epistemológicas do que quer que seja?
Se este for o caso, todo este trabalho apresentado aqui pode muito bem
prescindir de uma epistemologia, que não passaria de uma perda de tempo, para
começar logo a fazer memética. No entanto, tal abordagem não parece nem um
pouco satisfatória para alguém que está interessado em um estudo sério e rigoroso
do que quer que seja. Partindo do princípio, como já vimos, de que as diferenças
genéticas entre os seres humanos são mínimas e de que os cérebros, embora
possam ter adquirido uma grande diversidade de conhecimentos, são semelhantes
em estrutura e funcionamento, podemos esperar que pelo menos a maioria das
pessoas tenha capacidade semelhante de conhecimento. Só este pequeno ponto
arquimediano, por mais bambo que seja, já é o suficiente para um naturalista se
equilibrar em busca de um conceito humano de ciência.
É necessário dar ênfase ao termo “humano” para deixar claro que não é um
saber absoluto e inquestionável que se busca. Muito pelo contrário, o que torna tal
conhecimento tão interessante é justamente, como mostrou Popper, o fato dele ser
questionável, provisório, oportunista, ou seja, humano. Feito por seres humanos,
para responder questões dos seres humanos, de um modo que os seres humanos
possam resolver seus problemas. Não é a melhor epistemologia possível, e sim a
melhor epistemologia humanamente possível. Onde o critério do que é “ser
melhor” fica a cargo, é claro, dos seres humanos. De quem mais poderia ser? A
única diferença da “epistemologia humanamente possível” e das “múltiplas
epistemologias criadas ao prazer dos ventos” é o fato de que esta serve aos
interesses pessoais, enquanto aquela busca aquilo que é humano, ou, pelo menos,
estatisticamente humano.
Neste sentido, pretende-se sim dar aqui o primeiro passo, um engatinhar,
para uma epistemologia da memética. Mas o interesse em esboçar tal
322
epistemologia não é o simples prazer e curiosidade intelectual de desenvolver
mais uma epistemologia entre outras tantas, mas sim a necessidade de mostrar
que, dada a epistemologia da memética, ela é muito mais parecida com a
epistemologia de áreas notoriamente consideradas como científicas do que com o
resto. Para utilizar uma analogia que foi, e ainda será, utilizada durante todo este
trabalho: a tentativa aqui é mostrar que se a memética fosse uma espécie animal,
ela faria parte da mesma família da biologia, física, química, matemática etc.
Teria como sua espécie irmã a biologia, mas também como espécies relacionadas,
mas mais distantes do que a biologia, uma diversidade grande que incluiria a
lingüística, a antropologia, a arqueologia, a cosmologia, a geologia etc. Já em uma
outra família, separada da dela, é que deveria ser colocada a astrologia, o tarot, a
quiromancia, a psicanálise e outra tantas. Assim, esta é uma epistemologia
particular, foi feita não para separar e sim para unir.
No entanto, não se pretende aqui resolver todos os problemas da filosofia da
ciência, na verdade, até mesmo questionamos se é realmente preciso resolver
algum problema epistemológico antes de se fazer ciência. Entrar nos imbricados
labirintos da filosofia da ciência, com as suas dicotomias que parecem embocar
em novas dicotomias e assim infinitamente, seria complicado, extenso e
contraprodutivo. Seria sim possível criar um novo conceito de ciência só para a
memética, mas aí cairíamos naquele jogo de múltiplas epistemologias particulares
e inúteis do qual acabamos de falar. Por este motivo, não pretendemos criar aqui
nenhum conceito novo de ciência para se contrapor aos que já existem. Até
porque, por uma ironia cética, só é possível julgar se um conceito do que é o fazer
científico se adequa propriamente a este fazer, se já soubermos de antemão o que
é “fazer ciência”. De outro modo, tal conceito se adequará a quê?
Também não se pretende defender um conceito já existente retirado de
algum filósofo particular. Fazer isso seria justamente entrar no labirinto
epistemológico que estamos tentando sair. Deste modo, o que se procura é
somente um conceito epistemológico que dê conta da memética e, se houver
sucesso, tal conceito a aproximará ainda mais do que ordinariamente chamamos
de ciência. A fundamentação epistemológica da memética é, na verdade, um
trabalho ainda por ser feito. O que é preciso fazer agora é só “acotovelar” as
indagações epistemológicas para que se abra um espaço onde a memética possa
respirar.
323
Mas antes mesmo de se iniciar neste sobrevôo do labirinto da epistemologia
devemos questionar o motivo desta empreitada. Aparentemente a memética sofre
de um mal só pela simples razão de ser filha de sua época. Ao contrário de
ciências como a física, a química e a biologia, que tiveram tempo para se
desenvolver, tentar, errar e tentar de novo, a memética foi cravejada de questões
epistemológicas ao nascer. Ela teve a infelicidade de surgir em uma época em que
a filosofia da ciência já existia, foi bem difundida e teve grandes nomes e muitas
linhas de pensamento. A respeitabilidade, merecida, de tal área a fez achar que ela
tem o direito de servir de “leão de chácara” do rol das ciências. Tudo isso tem um
nome técnico provindo da própria epistemologia contemporânea: é a chamada
normatividade. Ou seja, a filosofia da ciência seria capaz de ditar a norma, o
critério, para decidir o que é e o que não é ciência, dando um critério de
demarcação entre ciência e não-ciência. Deste modo, também seria capaz de ditar
o modo correto de se fazer ciência.
No entanto, felizmente a ciência até então pôde funcionar muito bem
prescindindo de tal instância normativa, assim como uma criança, que cria as
regras conforme joga o jogo. Por isso a resposta para a questão de se é possível
haver ciência sem uma filosofia da ciência pré-estabelecida é um claro sim. Toda
a ciência tem um fundo geral mais filosófico, e todo o fazer científico tem a sua
epistemologia imanente, mas esta é uma situação muito diversa da que
encontramos hoje, onde a filosofia da ciência está presente até mesmo antes do
fazer científico, como algo externo, anterior e, porque não, superior.
Uma possível solução para este problema seria ignorar a filosofia da ciência
e simplesmente fazer memética. David Hull defende algo semelhante ao dizer que
é preciso parar de discutir e fazer memética (cf. Hull, 1988). Quando a memética
já estiver em pleno desenvolvimento, aí descobriremos qual epistemologia está
por detrás dela. Não há nada de errado em seguir este caminho e, em parte, é o
caminho defendido aqui. Mas há uma outra trilha que, se não for melhor, é, pelo
menos, menos arrogante. Podemos encontrar dentro da própria filosofia da ciência
grandes pensadores capazes de criar “bolsões de ar” no meio de toda a
normatividade para permitir que uma nova ciência respire. Um destes filósofos foi
Feyerabend.
Não pretendemos aqui defender todos os pontos de vista de Feyerabend. A
interpretação corriqueira que é dada a este filósofo implica que defendê-lo seria
324
acabar com qualquer possível limite de demarcação entre ciência e não-ciência.
Seria estranho fazer isso quando justamente estamos tentando aproximar a
memética da ciência. Seria como puxar as ciências para baixo, ao invés de
empurrar a memética para cima72. Em oposição a isso, pretendemos ver
Feyerabend de uma outra maneira, mas, é claro, ainda fazendo justiça ao seu
anarquismo (ou dadaísmo) epistemológico.
Ao ler Feyerabend é sempre importante buscar a plausibilidade escondida
por detrás de seu radicalismo. É possível ler a obra de Feyerabend, especialmente
seu Contra o Método, como um manifesto sobre a inutilidade normativa da
filosofia da ciência. Antes de mais nada, é preciso entender as duas principais
motivações de Feyerabend. Em primeiro lugar, a história da ciência está repleta de
momentos onde metodologias que eram bem aceitas foram deixadas de lado em
prol desta mesma ciência. Em segundo lugar, nós devemos admitir que o mundo é
em grande parte desconhecido e, por isso, não podemos saber de antemão qual
será a melhor metodologia para lidar com aquilo que ainda não conhecemos.
A leitura cotidiana do pluralismo epistemológico feyerabendiano tende a
achar em sua obra uma prescrição normativa do “tudo vale”. Como se ele
estivesse incentivando que a ciência deva ser tomada por todas as formas
estranhas de metodologia. Como se o método científico até então existente
devesse ser ignorado. Uma leitura perfeitamente natural, dado que o título “Contra
o Método” parece indicar que ele quer acabar com tal método científico. Seria
como prescrever o método de não se usar métodos nunca! Mas isso ignora que ele
mesmo disse que é correto que
as profissões especiais, como as da ciência ou da prostituição, tenham o direito de
exigir que seus afiliados e/ou praticantes se conformem a padrões que lhes parecem
importantes e que possam verificar-lhes a competência (Feyerabend, 2007, p.223).
Ao colocar o termo “prostituição” ao lado da ciência, provavelmente com
uma tola atitude de querer chocar, ele acaba impedindo a compreensão de tal
citação. No entanto, é possível fazer uma leitura menos radical. Defender, como
ele defendeu claramente, que sendo o mundo desconhecido, então não sabemos de
antemão como abordá-lo, está, na verdade, em franca oposição com a defesa
atribuída a ele de que não devemos usar método nenhum nunca. Se o mundo é
72
“Baixo” e “cima” têm sim sentido valorativo aqui!
325
desconhecido, é perfeitamente possível que ele só possa ser futuramente
compreendido através de alguma metodologia. O que não podemos saber é qual
será esta metodologia. É por isso que ele diz que “só há um princípio que pode ser
defendido em todas as circunstâncias e em todos os estágios do desenvolvimento
humano. É o princípio: tudo vale” (Feyerabend, 2007, p.43).
Visto deste modo, o “tudo vale” longe de ser um preceito epistemológico
que incentive a proliferação inútil de metodologias, é a constatação de que não se
deve ficar preso à normatividade prescritiva da filosofia da ciência. Não se deve
deixar que a filosofia da ciência se transforme em uma amarra ao fazer científico.
É preciso liberdade. É preciso, antes de tudo, tentar. Deste modo, só é possível
dizer que não é possível, depois de tentar. Lida assim, a grande tese de
Feyerabend é somente sobre a inutilidade normativa da epistemologia. Não é um
“tudo vale” científico, é um “tudo vale” epistemológico. Ou seja, não se busca
dizer que qualquer coisa pode ser chamada de científica, e sim que a ciência
precisa ter liberdade para andar sozinha. Buscar conceitos que determinem de
antemão o que é ou não é ciência impede o próprio fazer científico que se está
buscando proteger. A melhor regra para tal fazer é deixá-lo livre, tudo vale!
De maneira nenhuma isso significa que qualquer metodologia deve ser
considerada científica. Vimos que o próprio Feyerabend admite que certas
profissões, como a ciência, têm o direito de verificar a competência de seus
afiliados. Buscar novas metodologias para tratar de novos objetos não pode
significar abandonar a busca pelo rigor e pela objetividade, que são necessárias
para que a ciência seja um fazer comunitário. “Novas metodologias” não significa
“qualquer metodologia”. De antemão podemos saber que qualquer metodologia
que impeça que o fazer científico seja publicamente entendido, “verificado”,
repetido e refutável por outros deve ser rejeitada. Na leitura que estamos buscando
aqui, Feyerabend não é contra qualquer tipo de método, ele é contrário somente ao
estabelecimento prévio de um determinado método como sendo o único possível.
Deste modo, o que se segue poderá ser interessante e fecundo, mas deve ser
visto como pragmaticamente inútil. Buscar uma epistemologia da memética que a
aproxime da ciência não é a mesma coisa do que tentar determinar um critério de
demarcação e dizer que a memética faz parte da ciência. É fazer algo muito mais
modesto: procura-se somente mostrar que se for feita uma “gradação das
ciências”, a memética deve ficar próxima da biologia, que por sua vez, está
326
próxima da química e da física. Uma analogia que talvez ajude a compreender o
que está sendo dito aqui: não procuramos um “espaço absoluto” onde a memética
possa definir as suas coordenadas em relação a um sistema de referência
universal, mas somente um “espaço relativo” onde para localizar a memética basta
dizer quem está à sua esquerda e quem está à sua direita.
É perfeitamente possível fazer isso sem se preocupar se existe ou não um
limite de demarcação para chamar algo de científico. Com ou sem demarcação, o
importante é que a memética encontre o seu lugar em relação aos outros saberes.
Por isso é que foi dito que não será tentado aqui criar um novo conceito de ciência
ou mesmo defender um já existente. Somente apresentar em que “família
epistemológica” a memética futuramente deverá se enquadrar já será mais do que
suficiente.
9.1
Demarcando o Território
A primeira dificuldade com esta empreitada é descobrir onde, nesta
gradação, se localiza a biologia. Esta, infelizmente, foi quase que ignorada pelos
“grandes nomes” da Filosofia da Ciência tradicional ao propor suas teorias. É
preciso destacar que o que trataremos aqui não é sobre a importância da filosofia
da biologia, pode-se dizer que esta já se tornou até mais importante do que a
própria filosofia da ciência. No que diz respeito ao seu lugar em relação às outras
ciências, os biólogos não têm do que reclamar, a biologia é hoje uma das mais
renomadas ciências e, com isso, a filosofia da biologia ganhou o seu merecido
destaque. Mas a questão fundamental aqui é saber qual implicação teve este
sucesso da biologia para o questionamento geral do que é fazer ciência como um
todo. Talvez este seja um dos motivos que a disciplina “filosofia da biologia”
surgiu separadamente dando início a compartimentalização da epistemologia que
estávamos falando na seção anterior. Sabe-se, como já vimos nos primeiros
capítulos, que no seu nível molecular o estudo da biologia mantém fortes relações
com a física e com a química. As tão importantes proteínas têm grande parte de
suas funções justamente por causa de suas propriedades estereoespecífica, ou seja,
327
devido a sua forma física tridimensional (seção 1.2). Funcionam como blocos de
encaixe com propriedades químicas. Não há dúvidas de que a biologia está muito
próxima destas duas ciências, assim como próxima da matemática, que se
encontra desde o nível molecular até os estudos da macro-evolução, passando pela
teoria dos jogos no comportamento social animal.
Dada estas íntimas relações, e assumindo que a biologia é um estudo sério,
rigoroso, utilizando modelos matemáticos e experimentos empíricos sempre que
possível, é de se espantar com o pouco papel que ela tem não só na filosofia da
ciência em geral, mas também na mentalidade cotidiana do fazer científico. É
claro que, quando um leigo pensa em um cientista, ele logo pensa em alguém de
jaleco branco com uma criação de ratos de laboratório. Mas, como veremos em
breve, embora a imagem do que é um cientista possa ter mudado, pois já não é
mais um senhor de cabelos desgrenhados e com a língua de fora, a imagem do que
é a ciência não acompanhou tal mudança.
Ao pensar em ciência, um leigo não consegue dissociar a sua imagem de
conceitos
tal
como
“lei”,
“previsão”,
“mecanicismo”,
“reducionismo”,
“matemática” “materialismo”, “tecnologia”, “experimentos” etc. Provavelmente
ele não conhece os termos exatos, e nem as implicações filosóficas de tais termos,
mas juntas elas formam uma “imagem de mundo” que é tipicamente unida ao
fazer científico de uma maneira mais ou menos parecida com esta: “a ciência
materialista estuda como as partes estão mecanicamente encadeadas para formar
um todo e, baseada nas leis que ela descobre e na matemática, ela pode fazer
previsões e construir tecnologia”. Como toda imagem de mundo, ela não é
exatamente falsa, só mal direcionada e extremamente simplista. Mas o mais
importante aqui é perceber que esta visão de mundo não só utiliza conceitos que
não são todos igualmente relevantes para a biologia, como esquece conceitos que
são extremamente importantes. Dentro desta visão, a biologia não é tão científica
quanto a física ou a química.
No entanto, não é dado ao leigo o dever de conhecer os meandros da prática
científica. Por isso o que mais surpreende, na verdade, é o fato da própria filosofia
da ciência seguir um caminho parecido. Como já foi dito, existe a filosofia da
biologia que atualmente prospera, mas esta não é a questão. O problema é saber o
que a biologia tem a dizer para a filosofia da ciência em geral. Ou seja, o que a
biologia traz para a questão “o que é ciência?” Seria exagero dizer que a
328
epistemologia ignora a biologia como um todo. Muito pelo contrário, a
epistemologia contemporânea tem sido dominada pela biologia. No entanto, ela
não lhe dá o devido valor no que diz respeito aos seus questionamentos mais
gerais do fazer científico. Pior ainda é se formos comparar o valor dado à biologia
em relação ao valor dado à química e, principalmente, à física nestes
questionamentos. Ficamos com a impressão de que, uma vez descoberta a
importância da biologia, os filósofos da ciência perceberam suas diferenças e
desistiram de falar de ciência como um todo. Iniciaram as discussões sobre a
filosofia da biologia e esqueceram das discussões sobre filosofia da ciência.
Como já foi mencionado, talvez seja justamente porque a biologia traz novas
abordagens enquanto releva abordagens antigas para a prática científica que se
criou esta compartimentalização da epistemologia. Um tradicional filósofo da
ciência, quando entra em contato com uma novidade metodológica da biologia, ao
invés de ter que mudar o seu conceito geral de ciência, simplesmente diz “isso aí é
questão para a filosofia da biologia”. Mas esta é uma atitude simplista. Se não
queremos abandonar o conceito de ciência devemos discutir o que estas novas
abordagens da biologia nos dizem sobre a ciência em geral.
É claro que há a possibilidade de se abandonar o conceito de ciência em
geral e falarmos só da pluralidade das ciências. Mas esta estratégia foge do ponto
central que é que aqueles que não abdicaram do conceito mais geral de ciência, e
Popper é um deles, não podem mais continuar dando menos importância à
biologia em suas análises. Mesmo aqueles que falam de ciências e metodologias
no plural devem estar atentos que, para enquadrar a biologia no grupo das ciências
(no plural) é preciso ter antes um conceito do que é ciência (no singular) para
definir se uma metodologia entra ou não neste grupo restrito. Simplesmente dizer
que existem vários tipos de ciências, com várias metodologias, não diminui a
necessidade de se definir o que é “ser ciência”. Do mesmo modo, dizer que
existem várias espécies muito diferentes de cetáceos não implica que não se deva
definir o que é um cetáceo (um mamífero marinho). Já a última estratégia, que
seria a de não definir conceito nenhum de ciência, pois não há absolutamente nada
que a diferencie das demais áreas como a astrologia, a psicanálise e o tarot das
fadas, não deveria dizer que faz filosofia da ciência. Por que não passar a chamála de filosofia do tarot? No final das contas, teria que dar no mesmo. Não é esta
abordagem que se busca aqui.
329
Assumindo que mesmo que existam diversas metodologias científicas
diferentes, que elas só são chamadas de científicas porque podem ser enquadradas
no grande conjunto denominado Ciência, temos, então, que perceber que não foi
dada à biologia o lugar que esta merece neste conjunto. Não há biólogo, ou
filósofo da biologia, que não perceba, e não critique, o papel quase universal que a
física ocupa na formulação da epistemologia. Dois dos principais filósofos da
biologia são bem claros a este respeito:
No início do século vinte, Bertrand Russell declarou que a teoria da evolução não
possui implicações filosóficas maiores. As ciências que tinham algo a ensinar à
filosofia eram a matemática (particularmente a lógica matemática) e a física. A
física tinha que servir como um modelo para as outras ciências e, nos cinqüenta
anos que se seguiram, os filósofos recriminaram continuamente a incapacidade da
biologia de seguir esse exemplo. O conhecido filósofo da ciência e da mente J. J. C.
Smart comparou o biólogo com um engenheiro de rádio. Os biólogos estudam o
funcionamento de um grupo de sistemas físicos que foram produzidos em um único
planeta. Smart achava que uma disciplina assim tão paroquial dificilmente
contribuiria para nosso acervo de leis fundamentais da natureza (Sterelny &
Griffiths, 1999, p.3 - 4. Minha tradução).
E eles continuam logo em seguida dizendo que “a metafísica e a filosofia da
ciência foram, com demasiada freqüência, dominadas por modelos retirados da
física e da química” (Sterelny & Griffiths, 1999, p.6. Minha tradução). Ernst
Mayr também ressaltava constantemente esta questão. É importante notar que
mesmo que adotemos a visão de Smart, de que a biologia é o estudo de criaturas
físicas e particulares deste planeta, ou seja, mesmo ignorando o darwinismo
universal, ainda assim não há justificativa razoável para se colocar a biologia em
segundo plano. Mesmo se ela não for tão universal quanto a física, ela ainda é
uma nova ciência que, e isto é que é importante, traz uma nova forma de se fazer
ciência. Se os próprios filósofos da ciência não foram capazes de reconhecer,
admirar e estudar esta nova forma de se fazer ciência, é difícil saber quem será.
Talvez o mais interessante nestas críticas seja justamente o fato de que elas
estão inextrincavelmente ligadas à maneira de se fazer ciência da física. Pois se
criticamos a particularidade da biologia é porque existe aí uma defesa de que a
“verdadeira ciência” é a que estuda aqueles fenômenos que são invariáveis em
todo o universo, aquela que estuda leis. Fenômenos particulares, singulares, não
interessam à ciência. Mas a biologia mostrou claramente que este não é o único
modo de fazermos ciência. Ela está sim voltada para questões gerais, e também
para questões particulares, às vezes extremamente particulares. Se fosse
330
encontrado um fóssil, ou ser vivo, que fosse o único de seu tipo, e se seu tipo
fosse diferente o suficiente para ele não ser considerado uma mera variação de
outros tipos já conhecidos, então seria de extremo interesse científico, e filosófico,
estudar este único indivíduo, sua anatomia, fisiologia, comportamento, história
evolutiva e tudo mais que fosse possível estudar sobre ele. Seria uma gigantesca
massa de estudos feitos sobre um indivíduo só, e alguém teria coragem de dizer
que isso não seria ciência da melhor qualidade? Nem mesmo Aristóteles teria.
Deste modo, fica claro que o conceito prévio de que todas as ciências devem
se basear na física já foi ultrapassado pela biologia. Para aqueles que ainda
insistem em tratar a questão da ciência como um todo, a física foi por muito
tempo, e infelizmente ainda é, considerada como o critério de cientificidade.
Quanto mais parecido algo for com a física, mais científico ele será. Ela é o
modelo: a Rainha das ciências pode ser a matemática, mas o primeiro ministro é a
física. No entanto, a biologia vai ocupando lugar nos departamentos e ganhando
destaque não só na mídia, como também nos orçamentos institucionais. Algumas
pesquisas já indicam que o orçamento da biologia é maior do que o da física em
vários lugares. E em muitos departamentos de física, engenharia, matemática e
ciências correlatas, a maior parte proporcional do financiamento está direcionado
para áreas como a bio-física, bio-engenharia e bio-matemática. É um fenômeno
mundial que ainda não teve as repercussões necessárias no que diz respeito ao
conceito geral do que é fazer ciência.
Os estudos sobre epistemologia têm sido praticamente dominados pela
biologia. No entanto, tais estudos ainda não levaram a uma repercussão mais
trabalhada do que os métodos usados na biologia podem nos dizer em relação à
questão do que é ciência em geral. Quando tratamos especificamente do conceito
de ciência ainda é comum esquecer a biologia e tratar este conceito do modo que a
física e a química o entendem.
Como não podia deixar de ser, não foram só os filósofos da biologia que
perceberam esta omissão da epistemologia contemporânea. Muitos biólogos, ao
procurarem sua fundamentação na filosofia, não ficaram satisfeitos com o que
viram e se expressaram a este respeito. Dawkins é aberto a este respeito e nos dá
um brilhante exemplo do que está sendo dito aqui: um dos principais oponentes de
Darwin em sua época foi lorde Kelvin (William Thomson), talvez o maior físico
da sua época, que dizia ter refutado Darwin ao provar que a Terra só tinha dezenas
331
de milhões de anos. Não interessa o fato de que ele estava brutalmente errado (a
Terra tem cerca de 5 bilhões de anos, sendo que cerca de 90% destes ela foi
povoada por vida!), o que interessa é o modo como ele refutou Darwin. O melhor
é ler nas próprias palavras de Dawkins:
Realmente imperdoável é o modo como ele descartou arrogantemente ‘como
físico’, as provas biológicas darwinianas: a Terra não era suficientemente velha;
não havia transcorrido tempo suficiente para que o processo darwiniano de
evolução obtivesse os resultados que vemos à nossa volta; as provas biológicas
devem estar simplesmente erradas, prevalecendo as provas superiores da física.
Darwin por sua vez, poderia ter retrucado (coisa que não fez) e dito que as provas e
evidências biológicas são claramente indicativas da evolução, portanto, deve ter
transcorrido tempo suficiente para que a evolução ocorresse e, sendo assim, a
evidência dos físicos é que deveria estar errada! (Dawkins, 1998, p.90)
O mesmo problema que ocorreu então, ainda ocorreria hoje. Quem, até
mesmo dentre os filósofos da ciência, tomaria o lado da biologia contra as
“evidências superiores da física”? No entanto, era a biologia que estava correta.
Nada melhor do que este exemplo para mostrar o que significa ser relegado ao
“segundo escalão epistemológico”. Hoje a perspectiva parece ter mudado: a
biologia ganhou uma gigantesca importância. Mas como os filósofos da biologia e
os próprios biólogos insistem em dizer: somente “parece”. A importância
acadêmica da biologia mascara o fato de que o reducionismo da física ainda lhe é
considerado superior. Como a física trata de um nível inferior, ela ainda
permanece com determinada superioridade epistemológica. Eventos biológicos,
em última instância, não são nada mais que eventos físicos e químicos visto em
um nível superior. Mas a realidade, a realidade mesma, seria física e química de
modo que a biologia deve se adequar a esta realidade, como no caso do lorde
Kelvin.
Um rápido exemplo pode deixar esta questão mais intuitiva: é perfeitamente
concebível que um físico desminta a existência de vida em outros planetas, apenas
porque não encontra lá as substâncias químicas associadas à vida no nosso
planeta. Mas como vimos na questão do darwinismo universal (seção 1.2 e 3.1),
um biólogo pode muito bem dizer que a vida não precisa ter seguido o caminho
que seguiu aqui e seu substrato físico pode ser completamente diferente. A
questão que fica é a seguinte: o que nos fez pensar por algum momento que um
físico poderia dizer o que quer que seja sobre os fatos da biologia? Podemos
332
lembrar também que não existe um prêmio Nobel de biologia, embora exista da
física, da química, da paz, da literatura, da medicina e até mesmo da economia73.
9.2
Fazendo Ciência com o Enfoque em Biologia: o papel da exceção
Apresentaremos aqui algumas diferenças entre o fazer cientifico da física e o
fazer científico da biologia. De maneira nenhuma será uma análise exaustiva, na
verdade é uma análise breve recolhida de alguns biólogos. Mas o que se deve ter
em mente a seguir não é um foco nas diferenças que serão apresentadas, e sim na
visão de mundo que elas trazem consigo, principalmente no que diz respeito ao
que é fazer ciência. Não buscamos uma oposição entre física e a biologia. Isso
seria absurdo, elas são claramente complementares. Desde que o élan vital foi
abandonado, está claro que a biologia estuda o mundo físico. Se levadas ao pé da
letra, muitas dessas diferenças que serão citadas não são realmente diferenças.
Quase todos os métodos encontrados na biologia também são encontrados na
física e vice-versa. A verdadeira questão está no enfoque que se dá em cada ponto.
É a diferença de enfoque que cria a diferença entre as visões de mundo.
Só para manter o exemplo já citado na seção anterior: assim como os
biólogos, se um físico encontrasse um mísero grama de um novo tipo de material
não relacionado com qualquer outro existente, ele também estudaria a fundo tal
material. Neste sentido a física não é tão diferente da biologia. Mas o enfoque
dado a este problema seria completamente diferente nestas duas ciências: a física
não espera que tal evento aconteça, os físicos preferem que ele não aconteça, pois
poderia abalar toda a sua estrutura. Nenhum químico quer fazer mudanças na
tabela periódica! Veja o exemplo da chamada “matéria escura” e da “energia
escura”, que causou nada menos do que um terremoto dentro da física, e cujo
dano ainda não foi calculado, simplesmente porque ainda não se sabe o que elas
73
Economistas acreditam fazer “ciência econômica” porque utilizam dados numéricos e tentam
fazer previsões testáveis. Até aí, segundo Popper (seção 9.4), estão fazendo ciência mesmo. Mas
suas previsões raramente acertam, mesmo dentro de uma determinada margem de erro, além das
previsões serem diferentes dependendo de quem as faz, algo típico de uma era pré-paradigmática
segundo Kuhn. Eventualmente alguém acerta, algo perfeitamente esperado, pois até na mega-sena
eventualmente alguém acerta. Mas isso não quer dizer que ele saiba mais do que os outros.
Quando muitas tentativas diferentes são feitas, alguém acaba acertando!
333
são (cf. Greene, 2001, p.250). Já na biologia, o surgimento de novas espécies não
é só esperado, é desejado. Como já vimos, talvez só conheçamos cerca de 10 %
das espécies (seção 1.9). A todo momento surgem novas espécies e é comum que
elas não se enquadrem bem nas filogenias existentes, exigindo, às vezes, uma
reformulação completa da história evolutiva de uma família inteira. Nada disso
espanta um biólogo, muito pelo contrário, é isso o que ele espera que aconteça.
Deste modo, um evento similar acontecendo nestas duas ciências terá
impacto completamente diferente. É justamente esta diferença “nos impactos”
(enfoques) que se busca aqui, pois o mundo que o biólogo estuda é o mesmo do
físico, ambos concordariam com isso, mas a visão de mundo dos dois, o enfoque
que eles dão, é bastante diferente. É isso que deve ficar claro no que se segue.
É difícil definir qual seria a diferença mais fundamental entre a abordagem
da física e da biologia Talvez isso sequer exista, mas se existir ela provavelmente
se dará na relação que ambas as ciências têm com a matemática. Seria impossível
fazer uma análise destas relações aqui, mas um atalho para este problema pode ser
seguido. Este atalho é ver o que cada uma das ciências pensa sobre as suas
“exceções”. Em uma rápida, porém útil, definição, uma exceção é quando algo
foge a regra geral. A física e a biologia têm que lidar com exceções, mas as tratam
de maneira bem diferente. Um simples experimento pode mostrar isso: a citação a
seguir, cujo autor foi retirado da referência, pode ter sido encontrada em um texto
de física, química ou biologia:
no mundo real, fora dos livros de lógica, conceitos simples tais como o de
“necessidade” e “suficiência”, precisam ser substituídos por equivalentes
estatísticos (…, 1999, p.195. Minha tradução).
De fato, ela poderia estar em qualquer um destes textos. Nenhuma destas
ciências acredita que o mundo funciona com uma regularidade matemática
absoluta. Há sempre uma margem de erro, há sempre exceções. Mas em qual
destas áreas tal citação mais provavelmente apareceria? E, mais importante ainda,
em qual delas esta citação seria colocada em defesa de tal área, e não como “um
problema com o qual temos que aprender a conviver”? Um bom palpite seria a
física quântica, mas esta é só uma disciplina de uma área bem maior que é a física.
Além de ser uma área com inúmeras interpretações, sendo que nem todas aceitam
tão prontamente suas características probabilísticas (cf. Penrose, 1997).
334
Além disso, “Darwin introduziu os conceitos de probabilidade, acaso, e
singularidade, no discurso científico” (Mayr, 2006, p.2). Foi inclusive
intensamente questionado por isso, pois, na mentalidade da época, uma disciplina
científica não poderia falar de acaso, pelo menos não como algo que constituísse
uma parte fundamental da sua teoria. Já existia na época de Darwin um
reconhecimento do papel do acaso, mas, como nos diz Futuyma, este
reconhecimento era do tipo formal, como o “dado a um estranho em uma festa
íntima” (Futuyma, 2002, p.463).
A resposta mais provável é que esta citação é de um biólogo, no caso foi
escrita por Dawkins. Mais importante ainda, ele não estava se lamentando por
isso, muito pelo contrário, estava defendendo o papel da estatística. Neste caso em
particular estava falando que a relação entre os genes e seu efeito fenotípico é
estatística para, depois, poder refutar o determinismo genético74. Exceções fazem
parte da vida. As aves de rapina, por exemplo, são carnívoras, mas isso não é
verdade para um tipo de abutre africano que é vegetariano (cf. Sterelny &
Griffiths, 1999, p.258).
Como veremos na próxima seção, o fato de que sempre há exceções é o
próprio coração do pensamento biológico que está caracterizado no que foi
chamado de Pensamento Populacional. Talvez tudo o que afirmamos aqui poderia
resumir-se da seguinte maneira: a biologia não é uma ciência da regra, ela é uma
ciência da exceção. Por isso a estatística e a probabilidade lhe são mais próximas
do que em qualquer outra grande área científica. Todas as ciências usam
estatística e probabilidade, mas em nenhuma ela é mais central75. Em nenhuma
delas estas duas áreas da matemática são mais representativas do seu fazer
científico. Este fato, como não podia deixar de ser, afeta diretamente o conceito de
“lei” dentro da biologia.
Leis, no sentido de regras universais e necessárias, simplesmente não são
encontradas na biologia. “Hoje é comumente aceito que, neste sentido, não
existem leis biológicas da natureza” (Sterelny & Griffiths, 1999, p.366. Minha
tradução). Infelizmente, devido a uma cegueira causada pelo excesso de física,
74
Isso mesmo, Dawkins não é um determinista genético. Tal fato já foi mostrado no início desta
Tese, mas é comum que seja esquecido!
75
Lembrando que a física quântica e a termodinâmica são só áreas da física. E ambas também têm
problemas com o conceito de “lei”.
335
muitos ainda não conseguem conceber uma ciência sem leis 76. Mas a biologia é
uma ciência e tem, no máximo, grandes regularidades. Seu procedimento é bem
diferente do da física e da química, mas não menos rigoroso. Nas palavras de
Gould:
Quando um paleontólogo olha para um dente isolado e diz ‘Aha, um rinoceronte!’,
ele não o está reconhecendo através das leis da física, mas simplesmente fazendo
uma associação empírica: dentes com esta forma característica (...) nunca foram
encontrados, a não ser em rinocerontes. Esse dente solitário implica um chifre e um
couro espesso, só porque todos os rinocerontes têm esses atributos em comum e
não porque as leis dedutivas da estrutura orgânica expressem a sua necessária
conexão. (Gould, 1992, p.99)
Um caso interessante é a relação entre os códons de DNA e os aminoácidos
que eles codificam: esta é uma das relações mais estáveis que possuímos dentro
da biologia, é perfeitamente possível que a relação entre cada códon e seu
aminoácido seja universal, ou seja, que cada tipo de códon sempre codifique um
mesmo aminoácido, sem exceção alguma (seção 1.7). Mas mesmo assim não
temos uma lei da biologia, pois a relação entre cada códon e seu aminoácido pode
ser só mais um caso, tão comum na biologia, de “acaso congelado”. Pode ser que
outras combinações entre códons e aminoácidos existam, mas quando uma se
estabeleceu, por acaso, passou a ser quase impossível que uma mudança
ocorresse, pois ela seria muito mal-adaptativa77. Mesmo havendo universalidade,
não significa que há lei.
Deste modo, mesmo a regularidade mais fundamental da biologia não seria
nem um pouco abalada se algum dia, em algum lugar, fosse descoberta uma
exceção. Descobrir algo assim na física seria como descobrir um planeta onde
objetos mais leves do que a água afundem quando colocados nesta! Aí está,
talvez, a grande diferença entre a biologia e a física e a química. A biologia foge
de leis e traz no seu lugar regras estatísticas e probabilísticas. Ela procura
regularidades suficientemente permanentes para serem interessantes, nada mais.
Nas palavras de Sterelny e Griffiths: “é possível trabalhar com a biologia sem
76
Segundo o modelo Nomológico-Dedutivo de Hempel, utilizado tanto pelos positivistas lógicos,
quanto por Popper, e ainda defendido até hoje, só existe explicação científica quando temos leis.
Além disso, explicar deveria ser o mesmo que prever, pois tudo o que podemos explicar,
poderíamos ter previsto. Como veremos em seguida, leis e previsões não têm papel importante na
biologia e, deste modo, segundo este modelo ela não seria capaz de explicar nada. Uma conclusão
evidentemente absurda!
77
Vimos no segundo capítulo Dennett chama isso de “fenômeno qwerty”.
336
buscar leis gerais desprovidas de exceções, mas sim descobrindo mecanismos
causais recorrentes” (Sterelny & Griffiths, 1999, p.368. Minha tradução).
Exatamente por este motivo é que surgiu com a biologia um novo tipo de
pensamento, apontado por Mayr como já tendo se originado em Darwin, que
talvez seja a contribuição mais importante que a biologia possa dar para a filosofia
da ciência. É o chamado Pensamento Populacional. Para explicar o que é o
pensamento populacional será necessário fazer uma grande digressão, mas que se
mostrará útil para compreender o que a biologia tem a oferecer à filosofia da
ciência.
9.4
O Pensamento Populacional
O pensamento populacional é o fim do essencialismo na biologia.
“Pensamento Populacional” e “Essencialismo” são ambos termos tirados de Mayr
e hoje largamente difundido entre biólogos e filósofos da biologia. Veremos que o
termo “essencialismo” aqui não significa exatamente o mesmo que este termo
significa dentro da filosofia. É importante deixar claro que ao utilizar este termo
não estamos atacando a chamada “questão da essência” que encontramos dentro
da filosofia, mas somente a questão de se a realidade biológica deve ser
encontrada nas espécies ou nos indivíduos. Ou seja, não estamos afirmando que
não existem essências, mas apenas que as espécies não são essências. Assim
sendo, o essencialismo tenta dividir a natureza em grupos discretos de modo que
você não pode fazer parte de dois tipos ou estar entre um tipo e outro. Ou você é
um leão ou é uma zebra, ou está vivo ou está morto, ou tem consciência ou não
tem. Mas isto está biologicamente errado, não há essências na natureza. É verdade
que um leão não pode se reproduzir com uma zebra, mas isso é só uma questão
factual que diz respeito aos mecanismos de isolamento. Não quer dizer que algo
que é meio leão meio zebra seja uma espécie de contradição que não pode, em
princípio, existir. Ser leão não é uma propriedade do tipo sim ou não, ou você é
ou você não é, você pode sim ser semi-demi-hemi-pseudo-quase-proto78 leão. A
78
Termo tirado de Dennett, 2005.
337
diferença entre não-vivo e vivo também é ilusória, entre elas há sempre um semidemi-hemi-pseudo-proto-quase vivo 79, o mesmo se dá entre consciente e nãoconsciente e entre macho e fêmea. A separação entre reprodução sexuada a
assexuada também é nebulosa (cf. Sterelny & Griffiths, 1999, p.71), muitos outros
exemplos poderiam ser citados, pois o mesmo vale para praticamente toda
classificação biológica. É Dawkins que nos diz:
Se considerarmos todos os animais que já viveram em vez de apenas os animais
modernos, palavras como ‘humano’ e ‘ave’ se tornam tão nebulosas e indistintas
em suas fronteiras quanto termos como ‘alto’ e ‘gordo’. (...) Acontece que se
‘ave/não-ave’ é uma distinção mais clara do que ‘alto/baixo’, é tão somente porque
no caso ave/não-ave os intermediários incômodos estão todos mortos (Dawkins,
2001, p.383).
Se isso nos parece muito estranho é porque ainda estamos presos a um modo
essencialista de pensar sobre a natureza. “Nossos procedimentos de nomenclatura
estão programados de acordo com uma era pré-evolucionária na qual as divisas
eram tudo e não esperávamos encontrar intermediários” (Dawkins, 1998, p.123 –
124 e Dawkins, 2005, p. 46). Já vimos, inclusive, que existem evidências de que
possuímos um módulo mental inato específico para tratar do mundo vivo, e que
este segue tais padrões essencialistas de classificação (seção 4.4). Nossa forma de
classificar muitas vezes nos faz colocar arbitrariamente um indivíduo
intermediário em uma espécie ou em outra80. No entanto, como a evolução não se
dá aos saltos, indivíduos intermediários devem ser mais do que esperados. Nas
palavras de Ridley:
A idéia de que a natureza vem em grupos discretos, sem variação entre eles, é uma
percepção ingênua. Se toda a gama de formas naturais, no tempo e no espaço, é
estudada, todos os limites aparentes tornam-se fluidos (Ridley, 2006, p.76).
Tais indivíduos intermediários não devem ser considerados exceções
aberrantes, muito pelo contrário, eles são naturalmente esperados pelo
79
Cabe lembrar que há não muito tempo atrás a não separação entre vivo e não-vivo seria
considerada absurda e incoerente! No entanto, depois dos experimentos de Friedrich Wöhler
(1828) e do surgimento da bioquímica esta crítica gradativamente perdeu força.
80
Um caso paradigmático disso, como nos diz Dawkins, é a procura vã pelo “elo perdido”, pois
quando um novo fóssil de um ancestral nosso é encontrado ele imediatamente é classificado ou
como humano ou como primata. O que faz com que o “elo perdido”, por definição, nunca
apareça! (cf. Dawkins, 1998, p.123)
338
pensamento populacional que trabalha com um conceito de espécie muito mais
fluido do que o conceito utilizado pelo senso comum.
Como Dennett nos mostra, a catalogação de animais em espécies dentro do
pensamento populacional é muito mais parecida com a arrumação de livros em
uma livraria do que com elementos em uma tabela periódica. Embora muitos
casos não sejam controversos, sempre haverá aquele romance que não é ficção,
mas também não é nem biografia e nem livro de história, ou aquele livro de
filosofia que também ficaria confortável nas prateleiras de literatura etc (Dennett,
1998, p.39). A existência de intermediários entre as espécies faz parte da própria
noção de evolução, pois uma espécie nova se forma através da soma de pequenas
variações benéficas em uma espécie ancestral. Nas palavras de Darwin:
de acordo com a teoria da seleção natural, a existência anterior de um conjunto
inumerável de formas intermediárias deve ter existido, ligando todas as espécies em
cada grupo por gradações tão delicadas como as nossas variedades existentes
(Darwin, 2004, p.485).
Se para resolver este “problema do intermediário” for criada uma nova
espécie (ou sub-espécie) entre as duas espécies existentes, com isso só se
multiplicará o número de indivíduos intermediários, pois agora teremos novos
intermediários entre esta recém criada espécie e as duas que já existiam
anteriormente. Continuando no mesmo raciocínio, teríamos que criar agora dois
novos grupos de intermediários e assim sucessivamente até que cada indivíduo
seja considerado como o exemplar único de sua própria espécie. Mas isso não é
nada mais do que dizer que cada indivíduo é único, o que é a própria base do
pensamento populacional! Ver os intermediários como problema é olhar para a
biologia como se olha para a física, a química e a matemática, ou seja, é
exatamente o que está sendo criticado aqui.
A evolução é agora vista como a movimentação de indivíduos em um pano
de fundo que é a população (cf. Mayr, 2005, p.104). Não é mais uma questão de
espécies, e sim de indivíduos de uma população. Não é mais também uma questão
de qualidade, cada espécie sendo uma qualidade diferente, e sim de quantidade de
variação. A visão de mundo que ela dá é a de indivíduos quantitativamente
diferentes entre si. Isto é muito diferente da visão de mundo antiga que tínhamos
sobre a natureza, e que ainda persiste, não só no senso comum, mas também
dentro do meio acadêmico. A visão antiga que tínhamos era de espécies
339
qualitativamente diferentes entre si. Na visão antiga as diferenças encontradas
dentro das espécies eram irrelevantes, na visão nova elas são de extrema
importância, são elas é que nos permitem quantificar a evolução. Na visão antiga a
diferença entre as espécies era a única diferença que importava, pois era a única
diferença essencial. A diferença dentro das espécies era considerada um mero
desvio, uma exceção. Na visão nova a diferença entre as espécies é também uma
diferença quantitativa (cf. Carroll, 2006, p.257. Seção 1.8), pois o que define as
espécies são as freqüências gênicas de uma população. Nas palavras de Mayr:
É essa variação entre os indivíduos peculiarmente diferentes que tem realidade, ao
passo que o valor estatístico mediano calculado dessa variação é uma abstração
(Mayr, 2005, p.104.).
Um dos problemas do essencialismo é que ele está baseado na concepção
errônea de que todos os indivíduos de uma mesma espécie são idênticos entre si,
sendo as suas pequenas diferenças algo superficial. Mas, como já vimos no início
do primeiro capítulo, uma das principais constatações de Darwin é justamente a
da variabilidade intraespecífica (seção 1.1). Sem este tipo de variabilidade
simplesmente não se pode falar em evolução por seleção, pois o que é selecionado
são justamente estas variedades.
Para deixar a terminologia mais clara, chamamos de diferenças qualitativas
aquele tipo de diferença “incomensurável”, são diferenças do tipo “tudo-ou-nada”,
“sim-ou-não”. Como quando dizemos, por exemplo, que uma pessoa está morta
ou está viva, está grávida ou não está. Ou seja, quando não é possível algo entre
dois estados, então estes estados são qualitativamente diferentes. Um conceito do
tipo essencialista é o que define uma regra rígida do tipo: Água é H2O. Não há
exceções a este conceito, não há meio termo, não há “semi-água” ou “pseudoH2O”. Antes de Darwin, as espécies eram consideradas conceitos deste tipo, seja
criado por Deus ou não, elas definiam como o mundo qualitativamente era
dividido81.
81
Podemos levantar a questão de se os isótopos da água seriam também “água” ou não. Deste
modo a água pode não ser um bom exemplo. Podemos, então, seguir Dennett em um exemplo
ainda mais radical, com o mero intuito de deixar a divisão entre o pensamento populacional e o
essencialismo mais intuitiva: o pensamento populacional seria como dizer que o número 4 já foi
impar, mas que através de pequenas mudanças ele se transformou em par. Embora tal exemplo
340
Já quando é possível algo entre dois estados, então eles são só
quantitativamente diferentes. Cada estado tem uma quantidade diferente da
mesma coisa. Isto quer dizer que se continuarmos seguindo um chegaremos
naturalmente no outro. Eles estão ligados. Nesta nova visão não há dois tipos de
diferença distintos: um dentro da espécie e outro entre uma espécie e outra. Só há
um tipo de diferença e a diferença entre duas espécies distintas é só uma
continuação das diferenças encontradas dentro de uma mesma espécie. No
entanto, não está sendo dito aqui que não existem qualidades na natureza, e sim
que tais qualidades não devem ser buscadas na separação entre as espécies.
Independente do conceito usado, a separação entre as espécies não é mais uma
separação qualitativa do tipo “tudo-ou-nada”. Como vimos, a visão de mundo que
o pensamento populacional trouxe é a parte central do próprio evolucionismo.
Para deixar mais clara a relação quantitativa entre as espécies, podemos
lembrar do que já falamos sobre as espécies anel na seção 1.3.2. São dois tipos de
gaivotas (Larus argentatus e Larus fuscus) que no Reino Unido claramente se
diferenciam fenotipicamente e não se reproduzem entre si, mas se reproduzem
com suas vizinhas em um anel que dá a volta ao mundo e liga estas duas espécies.
Por este motivo elas são ao mesmo tempo de espécies distintas e da mesma
espécie! É claro que uma separação arbitrária sempre pode ser feita, nas palavras
de Ridley:
Nenhum caráter fenético pode ser usado, exceto de forma arbitrária, para separar o
anel em duas espécies. Tal divisão do anel também seria teoricamente sem sentido:
existe um verdadeiro contínuo, e não espécies claramente separadas. Problemas
desse tipo são exatamente o que devemos esperar, visto que as espécies se
originaram por um processo evolutivo (Ridley, 2006, p.377 - 378)
Estas espécies anel não são um tipo peculiar, uma exceção, na verdade,
todos os seres vivos no planeta Terra estão ligados entre si da mesma maneira que
estas duas gaivotas, o que acontece é que na maioria dos casos os indivíduos que
seriam intermediários entre uma espécie e outra não sobreviveram ao processo de
seleção natural ou se extinguiram por simples acaso
Para deixar as implicações desta íntima relação entre as espécies mais
intuitiva podemos ver as relações que se dão entre os seres humanos e seu parente
pareça absurdo, antes do pensamento populacional a transformação entre as espécies era
considerada tão absurda quanto!
341
mais próximo, o chimpanzé. Imagine a seguinte situação fictícia (cf. Dawkins,
2005, p.49): uma mulher está em pé, na beira da praia, posicionada
perpendicularmente ao oceano. Ela está de mão dada com a sua mãe, que está de
mão dada com a mãe dela, avó da primeira, que está de mão dada com a mãe dela,
bisavó da primeira, e assim por diante. Elas estão formando uma fila de mão dada
de modo que se distanciam do oceano geração por geração. Considere que cada
geração, a filha, depois a mãe, a avó, a bisavó etc. ocupa 1 metro desta fila e
considere que tais pessoas são imortais, deste modo a fila pode ser infinitamente
longa, geração dando as mãos à sua geração anterior, 1 metro de cada vez. Pois
bem, quando esta fila tiver 480 Km, ou seja, 480 mil gerações, teremos no final da
fila o último ancestral comum entre o homem e o chimpanzé. Agora imagine que
quando a fila chega neste ponto ela começa a voltar em direção ao oceano. Serão
480 Km de volta, ou seja, 480 mil gerações. O que vai acontecer é que no final da
fila, junto novamente ao oceano, teremos um chimpanzé comum, destes que
vemos no zoológico, de mãos dadas com aquela primeira mulher que começou a
fila. Formamos, assim, um anel com 960 Km de circunferência que ligam duas
espécies claramente distintas, no entanto, se você percorresse esta fila com os
olhos você nunca saberia dizer onde termina o ser humano e começa o chimpanzé.
A diferença entre uma pessoa e a outra do seu lado é sempre a diferença natural
entre mãe e filha.
Não há imagem mais clara para o fato de que não há saltos na natureza do
que essa. A diferença entre duas espécies claramente distintas não é mais do que o
acúmulo de diferenças entre mães e filhas. Não percebemos isso porque tais seres
intermediários não mais existem, eles morreram seja por causa da seleção natural
seja por causa da deriva genética. Não estamos negando a distinção entre homens
e chimpanzés, é claro que são duas espécies separadas, mas a questão é entender
melhor como se dá esta distinção, no que ela consiste verdadeiramente. Podemos
aqui imaginar livremente que a história do pensamento ocidental seria muito
diferente se todas as espécies intermediárias entre o homem e o chimpanzé
tivessem sobrevivido. Algo parecido com isso quase aconteceu, pois os
Neandertais,
que eram possivelmente uma
outra espécie de
homem,
desapareceram só recentemente (seção 5.4). O contrário também poderia
342
acontecer: talvez a relação do ser humano com a natureza fosse ainda hoje
desconhecida se não existisse mais nenhum primata além do homem.
O que as espécies-anel nos mostram é o cerne do pensamento populacional:
a separação entre as espécies não é essencial, não é qualitativa e sim quantitativa.
A separação se dá pela freqüência probabilística dos genes, ou seja, um gene
determinado tem maior probabilidade de aparecer nesta do que naquela espécie. Já
esta separação probabilística dos genes aparece por algo que é chamado de
“mecanismo de isolamento”, que são o que mantém as espécies distintas,
normalmente impedindo a reprodução, mas não serão tratados aqui. Espécies não
têm limites rígidos, mas isso não significa que elas não existam. Mesmo sendo
possível um intermediário entre um leão e um tigre, leões ainda são leões e tigres
ainda são tigres. É possível estudar uma determinada espécie simplesmente
porque, para todos os propósitos práticos82, seus intermediários mais “aberrantes”
não são estatisticamente relevantes.
Depois desta digressão deve ter ficado claro que a forma de se ver e de
trabalhar o mundo na biologia é bem diferente da física e da química. O enfoque
na variação individual, sendo o “geral” uma abstração estatística, esvazia muito o
conceito de exceção. Mais importante é a relação que se tem com este conceito.
Enquanto uma exceção é vista nas outras ciências como uma falha, um problema a
ser resolvido, ou até uma possível refutação, na biologia ela é a variação que dá
origem aos “tipos”.
A separação entre uma variação e uma espécie é considerada como ilusória
desde Darwin e se manteve assim. Pode haver dezenas de conceitos de espécie, e
há, mas nenhum deles ignora que uma espécie é um acúmulo de variações. Não há
limites rígidos que separem uma variação de uma espécie. Como vimos (seção
1.3.2), nem mesmo o popular conceito de impossibilidade de cruzamento entre as
espécies as separa de maneira rígida. Muitas são as espécies que são perfeitamente
distintas, mas ocasionalmente cruzam entre si. O segredo aqui está só na palavra
“ocasionalmente”, ou seja, isso não acontece com freqüência suficiente para ser
considerado estatisticamente relevante. Mas é filosoficamente relevante, pois nos
82
O filósofo Sergio Fernandes definia a ciência como sendo FAPP (For All Practical Purposes).
Ou seja, somente é relevante aquilo que faz alguma diferença prática. Isso significa que uma
mesma variável pode ser relevante em uma pesquisa científica, mas irrelevante em outra.
343
mostra que a separação entre as espécies é uma análise estatística. Ou seja, que
exceções são esperadas, e até mesmo bem-vindas.
9.5
Falsificando Popper
A má compreensão deste novo modo de se fazer ciência, e de ver o mundo,
trazido pela biologia ainda permanece como um “espinho na garganta” de muitos
que curiosamente, e absurdamente, a acusam de ser desde contraditória até
tautológica! Tudo se passa como uma reencenação da disputa entre Darwin e o
grande físico Lorde Kelvin. Uma destas reencenações se deu com o eminente
filósofo sir. Karl Popper.
Não será tratada aqui a epistemologia de Popper, mas apenas a sua análise
da teoria da evolução será apresentada. Em pouquíssimas palavras, Popper
pretendia fazer uma separação entre ciência e pseudo-ciência empírica e para isso
usou o conceito de refutabilidade: a ciência funciona não por comprovações de
teorias, mas por criações teóricas conjecturais que podem ser falsificáveis. Em
outras palavras, só é científico aquilo que for capaz de ser refutado. “Todo cisne
branco é branco”, por exemplo, não é uma afirmação falsificável, embora seja
verificável, pois todo cisne branco que acharmos poderemos dizer que foi mais
uma vez verificada a regra. Mas ela é claramente uma tautologia que não explica
nada e, por isso, não é científica. Já “todo cisne é branco” pode ser falsificada
simplesmente encontrando um cisne que tenha alguma outra cor. Deste modo, é
uma afirmação científica e pode ser colocada a teste sendo considerada
provisoriamente verdadeira enquanto não for falsificada. Não há teoria científica
que não seja provisória.
Dentre os muitos filósofos da ciência de relevância que surgiram nos últimos
100 anos e que tinham um critério de demarcação entre ciência e não ciência,
Popper parece ter assumido uma forma de hegemonia entre os outros. O termo
“hegemonia” aqui não se baseia em nenhum tipo de valorização do pensamento de
Popper, é apenas uma constatação de que nos próprios textos escritos e estudados
por biólogos se encontra um número muito maior de citações e referências à
344
Popper do que a qualquer outro filósofo da ciência. Normalmente em segundo
lugar está Thomas Kuhn, e é possível encontrar uma ou outra referência à
Feyerabend83. Não está sendo dito aqui que Popper é o principal ou o maior
filósofo da ciência que já existiu. A questão é infinitamente mais simples: dentre
os filósofos da ciência, Popper é o mais conhecido pelos biólogos que, quando
não fazem menção direta a ele, fazem menção ao seu critério de refutabilidade.
Isto de maneira nenhuma quer dizer que a biologia é popperiana, que ela segue
por conjecturas e refutações. No seu fazer científico talvez eles usem outras
metodologias, outras epistemologias que não a popperiana. Mas isso nos mostra
que, quando um biólogo pensa em filosofia da ciência, ele normalmente pensa em
Popper. Um apanhado de citações talvez clarifique o que afirmamos aqui:
Por razões que não são inteiramente claras para mim, ‘refutação’ parece ser a
palavra de ordem dos cientistas hoje em dia. A única verdadeira característica da
Ciência – eles todos repetem – é que ela poderia, possivelmente, levantar
implicações que seriam empiricamente falsas, implicando, logicamente, na
falsidade da própria teoria (Ruse, 1983, p.129).
Explicar, em lingüística, é relacionar fatos, infinitamente diversos, a um sistema
coerente de hipóteses falsificáveis (Martin, 2003, p.55).
Se uma afirmação não pode ser refutada, não pertence ao empreendimento da
ciência (Gould, 2003, p.190).
Dizem que os cientistas abandonam as teorias tão logo a experimentação as
contradiz (Margulis, 2002, p.79).
O filósofo da ciência Karl Popper (1968) propôs que uma teoria não é científica a
menos que possa ser refutada se estiver errada. (Futuyma, 2002, p.17).
Uma boa hipótese é a que prevê exatamente as características de um órgão e que
faz previsões testáveis (Ridley, 2006, p.298).
Há um problema de escala no que diz respeito ao teste de teorias ecológicas. De
fato, esse é o problema conceitual que mais preocupa os ecologistas. Alguns de
seus problemas parecem derivar de uma reverência excessiva a Karl Popper, mas
há algumas questões reais, também (Sterelny & Griffiths, 1999, p.277. Minha
tradução).
É preciso ter em mente que isso não passa de um pequeno apanhado das
referências a Popper e ao falsificacionismo que encontramos não só na filosofia da
biologia, mas entre os próprios biólogos e, como vimos, até entre os lingüistas.
83
Nos meus estudos não encontrei nenhuma referência à Laudan, Koyré e outros. Tendo
encontrado só uma referência à filosofia da ciência de Lakatos e algumas, sem muita relevância, à
de Whewell.
345
Não há muita dúvida da hegemonia da visão popperiana entre os cientistas,
principalmente biólogos. Mas não deixa de ser irônico que foi o próprio Popper
que quase relegou a teoria da evolução como um “programa de pesquisa
metafísico”, chegando a dizer sobre o princípio da evolução por seleção natural
que “poderíamos explicá-lo como algo ‘quase tautológico’; ou descrevê-lo como
lógica aplicada” (Popper, 1977, p.177). Antes mesmo de entrar nesta discussão
seria interessante que Popper, ou algum defensor seu, pudesse explicar o que
significa “quase tautológico”. Dado o rigor formalista da lógica, ser quase
tautológico não parece ser uma propriedade muito relevante. Mas não seguiremos
por este caminho aqui. De uma maneira ou de outra, o que ficou entendido é que
Popper considerou a teoria da evolução, principalmente em sua formulação
“sobrevivência dos mais aptos”, como uma tautologia. Nas palavras dele:
Cheguei à conclusão de que o darwinismo não é uma teoria científica testável, mas
um programa de pesquisa metafísico – um pano de fundo possível para teorias
testáveis. (Popper, 1976, p.171. Minha tradução).
Não entraremos em detalhes nesta discussão aqui, pois mais importante do
que saber se Popper estava certo ou não é saber se, entre a teoria evolucionista de
Darwin e o falsificacionismo de Popper, por que devemos escolher este e não
aquela? Segundo Popper o real problema estava na definição de “mais aptos”,
pois se o único modo de saber quem são os mais aptos é pela sobrevivência deles,
então estaríamos nos baseando no princípio da “sobrevivência dos sobreviventes”.
Do mesmo modo, se mais aptos significa um maior número de descendentes, e se
ser selecionado também significa deixar um maior número de descendentes, então
teríamos que “aqueles que deixam um maior número de descendentes deixam um
maior número de descendentes”.
No entanto, definir a aptidão como a capacidade de deixar um maior número
de descendentes é de fato uma definição corriqueira, mas simplesmente por causa
do seu valor heurístico. É mais simples e mais rápido defini-la assim, e cientistas
não são conhecidos pelo seu rigor conceitual, e nem precisam ser! Definições
rápidas só para abrir o terreno para o trabalho são praticamente universais nos
trabalhos científicos. “Ter um maior número de descendentes” não é a definição
de “mais apto”, é somente a sua conseqüência estatística, ou seja, normalmente os
mais aptos terão um maior número de descendentes. A reprodução é de fato o
346
nosso melhor guia de aptidão, mas não é a definição de aptidão. Como já vimos
exaustivamente, existem medidas de adaptação que não se baseiam no número de
proles, os ecologistas comportamentais normalmente utilizam muitas destas
medidas (seção 4.5). Além disso, efeitos como o da deriva genética,
principalmente o efeito do fundador, mostram claramente que os mais aptos nem
sempre são os sobreviventes (seção 1.1). Mooto Kimura, criador do neutralismo
na biologia, chegou até a brincar definindo a evolução como “sobrevivência dos
mais sortudos”.
Talvez o mais engraçado aqui, quase patético, é a curiosidade histórica:
Darwin não utilizou originalmente a expressão “sobrevivência dos mais aptos”,
mas sim seu correlato que é “seleção natural”. No entanto, a idéia de uma
“seleção” implica na idéia de um selecionador, e Darwin, querendo fazer um
contraponto à teologia natural então existente, que poderia colocar deus como este
selecionador, passou a usar a expressão “sobrevivência dos mais aptos” retirada
de Herbert Spencer:
Dei a este preceito, em virtude do qual uma variação, por mínima que seja, se
conserva e se perpetua, se for útil, a denominação de seleção natural, para indicar
as relações desta seleção com que o homem pode operar. Contudo, a expressão que
o sr. Herbert Spencer emprega, ‘a persistência do mais apto’, é mais exata e
algumas vezes mais cômoda (Darwin, 2004, p.76).
Ou seja, não é de se espantar que se encontre aqui uma tautologia, pois a
expressão “sobrevivência dos mais aptos” foi adotada justamente por ser um
sinônimo mais rigoroso de “seleção natural”! Uma não explica a outra, elas são
sinônimas e foi assim que as usaram. Por um acaso do destino, uma passou a ser
considerada como a explicação da outra. Na verdade, tudo não passa de uma
grande confusão quase cômica. Aptidão nunca foi definida como número de
descendentes, a não ser em definições apressadas que são perfeitamente aceitáveis
em ciência. Dawkins foi capaz de ver este problema quando disse:
O que nem Wallace nem Darwin puderam prever, entretanto, foi que a
“sobrevivência dos mais aptos” iria acabar gerando confusões ainda mais sérias do
que a noção de “seleção natural”. Um exemplo familiar disso é a tentativa,
redescoberta com avidez patética por sucessivas gerações de filósofos amadores,
mas também profissionais (“de intelecto tão aguçado que são incapazes de entender
o senso comum”?), de demonstrar que a teoria da seleção natural é uma tautologia
sem valor (uma variante interessante dessa tentativa é a alegação de que se trata de
uma teoria não-falsificável e, portanto, falsa!). De fato, a ilusão da tautologia deriva
inteiramente da frase “sobrevivência dos mais aptos”, e não da teoria mesma. O
347
argumento é um exemplo marcante da elevação das palavras acima da sua devida
posição (...) A adaptabilidade significa, em linhas gerais, a capacidade de
sobreviver e de se reproduzir, mas ela não havia sido definida e medida como
sendo um sinônimo exato do sucesso reprodutivo (Dawkins, 1999, p.180 – 181.
Minha tradução).
Hoje ninguém mais, a não ser, é claro, os criacionistas, defenderiam que a
teoria da evolução por seleção natural não é científica. Nem mesmo que não é
testável. Até Popper deu um passo atrás quando disse:
Anteriormente, descrevi a teoria como ‘quase tautológica’, e tentei explicar como a
teoria da seleção natural poderia ser intestável (como o é uma tautologia) mas,
mesmo assim, de grande interesse científico. Minha solução foi que a doutrina da
seleção natural é um programa de pesquisa metafísico de enorme sucesso. Ele
coloca problemas detalhados para diversos campos, e tenta nos dizer que o que é
que poderíamos esperar em termos de uma solução aceitável desses problemas.
Ainda acredito que a seleção natural funciona assim, como um programa de
pesquisa. Entretanto, mudei minha opinião a respeito da testabilidade do estatuto
lógico da teoria da seleção natural; e estou feliz com a oportunidade de poder fazer
uma reparação. Espero que essa minha retratação contribua um pouco para o
entendimento do estatuto da seleção natural (Popper, 1978, p.344. Minha tradução).
Mas nesta citação fica claro que ainda existe certo desconforto na retração
de Popper. Como veremos, de fato a epistemologia popperiana não é o melhor
modo de entender o darwinismo. Mas antes há um fato curioso, pois mesmo tendo
quase banido a teoria da evolução para fora da ciência, Popper era definitivamente
um de seus grandes admiradores, tendo elogiado esta teoria em inúmeros textos e,
mais interessante ainda, tendo desenvolvido sua epistemologia como uma
epistemologia evolucionária que em tudo se assemelha à memética. Nas palavras
de Popper:
(...) o crescimento de nosso conhecimento é o resultado de um processo
estritamente semelhante ao que Darwin chamou de ‘seleção natural’; isto é, a
seleção natural de hipóteses: nosso conhecimento consiste, a cada momento,
daquelas hipóteses que mostraram sua aptidão (comparativa) para sobreviver até
agora em sua luta pela existência, uma luta de competição que elimina aquelas
hipóteses que são incapazes.
Esta interpretação pode ser aplicada ao conhecimento animal, ao conhecimento précientífico e ao conhecimento científico (...)
Esta enunciação da situação pretende descrever como cresce realmente o
conhecimento. Não é para entender-se metaforicamente, embora sem dúvida faça
uso de metáforas. A teoria do conhecimento que desejo propor é uma teoria
amplamente darwiniana do crescimento do conhecimento. Desde a ameba até
Einstein, o crescimento do conhecimento é sempre o mesmo: tentamos resolver
nossos problemas e obter, por um processo de eliminação, algo que se aproxima da
adequação em nossas soluções experimentais (Popper, 1975, p.238 - 239).
348
É uma questão se Popper realmente levava a sério esta analogia, ou se ela
era só “metafórica”. Esta citação mostra bem que ele varia entre as duas.
Campbell, o pai da epistemologia evolucionária, já era mais comprometido com o
darwinismo. No entanto, isso não é relevante aqui, e nem mesmo a epistemologia
evolucionária será estudada a fundo, pois ou ela é só uma mera metáfora que não
interessará para o que se segue, ou então deve ser levada a sério e pode ser
considerada como memética propriamente dita. Popper parece ter considerado
algo como o que foi chamado posteriormente de darwinismo universal, mas ele
chamou de lógica situacional e propôs que isso explicaria a semelhança de sua
teoria com a evolução darwiniana:
Se é aceitável a concepção da teoria darwiniana como lógica situacional, então
poderemos explicar a estranha semelhança entre minha teoria acerca do
crescimento do saber e o darwinismo: ambas seriam exemplos de lógica situacional
(Popper, 1977, p.179)
Ambas seriam, então, exemplos de uma estrutura lógica mais profunda. O
curioso aqui é que se isto é verdade, as críticas que foram feitas a Darwin
deveriam ter sido feitas à sua própria teoria, mas ele não considerava a sua
epistemologia como uma “tautologia vazia de sentido”.
Tendo visto que as críticas de Popper, dentro do próprio sistema deste, não
se aplicam à teoria da evolução como ele mesmo considerava, é preciso passar
para um tema muito mais delicado. Independentemente da teoria da evolução ser
falsificável ou não, há ainda um problema de maior relevância que é se devemos
realmente nos preocupar com isso, ou seja, se a epistemologia popperiana é
adequada para entender o que acontece dentro da biologia.
9.6
Popper na Biologia
Existem claros problemas quando se tenta aplicar Popper à biologia,
principalmente à biologia evolutiva. O critério da refutação simplesmente não
parece tão útil quando se está trabalhando com o pensamento populacional, e a
sua visão sobre como a matemática deve ser usada, e o papel das exceções na
biologia. Para permanecer no famoso exemplo de Popper, nenhum biólogo que
349
tivesse utilizado o caractere “ser branco” para classificar a espécie “cisne” se
desesperaria ao encontrar um cisne negro. Cores, de fato, normalmente não são
bons caracteres definidores, dado o fato de que o melanismo e o albinismo podem
ser encontrados em muitos animais. Mas este não é o problema. A questão é que a
classificação é feita de maneira estatística, então algo que foge a regra não é
considerado como uma refutação imediata. Mayr expõe isso claramente:
É por isso que o princípio da falseabilidade de Popper em geral não pode ser
aplicado em biologia evolucionista, porque as exceções não falseiam a validade
geral da maioria das regularidades (Mayr, 2005, p.109).
É importante perceber que este não é bem um problema da biologia, pois
sempre que um conjunto for definido como uma regularidade dentro de um
método estatístico é esperado que ocorram exceções. Métodos estatísticos não
dizem que “todo o x é y”, mas sim que “praticamente todos os x são
suficientemente y para serem considerados y”. Vimos que as confusões provindas
de não compreenderem isso não dizem respeito só aos lógicos e filósofos, mas até
mesmo na antropologia, pois muitas vezes eles tentam criticar o universalismo da
natureza humana, proposto por sociobiólogos e psicólogos evolucionários, com
eventos singulares do tipo “não existe instinto de sobrevivência e a prova disso
são os kamikazes japoneses” (capítulo 5). Tal problema nos coloca uma questão
difícil que deve ser encarada de frente. Se um fato contrário não refuta uma
regularidade estatística, o que a refutaria então?
Em primeiro lugar é preciso rever o que está sendo chamado de “fato
contrário”. A própria noção do que é um “fato biológico” deve ser entendida
dentro deste contexto mais geral que é o pensamento populacional. “Em ciência
‘fato’ só pode significar ‘confirmado a tal ponto que seria perverso suprimir uma
concordância provisória com ele” (Gould 1992, p.255). Se a regularidade proposta
não é nada mais do que uma regularidade, então não faz muito sentido afirmar que
um único fato seria contrário a ela, pois em momento nenhum foi dito que todos
os fatos lhe apoiariam. Por isso, exceções não lhe são, a rigor, contrárias. Além
disso, deve haver uma explicação para tais exceções que diga o porquê delas
serem exceções. Se nasce um cisne negro em uma espécie que só tinha cisnes
brancos, deve haver um motivo para isso, e tal motivo pode ser testado. Ele pode
ter um único problema que lhe causou uma “deformidade” em relação aos
350
outros84. Inclusive, se for uma mutação recessiva, é bem provável que seus filhos
sejam todos brancos e que só apareçam netos negros se os filhos se reproduzirem
entre si. Não parece razoável considerar refutada uma regra que tem tamanho
sucesso só por causa de um único indivíduo!
Mas isso de maneira nenhuma faz de tal regra algo irrefutável. Ela pode sim
estar errada por várias razões, sendo que a mais comum é que na verdade existam
muitos outros cisnes negros. Desde que exista um número estatisticamente
relevante de cisnes negros, então a regra é falsa. É importante notar que não se
está seguindo aqui por um tipo de verificacionismo ou indução. Não é uma
questão de quantos indivíduos precisamos para comprovar uma regra e sim de
qual a percentagem em relação à população total que precisamos para refutar tal
regra. Uma espécie de falibilismo estatístico.
No entanto, para infelicidade de muitos, não existe um critério rígido que
diga qual porcentagem de uma população é considerada “estatisticamente
relevante” para se refutar uma regra. Não se deve sequer tentar buscar tal critério.
Isso será sempre controverso. Vai variar pelo método estatístico, vai variar
dependendo de quão importante um determinado caractere é considerado como
definidor da espécie, vai variar se aquele caractere vai sumir ou vai se espalhar, e
vai variar até mesmo em relação à capacidade de cada cientista de suportar
exceções. A ciência, como já dissemos, é antes de mais nada uma empreitada
humana.
Casos como esses acontecem sempre na biologia quando se discute se duas
espécies são só duas variações de uma mesma população ou são espécies irmãs já
separadas. E o ponto principal é que não há absolutamente diferença alguma entre
duas espécies irmãs bem próximas e duas variedades bem distantes de uma
mesma espécie. Buscar tal critério, como já vimos, é buscar por algo que não
existe, melhor é se acostumar com isso.
Vemos que a visão apresentada aqui do evolucionismo é radicalmente
diferente daquela apresentada por Popper. Ao considerá-la como uma “quase
tautologia” Popper a coloca como algo praticamente sem relação nenhuma com o
mundo empírico. A tautologia não afirma e nem nega absolutamente nada sobre o
84
Sempre lembrando que dentro do pensamento populacional não há, no sentido rigoroso do
termo, “deformidades”, “erros” e coisa do tipo, somente variações e mutações.
351
mundo, não tem nem mesmo valor explicativo. Mas a biologia parece ser
justamente oposta a isso, pois trata do mundo de uma maneira tão direta, tão
próxima, que as categorias que estamos acostumados a usar simplesmente não dão
conta. Nada representa melhor isso do que as espécies anel: há algo de
incompreensível nelas, algo que simplesmente não é bem aceito pelo nosso modo
de pensar. No entanto, somos como que empiricamente forçados a aceitar a sua
existência, por mais “cognitivamente doloroso” que isso seja. Isso só parece
acontecer de novo na física quântica e na relatividade, onde os resultados obtidos
simplesmente não parecem se adequar bem com as nossas intuições (cf. Greene,
2001 & Einstein, 1999 & Heisenberg, 1962). Talvez o “problema” do pensamento
populacional não seja a sua distância do mundo, mas sim a sua proximidade.
O próprio fato de não existirem leis biológicas nos mostra que a biologia não
está preocupada com asserções universais e necessárias, ela estuda este mundo,
nosso mundo, contingente, particular, único. Ela não busca o universal, está
preocupada com este mundo empírico particular. Está próxima dele. Se o
darwinismo universal, que está sendo defendido neste trabalho, estiver errado,
nada muda na biologia. Para a biologia, muito mais importante, e muito mais
explicativo, do que leis são os conceitos. Nas palavras de Mayr:
Devido à natureza probabilísticas da maioria das generalizações em biologia
evolucionista, é impossível aplicar o método da falsificação de Popper para teste de
teorias, porque o caso particular de uma aparente refutação de determinada lei pode
não ser mais que uma exceção, como é comum em biologia. A maioria das teorias
em biologia não se baseia em leis, mas em conceitos. (Mayr, 2005, p.44)
Vários exemplos de tais conceitos já foram dados: gene egoísta, seleção
sexual, isolamento geográfico, simbiose, seleção natural, filogenia, população,
biodiversidade, ecossistema etc. E ao contrário de serem tautologias sem sentido,
eles são todos extremamente explicativos. Na verdade, eles são as melhores
explicações que temos até agora para uma diversidade enorme de eventos.
Explicações sem a necessidade de leis. E o que mais é possível querer do que
nossas “melhores explicações”? Tais conceitos são aceitos ou não pela
comunidade científica justamente pelo seu poder explicativo, justamente por
poder dar conta do maior número de fatos possível de uma maneira clara e direta.
A biologia, mais do que qualquer outra, é uma ciência que constrói visões de
mundo. Nas palavras de Dawkins:
352
O fenótipo estendido pode não constituir uma hipótese testável em si mesma, mas
ele altera de tal forma a maneira como vemos os animais e as plantas, que pode nos
fazer pensar em hipóteses testáveis com as quais, de outro modo, nunca teríamos
sequer sonhado (...) D’Arcy Thompson sugeriu que se dissesse “e daí?” para
qualquer um que fosse suficientemente fastidioso para sugerir que a ciência só
avança através da falsificação de hipóteses específicas (...) é possível que valha a
pena ler um livro teórico mesmo que ele não avance hipóteses testáveis mas
procure, ao contrário, mudar nossa maneira de ver (Dawkins, 1999, p.2. Minha
tradução).
Não é uma questão de negar a testabilidade, mas sim de colocá-la em seu
devido lugar. Experimentos são de extrema importância em todas as ciências e a
biologia não é exceção. São realizados experimentos em todas as áreas da
biologia, inclusive naquelas diretamente relacionadas com a evolução por seleção
natural. Como já vimos anteriormente, já foi possível comprovar o poder da
seleção natural tanto por observação quanto por testes em laboratório (seção 1.3).
Cada vez mais também a modelagem matemática se une à biologia na criação de
hipóteses mais rigorosas que possam ser testadas em laboratórios ou postas à
prova na observação. A biologia é uma ciência empírica sem dúvida alguma. Mas
ela vai mais além ao estudar aquilo que não pode ser diretamente testado, mas é
indubitavelmente empírico, a saber, a história.
9.7
Ciências Históricas
Como já vimos logo no primeiro capítulo desta Tese, Mayr separa a biologia
entre funcional e histórica. Já Dobzhansky nos diz que toda a biologia só faz
sentido à luz da evolução. Com isso ele não está querendo dizer que um
anatomista precisa saber a história de cada órgão para realizar seu trabalho. No
entanto, ele deve saber que cada órgão que ele estuda tem uma história particular e
que só é do modo que é por causa desta história. Como já vimos, a teoria da
evolução procede criando narrativas históricas, com base nos dados empíricos
encontrados, que expliquem como os seres vivos e todas as suas estruturas
chegaram a ser como são hoje.
353
Esta é uma das grandes diferenças entre o fazer científico da biologia e o da
física e química. Pois ao invés de se preocupar com leis gerais e universais, que
não são elas mesmas empíricas ou observáveis, somente os seus efeitos, a biologia
evolutiva trata de eventos históricos, singulares, perfeitamente empíricos e que
não podem ser observados agora, mas poderiam ser claramente observados
quando estavam acontecendo. Mais uma mostra de como a biologia se relaciona
de maneira bem próxima com o mundo empírico.
No entanto, esta forma de discutir o mundo, ou melhor, estas novas questões
sobre o mundo empírico, como Feyerabend muito bem previu, exigem um novo
método, uma nova forma de se tratar a ciência. Tal método talvez seja a grande
fuga realizada pela biologia do padrão que era considerado definidor das ciências
exatas. A biologia teve que buscar o método histórico que era encontrado
principalmente nas ciências humanas. Nas sábias palavras de Mayr:
A metodologia de narrativas históricas é claramente uma metodologia de ciência
histórica. Com efeito, a biologia evolutiva, como ciência, em muitos aspectos é
mais similar às Geisteswissenschaften85 do que às ciências exatas. Se traçada a
linha divisória entre as ciências exatas e as Geisteswissenschaften, tal linha cortaria
a biologia bem ao meio e anexaria a biologia funcional às ciências exatas, ao
mesmo tempo que classificaria a biologia evolucionista entre as
Geisteswissenschaften. A propósito, isso revela a fraqueza da velha classificação
das ciências, que foi feita por filósofos familiarizados com as ciências físicas e as
humanidades, mas que ignoravam a biologia (Mayr, 2005, p.49).
Tal citação de Mayr já fala praticamente tudo o que precisava ser dito: não
só o evolucionismo é eminentemente histórico, como deixá-lo de considerar como
uma ciência exata para considerá-lo como humana só poderia acontecer devido a
uma ignorância com respeito à biologia. Ou melhor, com “falta de respeito” à
biologia. Mais uma vez nos vemos na batalha com lorde Kelvin: ou mantemos as
divisões com que estávamos acostumados e retiramos a parte mais fundamental da
biologia das ciências exatas, ou percebemos que nossas antigas divisões já não
fazem mais sentido algum e devem ser abandonadas. Dada tal “escolha de Sofia”
será difícil encontrar algum filósofo com coragem de dizer que a teoria da
evolução, como todos os seus grandes feitos, é menos exata do que, digamos, a
fisiologia! O fato é que a biologia evolutiva deve ser considerada uma ciência
exata e histórica. Esta divisão tradicional não pode mais ser considerada como
85
“Ciências do espírito” em oposição a Naturswissenschaften, ou “ciências da natureza”. Uma
divisão que realmente só poderia ter sido feita quando o “espírito” não fazia parte da “natureza”!
354
excludente. Tratá-la exclusivamente como uma ciência exata ou exclusivamente
como um ciência histórica seria desrespeitar a sua metodologia. Algo muito
semelhante acontece com a cosmologia.
Pensar na biologia como divida em duas é uma análise pobre, ela não está
cortada ao meio por uma linha divisória entre as ciências físicas e as ciências
históricas. Na verdade, ela trouxe a história para dentro das ciências exatas. Fazer
narrativas históricas que se adequem bem aos dados existentes deve ser
considerado tão científico quanto fazer um experimento. O modo como o mundo é
hoje depende dos detalhes históricos. Quanto menor a população, maior o papel
do acaso, por isso contingências históricas devem fazer parte de explicações
científicas. A ciência deve trabalhar também com as particularidades de cada
história. Nas palavras de Gould:
A ciência das coisas historicamente complexas é uma empreitada diferente, e não
menor. Procura explicar o passado e não se preocupa em predizer o futuro. Busca
princípios e as regularidades subjacentes à singularidade de cada espécie e à
interação, valorizando essa singularidade e descrevendo-a em toda a sua glória. As
noções de ciência precisam dobrar-se (e expandir-se) para acomodar a vida (Gould,
1992, p.65).
Logo de início fica claro que não é possível fazer experimentos históricos. O
que aconteceu, já aconteceu e não vai acontecer de novo. Eles são irrepetíveis.
Além disso, embora sejam fatos observáveis, normalmente eles não foram
observados enquanto aconteciam e, a não ser que alguém tenha uma máquina do
tempo, não serão observados nunca. Por não ser possível observar, fazer
experimentos, repetir experimentos e testar, deveríamos, segundo o modelo
padrão da epistemologia das ciências exatas, simplesmente desistir de tratar de
tais fatos cientificamente. Mas ao invés de desistir a biologia amplia os horizontes
da ciência e trabalha rigorosamente com os fatos históricos.
Ela faz isso de maneira intrigante, pois lida com fatos históricos utilizando
um conceito que já é um velho conhecido da física: a previsão. Só que no caso,
não se prevê o futuro, mas sim o passado. São utilizadas leis (físicas e químicas),
modelos (matemáticos) e regularidades (biológicas) não para descobrir o que vai
acontecer, mas para descobrir o que já aconteceu. Por se tratar de uma ciência
empírica, tais previsões têm que ser capazes de dar conta de todos, ou da maioria,
dos dados empíricos que temos disponíveis atualmente. O surgimento de novos
355
dados podem sugerir novos modelos, assim como novos testes podem colocar em
dúvida testes anteriores.
Quanto às previsões que dizem respeito ao futuro, embora elas sejam
possíveis em pequena escala, e com uma margem de erro aceitável, dificilmente
será atingido o nível de previsão que a física tem. Podemos, por exemplo, saber
que o uso do mesmo pesticida se tornará menos eficaz com o tempo, mas
exatamente qual mutação ocorrerá para permitir a adaptação de um determinado
inseto a um determinado pesticida é praticamente impossível prever. Em primeiro
lugar, existem muitos fatores em jogo e, como já vimos, grandes evoluções podem
ocorrer com uma pequena pressão seletiva se lhe for dado o tempo de agir.
“Conseqüências substanciais têm origem em fatos absolutamente irrelevantes”
(Gould, 2003, p.360). Isso significa que pequenas variáveis podem ocasionar
grandes mudanças. Mesmo se forem utilizados modelos não-lineares ainda assim
é muito difícil, quase impossível, saber quais são os fatores mais relevantes para
aquele processo de mudança. A biologia mostrou que a ciência não deve tratar só
do que é necessário, mas estudar também aquilo que é contingente.
Ao trabalhar com contingências é esperado que não exista um papel muito
grande para a predição. Os tipos mais comuns de previsões que podem ser feitas
são exemplificadas por uma previsão que Darwin fez: ele viu o formato particular,
fino e extremamente longo (até 45 cm), da orquídea Angraecum sesquipedale e
previu que deveria haver um polinizador especializado com uma longa língua. Em
1997, Wasserthal confirmou que mariposas esfingídeas, com línguas muito
longas, podiam polinizar tal orquídea (Ridley, 2006, p.637). Vimos também o
caso dos ratos subterrâneos pelados que foi previsto por R. D. Alexander (seção
4.3). Todas estas previsões se apóiam basicamente na idéia de que se há um nicho,
há algum ser vivo ocupando este nicho. Pode-se inclusive fazer testes baseados
nestas previsões, mas sempre é necessário tratar de seres vivos que tem uma
geração pequena e que, de preferência, estejam sujeitos a fortes pressões seletivas.
Deste modo é possível prever e testar a seleção natural em ação em laboratórios e
até na natureza, mas são poucos os casos em que isso pode ser feito. Além disso,
estas previsões não podem nos falar exatamente como um determinado evento
histórico de fato aconteceu. Deve-se lembrar que a questão aqui não é uma
oposição entre os métodos da física e da biologia, e sim uma diferença de
356
enfoque: o conceito de previsão existe em ambas, mas não é tão essencial para a
biologia quanto é para a física.
O caso da medição do tamanho do bico de determinados pássaros, que
vimos no início do primeiro capítulo como a forma de medir o coeficiente de
seleção s (seção 1.1), de fato foi realizado com os tentilhões de galápagos, as
mesmas espécies que tinham sido coletadas por Darwin. Foi possível ver a seleção
agindo conforme o índice pluviométrico variava, causando uma variação nas
sementes que, por sua vez, era a força seletiva que causava a variação nos bicos
dos tentilhões. Com estes dados era possível fazer previsões e confirmá-las (cf.
Weiner, 1995). No entanto, algo importante deve ser notado aqui: as previsões
feitas foram confirmadas, mas era perfeitamente possível que os tentilhões não
tivessem se adaptado e tivessem simplesmente se extinguido. Era também
possível que ao invés de uma mudança no tamanho e formato dos bicos eles
tivessem aprendido uma nova técnica de abrir as sementes, ou mudado a sua
alimentação. Nestes casos, as previsões não teriam sido confirmadas. Mas ao
contrário da física, previsões não confirmadas na biologia são tratadas como algo
natural.
Isto significa que mesmo em uma situação bem controlada, a previsão do
futuro pode ser extremamente difícil. O motivo é simples, as mutações são
aleatórias, elas podem surgir em qualquer lugar como também podem nunca
acontecer. Não há como prever se uma mutação vai ocorrer ou não, nem qual
mutação será e até mesmo qual será o exato efeito fenotípico dela. De uma
maneira geral, estamos lidando com uma situação muito mais complexa do que na
física, sem nenhuma lei que direcione a mudança, com infindáveis variáveis que
podem ser significativas ou não, com o acaso no surgimento das mutações e, para
piorar, o acaso de novo na própria história evolutiva. Afinal de contas, logo aquele
inseto que nasceu com uma mutação que o tornará resistente ao pesticida pode
muito bem cair na água, ou ser comido por um pássaro, um carro pode passar por
cima dele ou, quem sabe, até mesmo um gigantesco meteoro pode transformar o
inseto, a plantação, o pesticida e os cientistas em poeira. O que nos mostra mais
uma vez que “sobreviver” e “ser mais apto” não é exatamente a mesma coisa.
Sempre haverá contingências históricas:
357
Conhecido o resultado, a longa história evolutiva que precedeu qualquer adaptação
complexa atual parecerá uma série improvável de acidentes: o mesmo ponto é tão
verdadeiro para a história da humanidade quanto para a seleção (Ridley, 2006,
p.291).
Dada tamanha complexidade, e dada a força do acaso, não é de se espantar
que previsões só raramente sejam feitas. Mas isso em nada diminui a sua
cientificidade, pois o seu caráter explicativo permanece inalterado. Por isso, a
maioria das previsões não são voltadas para o futuro, mas sim para o passado, que
na verdade é tão desconhecido quanto o futuro. É sempre possível trabalhar com
as evidências do passado com o mesmo empenho com que se trata as observações
do futuro. Mais uma vez nas palavras de Mayr:
Na biologia evolucionista o teste das narrativas históricas e a comparação de
evidências variadas são os métodos mais importantes. Essa disciplina é empregada
nas ciências fisicalistas apenas por algumas disciplinas históricas, como a geologia
e a cosmologia (Mayr, 2005, p.49).
Para remediar esta reconhecida falta que fazem os experimentos, a biologia
utiliza o maior número de evidências remanescentes possíveis. A idéia por detrás
disso é que quanto mais evidências apontam para um mesmo caminho histórico,
mais podemos estar certo dele. Embora pareça indutivista, não é, pois tais
evidências não comprovam nada, elas apenas auxiliam na construção de hipóteses.
A ciência permanece, como Popper queria, provisória e conjectural, pois a
qualquer momento um novo dado pode abalar toda a estrutura que tinha sido
montada até então. Sabe-se que Haldane, por exemplo, gostava de falar que se
encontrássemos um coelho pré-cambriano ele abdicaria da teoria da evolução. Ele
faria isso porque todos os dados que temos dizem que não existiam mamíferos
nesta época. Nem ele, nem ninguém, estava presente naquela época para ser capaz
de fazer uma expedição em busca de coelhos pré-cambrianos, mas ele pode inferir
tal ausência porque está baseado em todos os dados paleontológicos que temos até
hoje.
Todas as ciências históricas baseiam-se na inferência, e nesse aspecto a evolução
não é diferente da geologia, da cosmologia ou da história dos humanos. Por
princípio, não podemos observar processos que aconteceram no passado. Devemos
inferi-los dos resultados que ainda nos rodeiam: organismos vivos e fósseis, para a
evolução; documentos e artefatos, para a história humana; camadas e topografia,
para a geologia (Gould, 1992, p.257 -258)
358
Esta citação de Gould é importante porque é ele o maior crítico do
Panglossianismo na biologia, ou seja, crítico da construção de narrativas históricas
sem fundamentação empírica. Mas mesmo o seu maior crítico não pode negar
que, para o bem ou para o mal, não há biologia evolutiva sem narrativas
históricas. É claro que devemos concordar com Gould que tais narrativas só têm
valor científico se forem bem embasadas empiricamente. Mas a questão no
momento é apenas perceber que a biologia evolutiva busca criar tais narrativas.
9.8
Quanto Mais, Melhor!
Com o intuito de deixar tais narrativas históricas cada vez mais robustas e
mais críveis, uma metodologia ampliada tem se tornado mais comum. Utilizam-se
não só os dados da biologia na construção de tais histórias, mas também os da
física, da química, da geologia e até mesmo da antropologia, neurociências,
arqueologia, lingüística e tudo mais que for capaz de nos dizer qualquer coisa
sobre o passado. Em um claro estilo de “quanto mais, melhor” defende-se que se
diferentes
áreas,
com
diferentes
pressupostos,
diferentes
metodologias,
trabalhando com diferentes dados empíricos, puderem chegar todas à mesma
conclusão, ou puderem se auxiliar na construção coerente de uma só história
evolutiva, então podemos ter mais segurança de que novos dados refutadores não
irão aparecer. Embora seja óbvio de que não há garantias aqui, refutações sempre
podem acontecer. Empreitadas como estas são talvez os mais trabalhados
exemplos do que há de melhor que os seres humanos podem fazer em
comunidades científicas. Uma verdadeira união de dezenas de áreas distintas, às
vezes com centenas de pesquisadores, para tentar descobrir, por exemplo, quando
um determinado dente surgiu em um marsupial. E, como já foi dito várias vezes
aqui, não devemos esperar da ciência nada mais, e também nada menos, do que o
melhor que os cientistas podem fazer. Os próprios biólogos já são versados em
usar os mais variados tipos de pesquisas em sua área:
359
Os biólogos evolucionistas trabalham com materiais tão diversos como compostos
químicos puros em tubos de ensaio, comportamento animal na selva ou fósseis
coletados de rochas inóspitas e estéreis (Ridley, 2006, p.28).
Mas se eles puderem se reunir com outras áreas da ciência, podem
considerar suas pesquisas ainda melhor fundamentadas. Um exemplo já antigo de
como isso funciona é a teoria da vicariância, que faz parte da biogeografia. Sabese que os continentes se separaram, e também já se uniram, como aconteceu na
união das Américas. Sabe-se também que a separação geográfica tende a
ocasionar a separação entre espécies, pois mutações que acontecem em uma
população não acontecem na outra e, com o tempo, perde-se a possibilidade de
intercruzamento. A teoria da vicariância estuda justamente esta relação entre
teoria da evolução e geologia.
Vários eventos são previstos pela teoria da vicariância. Por exemplo, se for
feito um cladograma (filogenia) de uma espécie que vivia em um continente que
se separou, é esperado que ela tenha se dividido em duas espécies logo depois da
separação dos continentes. Métodos de datação de fósseis, assim como o método
do relógio molecular podem nos dizer aproximadamente quando houve a tal
separação das espécies. Este resultado pode ser contrastado com os resultados da
geologia que indicam quando os continentes se separaram. Nas palavras de
Ridley:
Se as sucessivas divisões na filogenia fossem dirigidas por sucessivas
fragmentações de terra, a filogenia estaria relacionada com uma seqüência definida
de eventos tectônicos (Ridley, 2006, p.530).
As análises até agora têm encontrado sucesso na congruência de tais
filogenias, mostrando que podemos chegar ao mesmo resultado de duas maneiras
completamente diferentes. O mesmo tem ocorrido com uma outra hipótese da
vicariância que diz que espécies que viviam em um mesmo continente que se
dividiu terão todas as mesmas divisões no seu cladograma que indicam que todas
elas sofreram um evento de especiação logo após a divisão dos continentes.
Grandes mudanças evolutivas também são esperadas quando continentes
separados se encontram, e foi o que de fato aconteceu no Grande Intercâmbio
Americano, quando as Américas se uniram. Mais uma prova de que os dados
geológicos estão em perfeita sintonia com os dados evolutivos.
360
As relações entre a teoria da evolução e a geologia já é uma notícia antiga,
inclusive Charles Lyell era um grande amigo de Darwin. Mas novas uniões entre
diferentes áreas estão acontecendo, algumas vezes de forma surpreendente. O alce
gigante irlandês (Megaloceros giganteus) que viveu entre 400 mil e 10 mil anos
atrás, provavelmente tinha uma corcova. Sabemos disso não porque tais corcovas
foram preservadas no registro fóssil, mas porque elas foram pintadas nas paredes
das cavernas pelos nossos antepassados. Soma-se a isso algumas evidências
anatômicas provenientes do estudo de alces modernos e temos parte da história
evolutiva deste animal, com corcova e tudo (cf. Gould, 2003, p.221).
Outros exemplos ainda poderiam ser dados. Uma discrepância na evolução
dos pentastomídeos (parasitas que vivem em vertebrados), que indicava uma taxa
exagerada de evolução, foi resolvida utilizando dados concordantes da biologia
molecular e das evidências fósseis (cf. Gould, 1997, p.156). A hidrodinâmica é
usada para compreender a forma dos peixes, enquanto a engenharia civil é usada
para entender a espessura das conchas em moluscos (cf. Ridley, 2006, p.298).
“Certos tipos de conchas são indicadores tão confiáveis da idade das rochas que
estão entre os principais indicadores usados na prospecção de petróleo” (Dawkins
2001, p.332). A datação das rochas pode ser feita por métodos físicos e também
pela simples observação de seus fósseis.
O uso de múltiplas regularidades estatísticas no lugar de leis não deve ser
visto como uma aceitação completa da indução. Não é a questão de que o acúmulo
de fatos particulares nos leva ao “fato geral”, ou lei, mas é, na verdade, a aceitação
de que nós nunca chegamos ao fato geral. Nunca passamos da probabilidade de
que algo aconteça para a necessidade de que algo aconteça. Daí os fatos
particulares serem o que de melhor podemos obter e, deste modo, nada melhor do
que unir o máximo possível deles em uma explicação coerente. Obter o máximo
possível de dados empíricos, das fontes mais diferentes possíveis, apontando
todos, ou quase todos, para uma mesma explicação, é um método científico há
muito aprovado e utilizado regularmente em diversas áreas científicas. Não é uma
questão de que não conseguimos mais achar as leis, e sim que deixamos de
procurá-las. Ou melhor, nem mais acreditamos que elas existam nestas áreas. Não
há leis históricas86.
86
Para a infelicidade de Marx, Hegel e tantos outros.
361
Acaso, singularidade, probabilidade, estatística, conceitos, contingências,
regularidade, indivíduo, história, multidisciplinaridade, todos estes conceitos
simplesmente não podem mais estar ausentes de uma filosofia da ciência que
pretenda dar conta do que chamamos de ciência no século XX e XXI. Eles têm
que fazer parte do dia a dia de qualquer epistemólogo dentro de sua própria
definição do que é ciência e de como ela procede. O filósofo que não aceitar isso
deve ser considerado como fazendo filosofia da ciência do século XVIII. De
maneira nenhuma ele precisa dispensar os conceitos como o de lei,
universalidade, experimento etc. que usava anteriormente, mas precisa expandir
sua abordagem se ainda quer falar de ciência.
9.9
Uma Mão Corrige a Outra: Willian Whewell e a Palaetiologia
Ignorar a ciência como disciplina histórica que visa predizer o que
aconteceu, e não o que vai acontecer no futuro, não é só ignorar a biologia
evolutiva, é ignorar a geologia, a cosmologia, a paleontologia, a arqueologia, a
antropologia e, porque não, a lingüística diacrônica, a filologia, a história, até
mesmo a meteorologia etc. Ou seja, é simplesmente inaceitável. Até mesmo
Popper, já aposentado e perto da morte, teve que reconhecer a importância das
ciências históricas:
Há quem acredite que eu tentei negar o caráter científico de ciências históricas tais
como a paleontologia, ou a história da evolução da vida na Terra; ou, por exemplo,
a história da literatura, da tecnologia, ou da ciência. É um engano. Desejo afirmar,
aqui, que essas e outras ciências históricas possuem, em minha opinião, caráter
científico; suas hipóteses podem, em muitos casos, ser testadas (Popper, 1980.
Minha tradução).
Mas nesta época o estrago já estava feito e ele não foi capaz de perceber que
grande parte deste estrago tinha sido justamente por causa da sua visão do que é
testar uma teoria e de qual o papel que tal teste deve tomar. No entanto, como
sempre acontece, e como Feyerabend dizia, a ciência simplesmente seguiu seu
curso muitas vezes ignorando os critérios normativos apresentados pelos
epistemólogos. Uma nova era de estudos surgiu, uma era onde diferentes ciências
362
trabalham juntas, muitas vezes com o intuito de estudar o que aconteceu no
passado.
As pesquisas do antropogeneticista Cavalli-Sforza talvez sejam o melhor
exemplo do tipo de pesquisa de ponta que está sendo realizada deste modo. Já
apresentamos suas pesquisas e como ele une a genética aos dados provenientes
principalmente da antropologia, da arqueologia e da lingüística (seção 4.9). Mas
aqui mais importante do que isso é a perfeita consciência que ele tem sobre este
novo método de se fazer ciência. Ele deixa claro sua metodologia logo no
primeiro parágrafo de seu livro:
Esse livro examina as pesquisas sobre evolução humana nas diferentes áreas de
estudo que contribuem para o nosso conhecimento. É a história dos últimos 100 mil
anos que recorre à arqueologia, à genética e à lingüística. É com alegria que vemos
essas três disciplinas gerarem novos dados e novas percepções. Podemos esperar
que todas convergirão em uma teoria comum, e subjacente a ela deve haver uma só
história. Isoladamente, cada abordagem apresenta muitas lacunas, mas é de esperar
que a síntese das três ajude a eliminá-las. Outras ciências – a antropologia cultural,
a demografia, a economia, a ecologia, a sociologia – estão se unindo nesse esforço
e, com justiça, se tornando pilares de interpretação (Cavalli-Sforza, 2003, p.7).
Como ele bem sabe, no estudo da história não há repetição experimental,
este é o motivo pelo qual Cavalli-Sforza privilegia a abordagem multidisciplinar,
pois podemos estudar o mesmo fenômeno de vários ângulos, a partir de várias
disciplinas, utilizando fatos independentes que, neste caso, “tem valor básico
similar ao de uma repetição independente” (Cavalli-Sforza, 2003, p.8). Ao
trabalhar deste modo chega até a reconhecer a “unidade das ciências e de seus
procedimentos” (Cavalli-Sforza, 2003, p.53).
Utilizando os dados e métodos da genética, da antropologia e da lingüística
chega-se a um mesmo resultado sobre como a história do ser humano se deu. O
que era esperado, pois só há uma história a ser contada, se houver divergência
entre as várias análises deve haver algo de errado. E quanto mais disciplinas
diferentes convergirem para uma mesma história, mais tranqüilidade podemos ter
em aceitá-la. Não é possível fazer experimentos, mas trabalhando deste modo uma
fonte checa a outra.
Falamos que tal forma de fazer ciência é nova. Mas na verdade ela é pelo
menos tão antiga quanto Darwin. Como já foi dito, antes de Darwin já existia
biologia, mas ela estava separada, sem um princípio que a unificasse em um todo
coeso dentro de um mesmo princípio explicativo. Pois talvez tão importante
363
quanto a descoberta da evolução por seleção natural tenha sido o poder desta
teoria em unir as mais variadas disciplinas da biologia em torno dela. Darwin fez
um uso extenso de várias disciplinas biológicas e mostrou como com a teoria da
seleção natural todas elas contavam a mesma história. Ele mostrou que todas
apontavam na mesma direção e que o que estava no alvo apontado era a teoria da
seleção natural. Segundo Michael Ruse, ele pode ter procedido assim pela
influência do então filosofo da ciência William Whewell (1794 – 1866):
Whewell argumentou que a ciência, em sua melhor forma, se esforça por juntar sob
um princípio unificado vários diferentes campos de inquirição. Essa integração, que
Whewell chamou de uma ‘concordância de induções’, funciona de duas maneiras.
Por um lado, o princípio unificador lança uma luz esclarecedora sobre as várias
sub-áreas. Por outro, as sub-áreas se combinam para dar crédito ao princípio
unificador. Realmente, argumenta Whewell, podemos assim confiar na verdade do
princípio, mesmo que não haja prova sensorial direta. A semelhança do que ocorre
no tribunal, quando a culpa é determinada indiretamente por meio de provas
circunstanciais, também na ciência passamos além da especulação através,
indiretamente, de suas provas circunstanciais (Ruse, 1995, p.18).
Vemos como Whewell parece estar em maior acordo com a ciência
contemporânea do que muitos contemporâneos. É claro que a crítica de Popper ao
indutivismo deve ser levada em consideração se queremos “reviver” Whewell. No
entanto, como já mostramos aqui, é perfeitamente possível entender esta
concordância, ou melhor, consciliência de induções como uma forma de se fazer
ciência. Nas palavras do próprio Whewell:
Os casos nos quais as induções a partir de classes de fatos diferentes reúnem-se
num salto pertencem apenas às melhores teorias estabelecidas que a história da
ciência contém. Haverá ocasião para se fazer referência a esse traço peculiar de sua
evidência, e tomarei a liberdade de descrevê-lo através de uma frase em particular:
Consiliência de Induções (Whewell, 1968, p.153. Minha tradução).
E. O. Wilson posteriormente usou o termo “Consciliência”, com um
significado semelhante, para nomear um de seus livros, mas não trataremos dele
aqui87. No caso específico de Whewell ele não estava falando exatamente de
diferentes ciências se unindo, mas de um princípio se mostrando muito mais útil
do que se esperava e sendo usado em lugares para o qual ele não tinha sido
87
A consciliência que defendemos aqui fala sobre a união de diversas áreas da ciência social
dentro de um estudo amplo da cultura, mas, dada a sociobiologia de Wilson, este dá uma papel
muito maior para as explicações genéticas da cultura.
364
desenvolvido. De qualquer modo, a idéia fundamental de que podemos usar várias
fontes para fortalecer uma só história permanece.
Mais interessante ainda é que Whewell conseguiu achar lugar para as
ciências históricas. Em sua classificação das ciências, feita antes da publicação da
“Origem das Espécies”, a biologia se encontra claramente divida: a botânica e a
zoologia estavam junto com a mineralogia nas ciências classificatórias. Mas a
biologia propriamente dita era uma ciência fisiológica e tratava de questões como
a força vital e as causas finais. Mas o mais interessante é a classificação das
ciências Palaetiológicas, que são aquelas ciências “nas quais o objeto ascende
desde o presente estado de coisas até uma condição mais antiga, da qual o
presente é derivado por causas inteligíveis” (Whewell, 1967, p.637. Minha
tradução).
Nas ciências Palaetiológicas ele coloca a geologia, a glossologia ou
filologia comparativa e a arqueologia comparativa. De imediato pode-se reparar a
ausência da teoria da evolução, pois Darwin não tinha publicado ainda. No
entanto, Whewell fala que existem outras ciência que poderiam ser incluídas neste
grupo, como parte da astronomia, da biologia e outras. O termo Palaetiológica é a
junção de paleontologia com etiologia, que trata as causas “sem distinguir a causa
histórica da causa mecânica” (Whewell, 1967, p.638. Minha tradução). Além
disso, já em 1840 podemos ver que Whewell percebia a importância desta
classificação científica, segundo ele:
O procedimento de construir uma tal Classe de ciências não é nem arbitrário nem
inútil. Pois, ainda que os assuntos de que essas ciências tratam sejam amplos e
variados, verifica-se que todas possuem certos princípios, máximas e regras de
procedimento em comum; e, assim, podem iluminar umas às outras sempre que
tratadas conjuntamente. De fato, conforme creio, ficará evidente que, através de
uma tal justaposição de diferentes especulações, podemos obter lições salutares. E
certas questões que, quando enxergadas conforme aparecem pela primeira vez sob
o aspecto de uma ciência especial, causam perturbação e alarme nas mentes dos
homens, poderão, talvez, ser contempladas mais calmamente, e também mais
claramente, quando consideradas como problemas gerais da palaetiologia
(Whewell, 1967, p.640. Minha tradução).
Depois de tudo o que foi apresentado neste capítulo é impossível ler esta
citação sem um certo senso de “ironia histórica”, pois sobrou para um filósofo da
ciência, que escreveu há cerca de 170 anos, explicar a ciência contemporânea sem
365
cair na armadilha de dividi-la entre ciências exatas e ciências históricas88. A
classificação das ciências de Whewell sem dúvida deve ser atualizada, mas o fato
de que ele segue por um caminho diferente do que a comum separação entre
ciências físicas (naturais) e humanas, e neste outro caminho encontra as ciências
históricas como parte natural de sua classificação, talvez indique que devamos
voltar um pouco e explorar o esquecido caminho percorrido por ele.
Vimos, então, que embora a filosofia da ciência contemporânea não tenha
por costume dar o devido valor às ciências históricas e seus métodos, muito antes
disso William Whewell já havia criado as bases epistemológicas capazes de
compreender o fazer científico destas áreas. Além disso, e mais importante, é
perceber que tais métodos multidisciplinares e históricos são capazes de nos dar
uma ciência tão objetiva e rigorosa como qualquer outra. Negar isso seria tirar o
caráter de cientificidade de muitas áreas onde ele já foi plenamente estabelecido
como a cosmologia, a geologia, a biologia evolutiva etc.
Talvez uma dificuldade em aceitar esta paridade das ciências físicas e das
históricas seja fundada no fato de que as ciências físicas constituem realmente a
base de todas elas. A não ser que defendamos alguma espécie, forte ou fraca, de
dualismo matéria/ espírito, os fatos biológicos, lingüísticos, geológicos etc. são
antes de tudo fatos químicos e físicos. Isto de maneira nenhuma deverá ser
questionado aqui. Mas tentar realmente realizar tal redução seria abdicar do
caráter preditivo, explicativo e também prático da ciência. Qualquer pessoa que
pense que é capaz de explicar a biologia através da física deve se sentir livre para
tentar fazer isso. Todos irão ansiosamente esperar por uma análise física do
conceito de seleção natural. Mas, mais importante ainda, todos se perguntarão o
que fazer com uma análise que precisará ser tão exaustivamente detalhista.
Uma coisa nunca pode ser esquecida ao se fazer ciência, filosofia,
matemática ou o que quer que seja: no final das contas são seres humanos que
fazem isso, fazem para eles próprios e para outros humanos, fazem por interesses
humanos e, talvez mais importante, só podem fazer o que é humanamente
possível. Assim como em última instância os fatos biológicos são fatos físicos, a
88
Armadilha esta poderá ser preservada pelo governo brasileiro que está propondo uma reforma na
divisão do conteúdo do ensino médio, onde as 12 disciplinas que estamos acostumados serão
divididas em 5 “grupos temáticos”: línguas, matemática, humanas, exatas e biológicas. Embora a
biologia esteja junto das exatas, ela é destacada desta, enquanto a história fica como sendo
“humanas”.
366
ciência não está além da comunidade científica. É por isso que este novo modo de
se fazer ciência, que envolve vários pesquisadores de várias disciplinas científicas
diferentes, se mostra como substancialmente científico. Ele é o máximo do “saber
comunitário” que atingimos até agora. E é justamente o fato dessa empreitada ser
comunitária que nos faz entender muitos dos “atributos” das ciências, pois uma
comunidade tem que se comunicar eficazmente entre si, é por isso que sempre
haverá uma linguagem universal, seja o latim, a matemática ou o inglês. Mas só a
linguagem não adianta para o mútuo entendimento, é preciso entender o conteúdo
do que se está fazendo, e é preciso que este conteúdo possa ser checado por
outros, por isso a necessidade de métodos, de não pular etapas, de explicações
exaustivas, rigorosas, de simplicidade, de controle experimental. Tudo o que é
feito por um deve ser comunitariamente avaliado, daí surge a objetividade, a
clareza, a crítica e a refutação.
Temos, então, o que Cavalli-Sforza estava chamando de a “fundamental
unidade das ciências”. A unidade das ciências não é fundada na unidade dos
métodos, mas na unidade dos homens, sendo o método uma conseqüência disso.
Tudo isso visa impedir que cada cientista tenha a sua própria “ciência”, baseada
nas suas vontades, desejos, crenças, opiniões políticas e religiosas etc. Mesmo
quando é feita só por uma pessoa, a ciência nunca é solitária, pois esta pessoa tem
que fazer ciência de modo que ela seja perfeitamente entendida, realizada e
refutável pela comunidade científica, constituída por outras pessoas com outras
crenças, desejos, religiões etc. Deste modo, não se deve buscar uma ciência
perfeita, mas também não devemos nos contentar com menos do que a melhor
ciência que os seres humanos, em comunidade, podem fazer.
10
Uma Análise Crítica das Críticas
Neste último capítulo será desenvolvida uma tentativa mais direta de
respostas às diferentes críticas contra a memética. Muitas destas críticas, junto
com algumas possíveis respostas, já foram apresentadas e serão aqui retomadas
dentro de um panorama mais amplo. Deste modo, há algo de aparentemente
repetitivo aqui que se justifica por várias razões. A primeira delas é o fato de que
tais críticas são também muito repetitivas e permanentes, mesmo já tendo sido
respondidas por diversos autores em diversos artigos e livros, alguns com mais de
10 anos. Mas o mais importante é que as diferentes críticas muitas vezes podem
ser unidas, uma crítica levando a outra. Deste modo, a resposta de uma
determinada crítica pode ser também considerada como o fundamento da resposta
de uma outra crítica que pareceria ser completamente diferente.
É claro que não se pode responder todas as críticas ao mesmo tempo, há de
se desenvolver uma seqüência. Por uma questão didática, o melhor é separar as
críticas em vários tópicos diferentes de modo a permitir maior clareza. Esta
separação é completamente artificial e há, como se espera em uma tese
impregnada de pensamento populacional, um verdadeiro contínuo entre elas.
Por este motivo, mesmo as críticas tendo sido aqui didaticamente separadas,
é importante que estejam todas unidas dentro de um mesmo espaço para permitir
uma visão mais completa delas e, principalmente, das respostas a elas. Neste
sentido, aqui apresentaremos de novo estas velhas críticas, que serão melhor
desenvolvidas e colocadas dentro de um panorama mais amplo. Também serão
apresentadas novas críticas que ensejam novas respostas, e respostas novas para
velhas críticas.
Será interessante notar que muitas críticas, talvez todas, não têm apenas uma
resposta e sim várias. O motivo é que várias linhas diferentes de respostas são
possíveis. Dentre estas linhas duas se destacam: a primeira é perceber que a
mesma crítica pode ser feita contra a biologia atual ou poderia ser feita contra a
biologia do século passado. Neste sentido ao invés de tentar definir perfeitamente
368
cada conceito da memética, veremos que o mais sensato é perceber que uma
ciência não trabalha com definições perfeitas. Como nos disse Hull:
Queixas a respeito da falta de clareza conceitual na memética surgem, em parte, por
causa de uma visão irreal de quão claros e não-complicados certos termos
familiares na ciência são ou foram (Hull, 2000, p.47. Minha tradução).
Já a segunda linha principal de resposta é perceber que houve uma má
compreensão do que a memética propõe, algumas vezes porque os próprios
críticos levaram a analogia longe demais. Dentre estas más compreensões,
algumas se destacam porque simplesmente não são realmente críticas e sim
sugestões que foram apresentadas como críticas, por exemplo, é comum a crítica
de que falta à memética o conhecimento psicológico e neurológico que seria capaz
de dizer quais memes têm uma melhor chance de se replicar. Longe de ser uma
crítica, isso é a mais pura verdade e todo o defensor da memética admite que este
é exatamente um dos primeiros estudos que deve fazer. Ou seja, a memética não
tem tal base, mas só porque ainda não tem.
Jablonka, embora crítica da memética, em muitos lugares parece mostrar que
gosta de tal análise, inclusive tratando da evolução simbólica como sendo o quarto
tipo de herança, mas ela considera que a memética deixa de lado algo importante e
que é o suficiente para fundamentar uma crítica desta disciplina:
É necessário perguntar não apenas quem se beneficia, ou o que é selecionado, mas
também como e por que um novo comportamento ou idéia é gerado, como ele se
desenvolve, e como é passado adiante (Jablonka & Lamb, 2005, p.222. Minha
tradução).
No entanto, já deve ter ficado claro até aqui que isso está muito longe de ser
uma crítica. Ela está certa que a memética deve abordar tais questões e já foi mais
do que mostrado que ela de fato o faz. A memética, é claro, não deve tratar só dos
memes, mas também do ambiente dos memes que tem tal papel selecionador. Ao
contrário do que Jablonka assume, a memética de maneira nenhuma ignora a
psicologia, a antropologia e a sociologia na medida em que estas influenciam a
passagem dos memes. Tal visão errada do que é a memética talvez se baseie
excessivamente no trabalho de Blackmore.
No que se segue, para evitar repetições, será necessária a compreensão do
que foi apresentado nos capítulos anteriores, em particular nos dois primeiros
capítulos que versavam sobre a biologia. Isso significa que muitas das possíveis
369
respostas serão apenas indicadas aqui, mas uma análise mais elaborada exigirá
que se retorne ao tópico mencionado e, principalmente, à bibliografia apresentada
nos capítulos anteriores. Logo ficará claro que a maioria das críticas é fruto de má
compreensão, seja da biologia, seja da memética, seja das exigências normativas
da epistemologia. Mas no meio de tantas críticas, uma se destaca: é a proposta
pelo antropólogo francês Dan Sperber e também utilizada pelos antropólogos
Richerson e Boyd.
Estes três antropólogos foram sem dúvida os que propuseram as melhores
críticas. Muitas críticas comuns parecem ter surgido ou de quem não leu ou que
leu, mas não se deu o trabalho de entender. São críticas primárias e muito mal
colocadas, em grande parte propostas por cientistas sociais, mas também por
muitos biólogos. Mas estes três fogem da regra talvez porque, ao contrário dos
outros, todos eles parecem se interessar por análises darwinistas da cultura. Isso
significa que eles leram a memética sem preconceitos, e sim com interesse, mas
chegaram à conclusão posterior de que ela estava errada. Inclusive todos os três
deixaram o desejo de que a memética pudesse ser uma ciência registrado por
escrito em diversas ocasiões, mas, segundo eles, infelizmente ela tem falhas
importantes. São críticos com um real interesse no assunto e, deste modo, podem
fazer uma crítica mais profunda e mais elaborada. São bons críticos, do tipo que
dá gosto de responder. Neste caso em particular, as críticas deles se assemelham
muito, vão ambas contra o conceito de unidade e de replicação dos memes,
defendendo que o que realmente acontece é uma espécie de mistura recriada em
cada mente e não uma transmissão por replicação de unidades discretas.
Curiosamente, a despeito destas semelhanças, ambos se consideram críticos um
do outro!
Já vimos as críticas de Richerson e Boyd anteriormente, bem como a
resposta a tais críticas. Basicamente eles acreditam que sua teoria, que também é
uma análise darwinista da cultura, não precisa considerar que os memes, ou
melhor, as variantes culturais, sejam discretas, podendo haver mistura entre elas.
No entanto, embora eles digam que isso possa ser assim, eles não dizem que isso
deva ser assim, mantendo em aberto o problema. Além disso, outras respostas ao
tal “problema da mistura” serão analisadas aqui. Tudo isso junto reforçará o que
foi dito anteriormente, a saber, que a teoria da co-evolução que eles
desenvolveram, assim como a desenvolvida por Cavalli-Sforza e Feldman, podem
370
ser consideradas como análises perfeitamente meméticas (seção 4.9). Se retirados
somente uma minoria dos parágrafos, onde eles fazem tais críticas, e lido todo o
resto do texto onde eles desenvolvem positivamente suas análises da cultura e da
relação desta com os genes, não há porque não considerar tais livros como livros
de memética.
Veremos que basicamente o mesmo se dá com Sperber, que embora seja
considerado o crítico mais formidável da memética, ainda assim defende o que ele
chamou de “epidemiologia das representações”, algo que tem memética escrito de
cima a baixo. Na verdade, o que Sperber faz é a união de um conjunto de críticas
que serão aqui apresentadas separadamente, mas como a crítica dele é a mais
fundamental e importante merecerá ser destacada das outras e tratada
inicialmente. Em seguida serão apresentadas breves considerações sobre o papel e
os exageros da analogia em relação à memética para, só aí, darmos
prosseguimento às críticas divididas em vários tópicos.
10.1
Dan Sperber e a Comunicação
Talvez o mais famoso crítico dos memes seja Dan Sperber. Ao contrário das
críticas comuns que encontramos frequentemente, Sperber faz uma crítica muito
bem desenvolvida em um alvo inesperado: a comunicação. Normalmente damos
por certo a nossa habilidade de nos comunicar com os outros, assumimos que
quando falamos somos entendidos da maneira que falamos, pelo menos dentro de
certos limites razoáveis. Mais importante ainda, assumimos que o entendimento
originado foi causado pelo que falamos, ou seja, que foi possível passar uma
informação de uma mente para a outra. Esta é a base para entendermos os memes
como informações armazenadas em cérebros que são transmitidas, isto é,
replicadas. Mas Sperber nos diz que o processo de transmissão de informação
pode ser muito diferente de um comunicador ativo transmitindo algo para um
receptador passivo. Em poucas palavras, o que ele diz é que o receptador, na
verdade, não recebe a informação, melhor seria chamá-lo de criador, ou, pelo
menos, de transformador.
371
Normalmente acreditamos que a informação foi passada porque ela é capaz
de criar o mesmo comportamento em dois indivíduos diferentes. Se um professor
diz para o aluno que “Cabral descobriu o Brasil”, isso faz com que o aluno
também tenda a dizer que “Cabral descobriu o Brasil”. Por isso assumimos que a
informação que estava na mente do professor foi passada para o aluno. Mas
Sperber nos diz que “tipos muito diferentes de estados mentais podem fazer surgir
comportamentos de crença idênticos” (Sperber, 1996, p.89. Minha tradução). Em
outras palavras, a informação na mente do aluno pode ser consideravelmente
diferente da que está na mente do professor, mas ainda assim produzir o mesmo
comportamento.
Bonner nos dá um exemplo que é bastante ilustrativo (Bonner, 1980, p.107):
quando buzinamos, ou ouvimos uma buzina de um carro, podemos assumir muitas
informações diferentes causando o mesmo comportamento. Pode ser “você passou
o sinal vermelho” ou “ sua porta está aberta” ou “seu pneu está vazio” ou
“obrigado por me deixar passar” ou “eu também sou de Carangola” ou “sai da
frente seu...” etc. De agradecimentos a xingamentos, todos causam praticamente o
mesmo comportamento. Só somos capazes de distinguir baseados no contexto.
Mas se o contexto não mudar muito, seríamos praticamente incapazes de saber o
que está sendo passado com determinado comportamento. Como no caso do
professor e do aluno. O professor pode entender muito bem o que significa
“Cabral descobriu o Brasil”, mas o aluno pode não entender nada, mas mesmo
assim acertar a questão da prova simplesmente porque decorou a resposta. Deste
modo, Sperber acredita que memes não seriam verdadeiramente replicadores, pois
diferentes comportamentos podem ser ocasionados pela mesma regra.
Concordando com isso Richerson e Boyd nos dizem:
A informação é transmitida de um cérebro a outro apenas se a maioria das pessoas
induzirem uma regra única a partir de uma dada performance fenotípica (Boyd &
Richerson, 2000, p.155. Minha tradução).
Uma pessoa tem uma regra mental que origina um determinado
comportamento. Tal comportamento é imitado por outra pessoa, mas pode ser que
seja a partir de uma regra mental completamente diferente. No caso que
Blackmore e Dawkins nos deram, onde uma espécie de brincadeira de telefone
sem fio é feita, mas com uma criança ensinando para a outra algum tipo de
372
origami, é bem possível que a regra mental de uma criança para realizar tal
origami seja bem diferente da regra de outra criança. Assim, esta regra não seria
replicada de indivíduo para indivíduo.
Vemos aí um típico problema no qual é importante a resposta de se o que é
copiado é o comportamento ou a informação cerebral, pois se for o
comportamento então as críticas de Sperber não fazem sentido. O comportamento
parece ser replicado sem absolutamente problema nenhum, é a regra mental que
não é. Se tratarmos os memes como comportamentos, como fizeram alguns
behavioristas meméticos, então não há problemas aqui (seção 10.8). Se os
tratarmos também, como é bastante comum, como padrões de comportamentos,
também não há grandes problemas no fato de que estes padrões sejam
armazenados ou originados de formas diferentes no cérebro. Só a versão dos
memes como informação guardada em cérebros precisa responder este desafio e,
neste caso, a resposta pode ser que nenhum dos dois sabe bem como este
armazenamento acontece.
O problema verdadeiro é se cérebros diferentes de fato utilizam regras
diferentes para um mesmo comportamento. Já vimos que Dennett, um defensor
dos memes, concorda com Sperber nesta questão, pois não acredita em algo que
seria como uma “linguagem cerebral universal” (seção 3.2). Mas já concluímos
que esta é uma questão empírica, deve ser tratada futuramente por experimentos
capazes de fazer tal análise em cérebros. Dada a grande semelhança entre a
estrutura e funcionamento da maioria dos cérebros humanos, pode ser que exista
uma única, ou talvez um número bem limitado, de regras para cada
comportamento. Mas, na verdade, a própria idéia de regras cerebrais e linguagens
cerebrais pode não fazer muito sentido. Vimos no caso dos neurônios-espelho que
a imitação de um comportamento pode se dar de maneira bastante direta, sem
nenhuma necessidade de se tratar tal processo como um tipo de regra interna
(capítulo 7).
A verdade é que, ao tratarmos dos memes como informação armazenada em
cérebros, temos que admitir que conhecemos muito pouco sobre o funcionamento
de tal órgão tanto para criticar a memética quanto para defendê-la. Em ambos os
casos é preciso esperar, e qualquer crítica ou defesa feita agora neste sentido é
apressada. Nem Blackmore, nem Sperber, nem ninguém sabe precisamente como
a informação é armazenada em cérebros e como é transmitida. Mas, por sorte da
373
memética, ela não precisa saber disto para iniciar seus estudos. Ela pode muito
bem tratar dos comportamentos e da transmissão do comportamento sem saber
como este surge nos cérebros. Em um futuro, é claro que seria importante saber
como se dá tal processo. Do mesmo modo, Mendel não sabia nada a respeito do
DNA, mas pôde trabalhar e fazer grandes descobertas a respeito do modo de
funcionamento dos genes sem isso.
No entanto, ainda assim a crítica de Sperber parece atacar o próprio núcleo
da memética como desenvolvida por Dawkins, Dennett e Blackmore, pois para os
memes fazerem algum sentido eles têm que ser um replicador, mas, para Sperber,
não há replicação no processo de transmissão da informação.
Curiosamente, como veremos, ele ainda assim defende o que chamou de
“epidemiologia das representações”, mas critica a memética no que diz respeito
aos seus “micro-processos”, pois discorda que a transmissão se dê através de
replicação, com mutações acidentais. Ele discorda da visão do processo
comunicativo como um processo de codificação que é seguido de uma
decodificação de maneira simétrica. Para ele, “a comunicação humana realiza em
geral apenas algum grau de similitude entre os pensamentos do comunicador e
aqueles da audiência” (Sperber, 1996, p.83. Minha tradução). A replicação, deste
modo, seria só um caso limite onde existe uma máxima semelhança entre a
mensagem enviada e a mensagem recebida. Deste modo, a comunicação não seria
um processo de replicação, mas de transformação, tendo a replicação como um
dos seus limites e a total perda de informação o outro. Não haveria replicação de
informações, mas somente interpretação.
Não vamos entrar aqui no que ele define por representação, pois o que
interessa é esta visão como uma crítica à memética entendida como replicação de
informação entre cérebros. O próprio Sperber não se oporia a chamarmos sua
teoria de “epidemiologia dos memes”, se fizermos a ressalva que o “microprocesso” envolvido não é uma replicação dando origem a duas informações
semelhantes em cérebros distintos. A crítica que ele faz é, na verdade, bem
comum entre antropólogos. Eles dizem que quando um meme é transmitido entre
pessoas ele é completamente modificado. O que ele significava na cultura passada
é praticamente irrelevante para o que ele significa na cultura presente.
“‘Macarrão’ para os italianos é, portanto, algo muito diferente do que é para os
chineses.” (Bloch, 2000, p.198. Minha tradução). Memes não seriam como vírus
374
que são passados entre indivíduos. Eles seriam continuamente feitos, desfeitos e
refeitos durante a comunicação.
A única diferença da crítica de Sperber para a crítica comum dos outros
antropólogos é o fato de que eles costumam falar de culturas no modo mais geral,
enquanto Sperber está preocupado com os processos particulares de transmissão.
Isso torna esta crítica muito mais forte, pois já deve ter ficado claro que, para o
pensamento populacional, estas análises generalistas e tipológicas não têm
realidade alguma. É muito simples entender que do mesmo modo que “macarrão”
pode ter significados diferentes entre italianos e chineses, a mesma seqüência de
nucleotídeos pode ter efeitos bem diversos em espécies diversas, simplesmente
porque está atuando conjuntamente com outros genes em outro ambiente.
Mas, voltando a Sperber, a cultura seria re-produzida, no sentido que é
produzida de novo e de novo, mas não reproduzida no sentido de ser copiada de
um para o outro (cf. Sperber, 2000, p.164). Para ele, três condições deveriam ser
satisfeitas para haver uma “real replicação”. Para B ser uma replicação de A: B
tem que ser causado por A, B tem que ser similar em aspectos relevantes à A, por
último, o processo que gera B tem que obter de A as informações que fazem B ser
similar a A. O problema com a memética seria esta última cláusula. Neste sentido,
a passagem de memes seria semelhante a uma risada contagiosa, ou seja, o riso
inicial causa os outros risos, os dois são semelhantes, mas não há realmente a
passagem de nenhuma informação. É o que Blackmore chamou de contágio
(seção 3.3).
No entanto, se a informação que fez B ser similar a A não veio de A, de
onde veio então? Sperber não está propondo uma grande coincidência cósmica,
uma harmonia pré-estabelecida. Acabamos de ver que uma de suas propostas é o
fato de que o mesmo comportamento pode surgir de regras diferentes. Mas é
preciso muita pesquisa empírica para descobrir se isso é realmente possível e,
mais importante, se é assim que o cérebro de fato age. Richerson e Boyd, embora
concordem com Sperber de que a cultura não precisa ser necessariamente
replicada para ser passada, sabem da necessidade de mais pesquisas:
Não conseguimos entender detalhadamente como a cultura é armazenada e
transmitida e, por isso, não sabemos se as idéias culturalmente transmitidas e
crenças são ou não são replicadores (Boyd & Richerson, 2000, p.158. Minha
tradução).
375
Mas há aqui ainda outras questões. Como B pode ser semelhante a A se a
informação que o fez assim não veio do próprio A? De onde surge esta admirável
coincidência? Uma possível resposta que Sperber chega a delinear é tratar a
cultura não como replicada, mas como acionada ou evocada (evoked). Um
comportamento iria acionar este mesmo comportamento em outra pessoa, mesmo
que a regra cerebral para os dois comportamentos seja diferente. Neste caso, não
há informações sendo passadas entre cérebros, um comportamento evoca um
outro comportamento semelhante. Aconteceria, então, algo bastante similar ao que
vimos acontecer em outros animais, onde não haveria real transmissão de
informação (seção 8.1). Casos semelhantes a estes são, inclusive, muito comuns
em comportamentos instintivos, onde este comportamento só surge se for
acionado por algo externo, por exemplo, o comportamento de corte para
acasalamento em certos macacos só surge se o macho antes observar o inchaço
genital da fêmea, que significa que ela está pronta para acasalar. É um
comportamento evocado.
Mas a questão, na verdade, não foi respondida: se cérebros são tão diferentes
a ponto de existirem uma infinidade de regras diferentes para um mesmo
comportamento, como é possível que um comportamento acione outro
semelhante? Deve haver alguma similaridade, algo que permita que cérebros
diferentes de certo modo se compreendam. Pois para um mesmo comportamento
surgir em dois indivíduos separados, deve existir algo no cérebro que seja capaz
de
identificar
um
determinado
comportamento
como
sendo
aquele
comportamento particular. Voltemos ao caso da risada contagiosa: uma risada
pode acionar outra risada em outra pessoa, mas por que o que foi acionado é
justamente uma outra risada? Se cérebros funcionam com regras tão diferentes,
uma risada poderia muito bem acionar um choro, ou bocejos, ou raiva, ou, por que
não, cambalhotas no ar ou a produção de artigos científicos? Mas risadas
normalmente só acionam outras risadas.
O fato de que cérebros, de certa maneira desconhecida, se entendem, indica
que o funcionamento deles talvez não seja tão diferente um do outro. Vimos isso
de maneira bem clara ao tratar dos neurônios-espelho: o movimento de uma mão
pode ser percebido e realizado praticamente pelo mesmo neurônio, e isso vale
para quem está imitando e para quem está sendo imitado. As indicações são de
que Sperber está errado em suas considerações sobre o funcionamento do cérebro
376
humano. Mas nada é conclusivo, muito há por fazer. Além disso, vimos também
no capítulo 8 que uma das definições de imitação é a capacidade de acionar um
comportamento já existente no repertório de outro indivíduo. Ou seja, a proposta
de Sperber para a comunicação poderia ser simplesmente chamada de “imitação”.
A questão central aqui é que a simples consideração de que cérebros podem
funcionar de maneira semelhante é o suficiente para mostrar que não necessitamos
da terceira cláusula de Sperber para falar de memética. A informação que fez B
ser semelhante a A não precisa ter vindo de A, como Sperber defende, pois pode
ter vindo do próprio ambiente, no caso, do cérebro humano, ou melhor, pode ter
vindo do próprio processo de replicação. Acontece que, em um processo que leva
de A a B, pode ser que as regras de tal processo sejam bastante restritivas, de
modo que, dada a condição inicial A, tais regras levam a B. Tais regras, no caso
da memética, seriam regras cognitivas para a interpretação do comportamento dos
outros. “A causa da similaridade entre a informação nos cérebros de A e de B é o
resultado da psicologia evolutiva, não da memética” (Aunger, 2000, p.216. Minha
tradução).
Acontece que se cérebros não se comunicam diretamente, como Sperber
defende, isso não impede que as informações sejam passadas de um para o outro,
pois através do próprio processo de reconstrução de Sperber podemos dizer que a
informação foi relevantemente passada. Reconstruir pode significar o mesmo que
reproduzir. Não é sem razão que “reprodução” vem de re-produção! Isso pode
parecer um pouco confuso, mas é bem simples: se cérebros reconstroem as
informações através da observação do comportamento de outro indivíduo, então
eles não precisam receber esta informação diretamente.
A informação não seria passada, mas reconstruída baseada em princípios
que garantem sua semelhança durante todo o processo. Do mesmo modo, se
cérebros
têm um
funcionamento
parecido,
a
simples
observação
do
comportamento de outro pode ser suficiente para inferir, ou seria melhor dizer
acionar ou evocar, a mesma informação nos dois cérebros. Deste modo, houve
transmissão de informação, mesmo que não seja da maneira mais direta que
gostaríamos.
Esta resposta, na verdade, pode ser considerada como uma versão da
resposta dada a Blackmore anteriormente sobre o papel da imitação na passagem
de memes (seção 8.1): não importa muito se foi por imitação ou não, importa que
377
o meme foi passado e sabemos que ele foi passado porque quem o recebeu é
estatisticamente mais provável de apresentar tal meme do que a média da
população. Sperber, assim como Blackmore, exige um conceito de replicação
muito restrito, onde o meme passado tem que ser perfeitamente idêntico ao meme
recebido, quando o importante é só que ele seja relevantemente idêntico. Do
mesmo modo que Blackmore considera somente a imitação como forma de
transmissão de informação memética, e se esquece que o que importa não é a
imitação exata, mas sim que a informação tenha sido passada, Sperber se
preocupa exageradamente com o que causa a similaridade entre as duas
representações mentais, quando o que realmente importa é se tal similaridade
existe ou não. Seja lá como ela foi causada.
Podemos lembrar aqui que os micro-processos da transmissão memética que
Sperber está criticando eram desconhecidos por Darwin em relação à transmissão
genética. Este chegou a dizer na Origem das Espécies que “as leis que regulam a
hereditariedade são geralmente desconhecidas” (Darwin, 2004, p.29). Na verdade,
nem mesmo Mendel compreendia tal transmissão, mas fez seus estudos de
reprodução e analisando os fenótipos ele pôde tratar dos genes sem nem mesmo
saber o que eles eram. Hoje em dia não é muito diferente. Sabemos razoavelmente
o que é um gene e como ele é transmitido, mas se vamos descobrir se algum
caractere é herdável, não precisamos fazer uma análise molecular ou observar a
fecundação. Ainda se trabalha com experimentos de reprodução e, principalmente,
com o conceito de herdabilidade que nos diz que se os filhos têm uma chance
maior do que a média da população de ter o mesmo caractere que seus pais têm,
então não há motivos para não considerar que ele é um caractere herdável, mesmo
que ainda não saibamos como ele é codificado em DNA (seção 1.1).
Do mesmo modo, o padrão de comportamento daquele que recebeu a
informação deve ser estatisticamente mais parecido com o padrão de
comportamento daquele que enviou do que com a média da população. Isso é o
suficiente para considerar que tal informação foi passada e, mais importante ainda,
é o suficiente para se fazer memética. Podemos ver isso bem claramente no caso
dos príons: uma proteína não passa nada para a outra, o que acontece é que a
forma estereoespecífica, a forma tridimensional, de um príon faz com que uma
proteína saudável assuma a mesma forma dele e, deste modo, se transforme em
um príon também. O que é passado neste caso? A forma? Mas o que é uma
378
“forma”? Não importa, ao menos não inicialmente. Se as duas proteínas
relacionadas em tal processo são relevantemente similares, então o processo é um
processo de replicação.
Resta ainda a dúvida de que, se Sperber acredita que o processo de
transmissão de informação seja um processo de transformação, quase recriação,
então como se dá a epidemiologia das representações que ele mesmo defende?
Para haver tal epidemiologia é preciso que exista alguma semelhança entre as
diferentes representações relacionadas, se esta semelhança não se dá através de
um processo de transmissão com fidelidade, ela deve se dar de outro modo. A
resposta dele é através do que ele chamou de “atratores”. Para deixar mais claro o
que são tais atratores podemos analisar um exemplo que ele mesmo dá sobre a
aquisição da linguagem.
Sperber afirma que o significado das palavras não pode ser copiado ou
observado, só pode ser inferido. Mas se o comportamento pode funcionar de
maneira tão caótica quanto ele assume, poderíamos ter uma infinidade de
significados para cada palavra, na verdade, cada pessoa poderia ter um significado
diferente para a mesma palavra, o que é só um modo de dizer que não existiria
significado algum. No entanto, se cérebros agem de maneira semelhante, é
esperado que os significados sejam também semelhantes. Isso, é claro, se o
significado for algo interno, como ele defende. Se for externo, não há problema
algum aqui.
Contra a visão de que a cultura é aprendida por imitação, Sperber nos dá o
caso da linguagem: segundo ele, uma criança não aprende um idioma imitando
sentenças que ouviu, na verdade, a maioria das sentenças nunca vai ser imitada.
“Quando canta ‘Yankee Doodle’, você não está tentando reproduzir nenhuma
performance passada da canção” (Sperber, 1996, p.104. Minha tradução). Ele diz,
baseado em Chomsky, que usamos tais sentenças que ouvimos como evidências
para “evocar” gramática inata que será, ela sim, fonte de novas sentenças. Mesmo
crianças que ouviram sentenças completamente diferentes do mesmo idioma serão
capazes de evocar a mesma gramática. Como tal gramática parece ser
substancialmente a mesma nas diversas línguas conhecidas, Chomsky a chamou
de gramática universal. Para Sperber isso seria explicado pela existência de uma
capacidade genética de adquirir linguagem. Deste modo, ele cria o que chamou de
teoria dos atratores:
379
A similitude entre itens culturais deve ser explicada, em grande parte, pelo fato de
que as transformações tendem a ser predispostas na direção de atratores no espaço
de possibilidades (Sperber, 1996, p.108. Minha tradução).
O problema de Sperber é bem simples, ele considera errado explicar a
transmissão cultural como um caso de replicação, haveria sempre transformação
neste processo. Mas com isso ele cria o problema de que tal processo iria
transformar a cultura em algo extremamente caótico, cada pessoa teria sua própria
interpretação e não existiria verdadeira comunicação. Para ele isso não acontece
porque a existência de atratores garante que, mesmo em um processo de
transformação, algumas serão muito mais prováveis do que outras garantindo,
assim, que praticamente a mesma informação possa ser obtida através de regras
diferentes. Como vimos, tais atratores seriam em grande parte cognitivos:
estruturas cerebrais biologicamente herdadas por praticamente todos os seres
humanos e que “canalizariam” o processo de transformação.
Para dar um exemplo de tais atratores ele utiliza o caso dos mitos:
O conteúdo de um mito tende a flutuar (drift) ao longo do tempo de modo a manter
uma memorabilidade máxima. (...) os mesmos temas e estruturas que ajudam uma
pessoa a se lembrar de uma história parecem torná-la particularmente atraente. (...)
Se as condições psicológicas da memorabilidade e da atratividade são realizadas, é
possível que a história seja bem distribuída (Sperber, 1996, p.85. Minha tradução).
Sperber chega a dizer que um mito parece ter uma vida própria, se
espalhando e sobrevivendo por conta própria. Diferente de outras crenças, como
crenças políticas ou matemáticas, que precisam mais de um determinado ambiente
para sobreviver. Ele nos dá também o exemplo da prova de Gödel: para entendê-la
é preciso muita educação, principalmente no que diz respeito à lógica matemática.
No entanto, se tivermos a habilidade de entendê-la, podemos dizer que “a
organização cognitiva humana é tal que não podemos entender tais crenças sem
aceitá-las como nossas” (Sperber, 1996, p.97. Minha tradução). Assim, não seriam
só as nossas estruturas cognitivas que serviriam de atratores, mas também as
representações que já possuímos seriam determinantes em relação à possibilidade
de sermos “infectados” por novas representações. “Representações culturais
previamente internalizadas são um fator chave na susceptibilidade a novas
representações” (Sperber, 1996, p.84. Minha tradução).
380
Para Sperber, então, as tradições mitológicas mais comuns seriam aquelas
mais facilmente lembradas, as que fossem difíceis de serem lembradas seriam
esquecidas ou tenderiam a ser atraídas em direção a formas mais memoráveis (cf.
Sperber, 1985, p.86, in: Dennett, 1998, p.374). No entanto, é fácil perceber que o
que ele chamou de atratores aqui, foi chamado de ambiente pela memética, e,
assim como os atratores de Sperber, podemos dizer que o ambiente canaliza as
variações, tanto meméticas quanto genéticas, por ser o que seleciona as variações.
O ambiente de certa maneira direciona o desenvolvimento tanto genético quanto
memético. É verdade que na genética e na memética ele não tem papel nenhum na
criação de variações, mas é dele o papel na escolha de tais variações, direcionando
a evolução.
Voltando ao caso de Chomsky, podemos ver que este é um perfeito exemplo
do que foi dito acima: a restrição das regras garante a transmissibilidade. Dado um
número mínimo de sentenças que uma criança ouve, as regras do aprendizado da
linguagem evocam a gramática universal. Do mesmo modo, B não precisa ter
tirado de A as características que o faz semelhante a este, ele pode ter tirado do
próprio processo. Se tivermos a constância de que este processo tende a produzir
B a partir de A, não precisamos de mais nada!
Deste modo, fica claro que o que ele está defendendo não é
substancialmente diferente do que a memética defende, e ele mesmo admite que
estas duas explicações para a semelhança cultural, a dos atratores e a selecionista,
não são excludentes (cf. Sperber, 1996, p.108). A disputa aqui é só como se dá o
micro-processo da passagem de informação, se ele é direto ou indireto. Mas o
relevante é que tal passagem se dá. O macro-processo de Sperber não é diferente
do da memética e não é sem motivo que os dois tratam a cultura através da
epidemiologia.
Mais uma vez vemos que, assim como aconteceu com Richerson e Boyd, ao
menos inicialmente podemos desconsiderar as críticas e utilizar o trabalho
positivo realizado por Sperber como um ótimo trabalho em memética. Se o que
está sendo dito aqui está correto, estes três antropólogos poderão, no futuro, serem
considerados em posições semelhantes a de de Vries e Bateson, que acreditavam
estar desenvolvendo uma crítica a Darwin com a utilização dos genes
mendelianos, mas na verdade mal sabiam estar dentro do próprio darwinismo
(seção 1.6). Nada muito diferente do que aconteceu recentemente com Gould, que
381
é por muitos tratado como crítico do darwinismo, mas que, como vimos no
capítulo 2, não defende nada extraordinariamente diferente da ortodoxia
darwinista.
10.2
Até Onde Vai a Analogia?
As críticas tratadas neste tópico são de relevância limitada, no entanto, elas
têm que ser tratado de início até mesmo para possibilitar a compreensão do que
vem a seguir. Acontece que a memética de fato surgiu de uma analogia criada por
Dawkins. Ele próprio questionou se era uma boa ou má analogia. A questão é que,
uma vez tendo surgido, a memética pode se livrar de tal analogia e seguir por
conta própria. A má compreensão disso levanta muitos problemas.
Ainda é comum falarmos da memética como uma analogia com a genética,
mas é claro que esta analogia não precisa ser encontrada em todos os processos e
produtos da genética. Ninguém, por exemplo, sequer se preocuparia em procurar
as metilações da cultura, ou acredita em uma espécie de divisão celular da cultura.
Dennett nos fala de uma espécie de meio-termo (cf. Dennett, 1998, p.360): não
devemos nem procurar uma analogia completa e nem ignorar que há uma
analogia. No entanto, o melhor é entender que a verdadeira analogia só diz
respeito ao que foi chamado aqui de o “esqueleto da evolução” (seção 1.2), que
são os processos mais fundamentais dos quais já tratamos inúmeras vezes:
reprodução com herdabilidade, variação intraespecífica, possibilidade do
surgimento de novas mutações, aptidão diferencial, falta de recurso para a
reprodução, tempo para o processo ocorrer. Qualquer analogia que vá além disso
pode ser bem vinda, mas não é essencial.
Na verdade, o melhor é nem mesmo pensar na memética em termos de
analogia, pois como muito bem falou o filósofo David Hull “A memética não
envolve qualquer tipo de raciocínio analógico” (Hull, 2000, p.46. Minha
tradução). Ele nos diz isso porque, na verdade, a memética não é um simples caso
de analogia, ela é uma outra instância do processo mais geral e abstrato que é a
evolução por seleção de variantes adaptadas ao meio. Tanto a memética quanto a
382
biologia evolutiva devem ser consideradas, separadamente, como duas instâncias
deste mesmo processo abstrato. O próprio Dennett diz que “a evolução memética
não deve ser considerada só análoga à evolução genética, ela é de fato uma
evolução por conta própria” (Dennett, 1998, p.359). E se formos levar a sério o
que Dawkins disse, ele mesmo falou algo semelhante: “O darwinismo é uma
teoria grande demais para ser confinada ao contexto limitado do gene. O gene
entrará em minha tese como uma analogia, nada mais” (Dawkins, 2001, p.213).
Tanto o gene quanto o meme são analogias, ou melhor, exemplos de aplicação do
darwinismo, isto é o darwinismo universal.
A memética, deste modo, deve ser considerada tão análoga à genética como
a genética é análoga a memética. E ambas podem se beneficiar de tais analogias.
É errado pensar na memética como uma recebedora passiva de analogias que
provém da genética e da biologia evolutiva. Se, por exemplo, Don Ross estiver
certo e as pesquisas com a teoria dos jogos na macro-economia forem memética,
então já temos aí um ótimo exemplo de uma analogia que, na verdade, saiu da
memética e foi parar na biologia evolutiva. E se o darwinismo for mesmo uma
adaptação de Adam Smith, então a teoria da evolução veio da memética! Mas,
dado o fato de que a biologia já tem um grande sucesso, é apenas mais provável,
mas não é necessário, que as analogias se originem nela. Deste modo, ela é o
nosso melhor guia nestas questões, mas não devemos confundir o cego com o cão
que o guia.
Por este motivo, no que se segue, muitas questões da memética serão
respondidas utilizando conceitos, e mesmo a história da biologia. Mas nada disso
deve ser considerado como um raciocínio por analogia, apenas estamos seguindo
o princípio de que não pode haver dois pesos e duas medidas. Não é uma questão
de analogia, e sim de paridade: se uma ciência pode prosperar dando um certo
tipo de resposta por que a outra não pode? Se a memética falha em algo que a
biologia também falha, ou falhou, deve ser dado a ela, no que diz respeito a esta
questão, o mesmo respeito dado à biologia por uma simples questão de
honestidade intelectual. Por isso, ao levantar as relações entre os conceitos da
memética e da biologia não se está simplesmente querendo descobrir analogias
interessantes, mas sim mostrar que não julgar a memética pelos mesmos padrões
que se julga a biologia, e qualquer outra ciência, é uma questão que só poderia ser
chamada de “hipocrisia epistemológica”. É neste sentido que vimos que David
383
Hull considera que os críticos exigem mais clareza conceitual da memética do que
de qualquer outra ciência em seu início. Com isso não estamos querendo dizer que
a memética está tão bem fundamentada quanto a biologia. Esta com certeza tem
muito mais embasamento empírico do que aquela, e foi assim desde seu início.
Por isso dissemos na seção 6.2 que a memética ainda precisa do seu Darwin, ou
seja, alguém com conhecimento suficiente em relação as mais diversas áreas que
tratam da cultura e que seja capaz de reuni-las de modo que todas apontem para a
mesma direção.
Talvez o grande problema da memética ter se originado como uma analogia
seja o fato de que muitos críticos ficam procurando algum ponto onde a analogia
não procede e, com isso, acham que estão criticando a memética. Mas se ficou
claro que a memética não é somente um pensamento analógico e passivo em
relação à biologia, então podemos ver que esta estratégia de crítica simplesmente
erra o alvo. Não há absolutamente necessidade alguma de que tudo o que vemos
na biologia tenha um similar na memética e não devemos de modo algum ignorar
as idiossincrasias da cultura, que é justamente o que faz o trabalho da memética
ser interessante e necessário.
As únicas idiossincrasias com as quais um defensor da memética deve tomar
cuidado são aquelas que impedem o processo de evolução por seleção natural, seja
em que substrato for. Por isso, como já foi dito na seção 5.3, uma “fórmula”
interessante para se tratar as críticas à memética é tentar pensar se as críticas que
foram feitas a esta refutariam a evolução darwinista por seleção natural se fossem
feitas à biologia. Como estes dois processos são instâncias do processo mais geral
de evolução, que Dennett chamou de algorítmico, então algo que seja um
impedimento para um processo deve também impedir o outro.
A busca por semelhanças entre estes dois processos rendeu analogias
interessantes. Cavalli-Sofrza, por exemplo, nos fala da “deriva cultural”. Ele nos
dá o exemplo da religiosidade norte-americana que pode ter se originado porque
grande parte dos seus imigrantes iniciais buscava justamente um refúgio religioso
no novo mundo (cf. Cavalli-Sforza, 2003, p.260). Seria um caso de uma
população que apresenta um traço cultural porque os seus fundadores eram um
pequeno grupo, um efeito do fundador cultural. No entanto, muitas analogias
excessivas foram propostas, e pior, foram tratadas como críticas e aqui serão
apresentados alguns exemplos.
384
O próprio Sperber, que conhece bem a memética, cometeu um engano
similar a esse ao dizer que na cultura a informação pode vir de muitos para um,
sendo que na biologia o máximo que teríamos é um casal dando origem a um
indivíduo: “sua versão mental da canção foi o resultado das versões mentais de
diversas pessoas” (Sperber, 1996, p.104. Minha tradução). Dennett nos convida a
responder a esta crítica com um simples “e daí?” (Dennett, 2006, p.373). Que não
existe a analogia, Sperber está certo, mas qual seria o problema? Este é um
perfeito caso do que foi dito anteriormente: os críticos acham que a memética não
passa de uma analogia e, por isso, ficam procurando diferenças entre os dois
processos acreditando que elas mostram que a analogia não procede. Mas a
memética não é um simples caso de analogia, é uma evolução por seleção por
conta própria. É tão necessário que a memética tenha os mesmos processos que a
biologia quanto é necessário que esta tenha os mesmo processos que aquela!
Richerson e Boyd, outros grandes conhecedores, caem no mesmo problema
quando nos falam que uma desanalogia entre memes e genes é que não existe na
cultura algo que poderíamos chamar de “recessivo”, ou seja, que não causa
comportamento nenhum, mas ainda assim é passado. Embora seja possível pensar
que nem todo comportamento tem que ser conscientemente passado, pois o
comportamento tácito é transmissível,
mesmo
sem ninguém perceber.
Aprendemos, por exemplo, um sotaque regional sem a necessidade de alguém
explicar o que quer que seja. Mas tais casos dificilmente seriam chamados de
“recessivos”. No entanto, como já vimos no primeiro capítulo, estas classificações
tipicamente mendelianas estão também sobre forte crítica na genética molecular.
Além disso, casos como, por exemplo, da vantagem do heterozigoto, nos mostram
que genes recessivos podem ser selecionados por serem recessivos (seção 1.9). No
entanto, embora possamos dar inúmeras respostas, o mais importante é notar que
esta é uma outra falha na analogia que não importa. É verdade que genes
totalmente recessivos, que não alteram absolutamente nada, existem na biologia,
mas eles não são necessários para a existência da evolução por seleção natural.
Outro exemplo pode ser encontrado em Jablonka, quando está discutindo a
imitação. Jablonka concorda que a imitação pode ser transmitida de maneira
modular, unidade por unidade (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.174), mas,
aparentemente contra a memética, ela quer deixar claro que a transmissão por
imitação depende da função e do significado do que está sendo transmitido. O que
385
é aprendido é sensível à forma e à função da informação que está sendo passada.
Já na replicação do DNA, este é igualmente replicado, seja lá qual for sua
seqüência de bases (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.55). Teríamos, então mais uma
falsa relação. Para ser mais exato, existe a possibilidade de que tal relação não
seja tão falsa assim, pois há indicações que bases sinônimas podem influenciar a
velocidade com que uma proteína é montada e, deste modo, causar pequenas
variações na sua forma. Mas ignorando isso, teríamos que dizer que, na imitação,
importa o conteúdo do que está sendo passado, alguns conteúdos serão passados
mais facilmente do que outros. É o que ela chamou de um processo “sensível ao
contexto e ao conteúdo” (Jablonka & Lamb, 2005, p.211. Minha tradução). Já na
replicação do DNA isso não aconteceria. No entanto, ela não disse qual é o
problema aqui, por que isso deveria atrapalhar em alguma coisa a memética? Na
verdade, isso que ela disse faz parte da própria memética, ao contrário de ser uma
crítica, é justamente o que permite a seleção de memes. A replicação dos memes
depende do seu conteúdo assim como a replicação dos genes depende de sua
adaptabilidade ao meio ambiente.
Mas poucos artigos são tão cheios de falsas analogias quanto o de Paul
Churchland. Talvez isso se dê por ele ser um filósofo da mente e estar muito mais
preocupado com a teoria da consciência de Dennett do que com a memética. Uma
das críticas mais curiosas é que ele nos diz que quando um vírus infecta uma
célula ele se prolifera dentro desta, algo que não parece acontecer com os memes
(cf. Churchland, 2002, p.67). No entanto, isso é só uma estratégia dos vírus e
poderia muito bem não ser assim. Do mesmo modo que um salmão produz
milhares de crias e depois morre, mas um elefante produz só uma cria a cada dois
ou três anos, o vírus poderia produzir uma cópia só, desde que ele garantisse que
tal cópia fosse passada. De qualquer modo, esta é uma questão irrelevante, pois
ainda podemos falar em uma epidemiologia de memes sem que exista esta
reprodução interna.
Ainda tratando os memes como vírus, ele nos diz que uma célula pode não
ter vírus nenhum, mas um cérebro maduro sem memes quase não é um cérebro
(cf. Churchland, 2002, p.67). Mais uma vez fica difícil perceber em que sentido
isso é uma crítica. Só quem acha que a analogia tem que ir até os mínimos
detalhes vai perceber isso assim. Mas longe de ser uma crítica, este fato é
386
exatamente o que Dennett utiliza para defender que “ser” humano é ser um
cérebro infectado de memes!
Para sermos honesto com Churchland devemos ressaltar que embora ele
pareça estar fazendo uma crítica enfática à memética, na verdade, sua crítica é
contra a teoria da consciência de Dennett. Como esta é, para Dennett, um conjunto
de memes, então ficaria restrita só aos animais que têm memes, principalmente
aos humanos, mas Churchland defende que muitos outros animais têm
consciência e que esta é muito mais antiga do que a habilidade de passar cultura.
Para ele a consciência estaria no hardware cerebral e não no software cultural.
Isso significa que muitos animais sem cultura teriam consciência (cf. Churchland,
2002, p.65). Mas no que diz respeito ao ser humano em particular, ele parece não
discordar tão veementemente da memética:
Não hesito em aceitar a sugestão de Dennett de que a evolução cultural – o
desdobrar Hegeliano que ambos celebramos – obteve muito sucesso ao ‘erguer’ a
consciência humana profundamente (Churchland, 2002, p.79. Minha tradução).
Deste modo, os memes não teriam originado a consciência como Dennett
propôs, mas teriam desenvolvido seu conteúdo. Como uma crítica à filosofia da
mente de Dennett é realmente uma ótima crítica, tudo indica que é possível ter
consciência sem ter memes. Mas como uma crítica à memética ele erra o alvo
completamente.
Vimos, então, só alguns exemplos do que acontece quando se leva a
analogia longe demais. Isso acontece por causa de uma má compreensão da
memética que considera essa como uma mera recebedora de analogias da biologia
e como só podendo funcionar através destas analogias. Mas como Hull muito bem
mostrou, a memética não é um raciocínio analógico. Memes precisam ser
parecidos com genes só naquelas propriedades indispensáveis para que se dê um
processo de evolução por seleção natural. Qualquer outra relação é uma
coincidência de dois substratos diferentes que acabaram seguindo o mesmo
caminho. Ou seja, um típico caso de analogia, agora com o sentido técnico que tal
termo tem na biologia: duas histórias diferentes dando resultados semelhantes.
387
10.3
Problema da Unidade
Esta talvez seja a crítica mais comum que se faz à memética e está
diretamente relacionada ao que foi chamado aqui de problema ontológico e ao
problema da mistura. Já vimos esta crítica várias vezes, pois ela é muito comum
dentre os antropólogos que gostam de ressaltar que a cultura não pode ser
compreendida como um conjunto de unidades discretas, mas como um todo que
só pode ser tratado de maneira holística (seção 5.3). Veremos, no que se segue,
que esta é talvez a grande má compreensão que os cientistas sociais têm com a
biologia em particular e, talvez mais importante, com o fazer científico em geral.
Esta crítica está muito bem representada na seguinte citação do antropólogo
social Adam Kuper:
Ao contrário dos genes, os traços culturais não são particulados. Uma idéia sobre
Deus não pode ser separada de outras idéias com as quais está ligada de forma
indissolúvel em uma religião particular (Kuper, 2000, p.180. Minha tradução).
Também John Searle considera o conceito de meme pouco claro e William
Seager concorda com Searle ao dizer que não sabemos de fato o que é um meme
em particular. Não está claro qual é a unidade do meme (cf. Searle, 1998, p.124 e
Seager, 2000, p.114). É o refrão de uma música um meme ou é a música inteira?
Como exatamente poderíamos descobrir estas unidades e, mais importante ainda,
pode a cultura ser separada em unidades discretas? Já vimos que mesmo os
antropólogos que são tão avessos a esta discretização utilizam o conceito de “traço
cultural”, que é uma unidade significativa de cultura (seção 5.3). Neste sentido, a
separação entre antropologia e memética seria muito mais uma questão de
abordagem do problema do que uma separação rígida. Os antropólogos preferem
focar na relação da parte com o todo, enquanto os meméticos preferem tratar as
partes separadamente. Mas em sua versão mais forte, tal crítica vai contra a
própria existência de tais unidades de cultura, sejam elas memes ou traços
culturais.
Uma outra versão deste problema nos foi dada por Plotkin. Segundo ele um
dos principais problemas da memética é considerar que todos os memes são
semelhantes entre si e transmitidos somente através da imitação. Quanto à questão
da imitação, já vimos anteriormente que ele está correto. Já na questão da unidade
388
dos memes ele nos diz que é errado considerar como o mesmo tipo de coisa traços
culturais tão distintos como o tamanho de saias e o patriotismo (cf. Plotkin, 2004,
p.155). São memes diversos, mas ele não especifica em qual aspecto exatamente a
sua diversidade impediria uma ciência dos memes. Embora a transmissão deles
possa se dar de maneira bem diferente, o importante é que eles são transmitidos
culturalmente e que este processo garante que os descendentes se assemelharão
mais a seus ascendentes do que à média da população. Inclusive, estes dois
memes podem estar bem ligados entre si, e de fato estão, como quando vemos
mulheres completamente cobertas em uma praia mulçumana e nos sentimos
felizes e orgulhosos de viver em um país onde uma mulher pode decidir o
comprimento de sua saia!
Como não poderia deixar de ser, os críticos sempre fazem menção à biologia
dizendo que não temos na memética unidades tão distintas como temos os genes
na biologia. Tal análise mostra não só um desconhecimento quanto à biologia
molecular, como também quanto ao próprio fazer científico. Acontece que, como
Dawkins muito bem nos diz:
O ‘gene’ foi definido não de maneira rígida absoluta, mas como uma unidade de
conveniência, um pedaço de cromossomo com fidelidade de cópia suficiente para
servir como unidade viável de seleção natural (Dawkins, 2001, p.217).
Já vimos os problemas da biologia molecular em separar os íntros, partes
que não codificam proteínas, dos éxons, partes que as codificam. E vimos também
os problemas que surgem quando se assimila os genes aos éxons, pois os mesmos
éxons, se unidos de maneira diferentes podem dar diferentes genes (seção 1.7).
Além disso, éxons são estruturas físicas com uma duração limitada, enquanto
genes têm vida ilimitada e podem, de certa maneira, estar em todas as células de
um indivíduo ao mesmo tempo. Na verdade, um mesmo gene pode ser encontrado
em vários indivíduos de várias espécies por milhões de anos. Por isso eles são
melhor compreendidos, dentro da biologia evolutiva, em termos de informação.
Mas a questão aqui não é exatamente esta, logo trataremos do problema
ontológico dos genes, a questão aqui é que ser entendido desta maneira
informacional implica em algumas conseqüências para a noção de unidade dos
genes. Uma destas conseqüências é que a unidade passa a ser uma questão de
conveniência: será considerado como um mesmo gene aquele conjunto de
389
nucleotídeos que tendem a ser passados juntos. Mas em muitos casos o que
chamamos de um gene pode ser também entendido como um grupo de genes
fortemente ligados O mesmo se daria com os memes:
Se quase todas as pessoas que acreditam em A também acreditam em B – se os
memes estiverem, usando o termo genético, fortemente ‘ligados’ – então será
conveniente juntá-los como um só meme (Dawkins, 2001, p.218).
Não há uma regra baseada em princípios para dizer quando algo é um gene
ou um conjunto de genes fortemente ligados, tudo depende da probabilidade de
que eles sejam passados juntos. Não há um limite inferior ou superior de número
de códons, ou mesmo para número de efeitos fenotípicos, que determine a unidade
dos genes. Como Dennett muito bem colocou:
As unidades são os menores elementos que se replicam com confiabilidade e
fecundidade. Podemos compará-las, quanto a isso, aos genes e seus componentes:
C-G-A, um único códon de DNA, é ‘pequeno demais’ para ser um gene. (...) Uma
frase de três nucleotídeos não conta como um gene pelo mesmo motivo pelo qual
você não pode registrar os direitos autorais de uma frase musical com três notas:
não é o bastante para fazer uma melodia. Mas não existe um limite mais baixo
‘baseado em princípios’ para a extensão de uma seqüência que possa vir a ser
considerada um gene ou um meme. As primeiras quatro notas da Quinta sinfonia de
Beethoven são nitidamente um meme, replicando-se sozinhas, destacadas do resto
da sinfonia, mas mantendo intacta uma certa identidade de efeito (um efeito
fenotípico) e, portanto, prosperando em contextos onde Beethoven e suas obras são
desconhecidos (Dennett, 1998, p.359).
Este critério pragmático é o único critério que temos tanto para descobrir a
unidade dos memes quanto para descobrir a unidade dos genes. Um verso de uma
música pode ser considerado um meme por conta própria se ele conseguir
prosperar sozinho, sem a música. Caso a música só prospere unida, então ela toda
é um só meme. E, mais importante, não há absolutamente problema nenhum se,
por um acaso, de uma música que antes só prosperava unida, surgir um verso que
se destaque e passe a prosperar sozinho. Deve ficar claro que tal discretização da
cultura não é só uma análise memética, mas uma necessidade:
Os antropólogos admitem que a cultura é distribuída. Se podemos admitir que
grande parte do conhecimento cultural é socialmente aprendido, isso implica que
tais conhecimentos necessariamente se difundem através das populações, de
indivíduo para indivíduo. Todas as modalidades sensoriais exigem inputs sob a
forma de fluxos temporais de informações – tais como palavras que formam frases,
e frases que formam parágrafos. Nesse nível básico, os indivíduos, portanto,
precisam adquirir informação em partes (que não precisam ser binárias). Assim,
390
algo parecido com uma unidade de transmissão precisa existir (Aunger, 2000,
p.226. Minha tradução).
Se a cultura fosse um todo indissociável (fortemente ligado) ela só poderia
ser aprendida como tal, ou seja, toda de uma vez só. Mas como seríamos capazes
de aprender tudo de uma vez só? Nossas limitações físicas e cognitivas não
permitem isso, não conseguimos aprender tudo de uma vez só, a cultura deve ser
aprendida aos poucos ou não será aprendida. Por mais holística que ela seja, ela é
aprendida em partes e, na verdade, ninguém nunca conhece todas as suas partes. O
tempo que gastamos aprendendo uma parte é um tempo que não gastamos
aprendendo qualquer outra parte de cultura. Como certas partes terão maior
probabilidade de serem aprendidas do que outras, temos os ingredientes
necessários para uma evolução darwinista.
Mas talvez a crítica mais importante que os antropólogos fazem não seja
sobre a possibilidade de se tratar a cultura como unidade, mas sim se este é um
bom modo de estudar a cultura. Em uma versão típica do argumento antireducionista, eles dizem que cada parte da cultura só pode ser verdadeiramente
compreendida dentro do todo. Separadas elas não são nada, por isso, mesmo que
existam tais unidades, é preciso estudar as partes a partir do todo e nunca o todo a
partir das partes. Deve ser feito o que se convenciona chamar de estudo
descendente, nunca ascendente.
Mais um vez eles ignoram a genética. Pois o gene como unidade autônoma
também não existe. É um erro pensar que um gene pode ser compreendido fora de
seu ambiente, que é constituído dos outros genes mais o ambiente externo. Tal
visão foi muito criticada como sendo “beanbag genetics”. Assim como um traço
cultural só pode ser entendido em relação aos outros traços, o efeito de um gene
só pode ser compreendido em relação aos efeitos de todos os outros. A mesma
sequência de nucleotídios em diferentes espécies, com diferentes fundos gênicos,
pode ter efeitos completamente diferentes. Deste modo, o que um gene “é para”
em um determinado indivíduo pode ser radicalmente diferente do que ele “é para”
em um outro indivíduo (capítulo 2). Por isso que a crítica de Bloch, já
apresentada, de que “macarrão” significa algo para os italianos e algo diferente
para os chineses, está errada (seção 10.1). Isso vale perfeitamente para a genética.
Mas talvez a verdadeira má compreensão aqui não diga respeito ao pouco
conhecimento em genética, mas sim ao pouco conhecimento do fazer científico. A
391
biologia se mostra mais frutífera para mostrar exemplos como esse, dada a sua
semelhança com a memética, mas outros exemplos sem nenhuma analogia direta
poderiam ser dados89. Mas de uma maneira ainda mais profunda, existe uma má
compreensão do fazer científico em geral, pois qualquer cientista concorda que “é
óbvio que, quanto mais complexo o campo, mais lentamente ele chega a um
estágio em que pode fazer avanços rápidos através de métodos reducionistas”
(Bonner, 1980, p.7. Minha tradução). Nenhum deles ignora que seus modelos e
analises são simplificações, às vezes exageradas, do mundo. Mas elas são úteis
justamente porque são simples. Trabalhar algo complexo de uma maneira também
complexa só torna toda a empreitada algo impraticável. Como já vimos
anteriormente, temos aqui uma decisão metodológica (seção 5.3). No entanto, a
decisão pelo reducionismo metodológico de maneira nenhuma implica um
reducionismo ontológico. É só uma questão de que sem esse reducionismo é
impossível fazer um trabalho rigoroso:
Ao nosso ver, os biólogos e cientistas humanos não serão capazes de entender a
evolução da cultura a não ser que estejam preparados para quebrar o ‘todo
complexo’ em unidades conceitualmente e analiticamente administráveis (Laland &
Odling-Smee, 2000, p.121. Minha tradução).
Os modelos são simples porque são modelos. É para isso que eles existem,
se quiséssemos trabalhar com toda a complexidade não precisaríamos de modelos.
Modelos existem para permitir uma análise mais simples da realidade. Mas
qualquer cientista sabe que modelos não são a realidade. A simplificação, a
separação em partes, é uma estratégia para tratar a complexidade, e não uma
negação dela. Isso serve para a genética, para a memética e para praticamente
qualquer área científica. Caso exista alguma propriedade que não pode de maneira
nenhuma ser tratada a partir das suas partes, ela ficará por último e, quando todas
as propriedades modeláveis forem tratadas, esta última propriedade estará
destacada e poderá ser encarada de frente.
Vemos que este método de se fazer ciência tem muito sucesso e é utilizado
desde que esta surgiu até hoje. Não há ciência sem ele, pelos menos em seus
estágios iniciais. Um ótimo exemplo são as pesquisas feitas sobre o cérebro, que
talvez seja o caso de maior complexidade holística que temos hoje nas ciências.
89
Einstein mostrou através do movimento browniano que poderíamos inferir a existência dos
átomos, não foi necessária a observação direta ou saber exatamente o que um átomo era. Mas é
claro que isso só foi possível depois de um rigoroso tratamento matemático (cf. Einstein, 2001).
392
Mesmo assim muitos avanços empíricos foram realizados com métodos bastante
rudimentares e até mesmo “toscos”, como análises de lesões cerebrais ou de
pacientes drogados. Às vezes, o fato de que alguém levou uma flechada na cabeça
pode nos trazer novas descobertas sobre o funcionamento do cérebro.
Este talvez seja o melhor exemplo que até mesmo métodos rudimentares e
brutos são capazes de tratar de objetos complexos, ao menos inicialmente. Às
vezes o melhor modo de estudar uma coisa é dando um tiro nela90! Estudos como
estes inclusive nos mostraram que a informação pode ser guardada em cérebros de
maneira muito mais discreta do que normalmente suporíamos. Danos cerebrais
indicam que o cérebro guarda informação de maneira bastante compartimentada
(frutas e legumes, objetos médicos, nome de países, animais, etc.), pois
determinadas lesões impedem o reconhecimento correto só destas categorias
semânticas, mas mantém todo o resto funcionando normalmente (cf. Laland &
Brown, 2002, p.275). Além disso, vimos no capítulo sobre as mudanças
lingüísticas que estas podem se dar de maneira discreta, com a mudança em um
termo não afetando os outros (seção 6.1). É possível até mesmo que uma mudança
na pronúncia de uma palavra não afete a grafia desta mesma palavra!
O que de fato acontece é que, como a tradição na antropologia é holística, e
como é a antropologia que tradicionalmente estuda a cultura, temos poucos dados
que poderiam dizer respeito às unidades culturais:
O problema é que poucas pessoas estão realmente envolvidas no trabalho de contar,
registrar e medir as variantes culturais, ou em rastrear como elas alteram em
freqüência (Laland & Brown, 2002, p.279-280. Minha tradução).
O mesmo problema surge para a memética e para a co-evolução. Até que
seja feito um trabalho meticuloso neste assunto teremos que continuar trabalhando
com as análises holísticas oriundas da antropologia. Mas o mais importante é
entender que não há oposição entre o holismo ontológico da antropologia e o
reducionismo metodológico das ciências, sendo que a genética é o melhor, mas
não único, exemplo disso.
90
Um exemplo recente foi o estudo da composição química de um meteoro realizado através do
lançamento de um objeto sólido contra ele e do estudo do impacto.
393
10.4
Problema Ontológico
Esta questão também já foi abordada e é uma das que mais causa
controvérsia. Os críticos dizem que, bem ou mal, sabemos que os genes são
instanciados em tiras de DNA, mas em relação aos memes não temos sequer uma
idéia de qual seria seu substrato físico. Esta questão se relaciona diretamente ao
problema do fenótipo e genótipo dos memes que será tratado mais a frente (seção
10.8), pois discute se um meme escrito em um papel ou gravado em um disco
rígido é um meme por conta própria. Paul Churchland acredita ter achado aqui
mais um desanalogia em relação aos genes:
[os memes] são, no melhor dos casos, padrões abstratos de algum tipo, impostos em
estruturas físicas pré-existentes dentro do cérebro, e não coisas físicas que estão
determinadas a criar outras coisas físicas com uma estrutura física comum
(Churchland, 2002, p.67. Minha tradução).
Algumas respostas a este problema já foram abordadas, como a visão de
Dennett de que por poder transitar entre muitos substratos é melhor manter a visão
informacional do que é um meme (seção 3.2). Até porque, a definição de gene
utilizada na biologia evolutiva também é informacional. Neste sentido, genes e
memes não seriam significativamente diferentes. Como vimos, isso nos leva ao
problema da causação levantado por Sperber e que faz com que Dennett desista da
memética. No entanto, ainda defendendo a semelhança entre memes e genes,
poderíamos dizer que memes escritos em livros podem ser considerados memes
tanto quanto genes escritos em livros podem ser considerados genes. O problema
é que, mesmo genes sendo definidos como informação, ainda assim temos esta
informação instanciada em uma tira de DNA que é fisicamente capaz de entrar em
relações causais. Tais relações causais eminentemente físicas são o que permite
com que o DNA codifique proteínas e também se reproduza.
Deste modo fica mais evidente o dilema da memética, pois mesmo se
memes foram definidos de maneira informacional, e eles devem ser definidos
assim, ainda permanece o problema de qual é o seu substrato, ou, ao menos, o seu
principal substrato. É por isso que Bloch considera que o problema ontológico
deve ser respondido (cf. Bloch, 2000, p.193). Até mesmo Blackmore disse que
“podemos assumir que, pelo menos em alguma fase de sua replicação, os memes
394
precisam ser fisicamente armazenados nos cérebros” (Blackmore, 1999, p.57.
Minha tradução).
Dificilmente se chegará a uma definição de um meme como algo físico,
como uma “coisa”, o mais provável é, como muito bem viu Churchland, que ele
seja entendido como um padrão, seja um padrão de comportamento ou um padrão
cerebral. Neste sentido, foi apresentado aqui uma especulação que poderia ser
desenvolvida no futuro de que o substrato físico dos memes estaria diretamente
relacionado ao funcionamento dos neurônios-espelho (capítulo 7). Tais neurônios
parecem estar na base de nossa habilidade de imitar, e possivelmente também na
base de nossa linguagem e capacidade de compreender os outros. Eles podem ser
a resposta empírica ao problema de Sperber de como dois cérebros podem ser
capazes de recriar a mesma informação, mesmo ela não tendo sido diretamente
passada. E, por fim, há indicações de que a área que inibe os neurônios-espelho é
justamente a área que esperaríamos que fosse.
No entanto, a descoberta dos neurônios-espelho tem menos de dez anos e
qualquer conclusão a favor ou contra seria apressada. Por isso ela não pode ser
considerada como uma verdadeira resposta ao problema ontológico, pelo menos
não ainda. Assim, a linha de resposta aqui não será nem propor uma base
ontológica para os memes em termo de neurônios-espelho, nem defender que
definitivamente não precisamos de tal base, como Dennett defendeu, mas sim que
apenas momentaneamente não precisamos de tal base.
Quando Dobzahnsky falou em 1937 que a evolução era melhor descrita
como uma mudança na composição genética das populações, ele estava tratando
de entidades hipotéticas que eram indicadas pelos estudos de então, mas que ainda
não tinham sido materialmente identificadas (cf. Jablonka & Lamb, 2005, p.29).
Mais fundamental ainda, quando Darwin propôs sua teoria da evolução ele
acreditava em uma teoria da hereditariedade completamente errada. No início do
século XX, quando Mendel finalmente foi descoberto pela biologia, suas
propostas foram largamente defendidas como anti-darwinistas (seção 1.6). Foi só
em 1953 que Watson e Crick finalmente descobriram a estrutura do DNA, que era
o transportador das informações genéticas. Ou seja, foram quase 100 anos desde a
publicação de Darwin até a descoberta da codificação física dos genes, 100 anos
de gigantescos avanços na biologia simplesmente baseados na esperança de que
algum dia iriam encontrar o substrato dos genes.
395
E o mais curioso foi que quando finalmente tal substrato foi encontrado, a
genética molecular achou suas descobertas estarrecedoras, os genes funcionavam
de maneira tão diferente do esperado pelos estudos de reprodução mendelianos
que até se cogita em simplesmente abandonar o conceito de gene (seção 1.7)!
Embora seja improvável que ele seja abandonado, ele é ao menos muito mais
confuso do que os críticos da memética gostariam que fosse e é reconhecido por
praticamente qualquer biólogo que “genes são muito complexos e extremamente
difíceis de serem definidos” (Futuyma, 2002, p.50).
É claro que cada uma das diferentes áreas da biologia tem uma, ou até mais
de uma, definição operacional de gene com a qual ela trabalha. Mas como todos
estão convencidos de que estão falando da mesma coisa, e devem estar se essa
coisa é algo físico no mundo, então há uma só definição do que de fato é um gene.
Contamos hoje com 150 anos desde a publicação da Origem das Espécies e tal
definição universal não existe ainda. Nem mesmo há um consenso se genes estão
só no DNA, pois, como vimos nas teorias da evo-devo, estruturas diferentes
podem ser construídas com os mesmos genes, dependendo de onde e quando eles
são ligados durante o processo embrionário (seção 1.8). Fica a questão se os tais
“interruptores” que ligam e desligam os genes seriam, eles mesmos, genes.
Relacionado a esta questão, fica também o problema de qual é o papel da
metilação. Pois se os “interruptores” foram considerados genes, a metilação, que
muitas vezes tem um papel indispensável neste processo, tem que ser considerada
como parte destes genes.
Mas o importante aqui não é resolver a disputa sobre a definição de gene
que existe na biologia, e sim a constatação de que há uma disputa. Disputa esta
que nos mostra que, mesmo em sua vagueza, conceitos podem ser funcionais. A
biologia pôde viver quase 100 anos sem saber qual era o substrato físico dos
genes, e mesmo quando descobriu, não foi com o grau de clareza que gostaríamos
que fosse. Este conhecimento era importante, mas não necessário: a simples
constatação de que os filhos se pareciam com os pais era o suficiente. Constatação
essa que temos na memética e que podemos usá-la para propor relações causais,
mesmo sem saber os detalhes de como ela fisicamente se dá. Na verdade, cabe
muito bem lembrar aqui que ainda hoje os estudos de genética das populações
raramente conhecem os genes com os quais estão trabalhando, eles analisam os
fenótipos (cf. Maynard-Smith, 1993, p.184). De maneira similar, a memética pode
396
também ignorar, ao menos inicialmente, este problema e tratar do fato de que há
hereditariedade na cultura.
Poder-se-ia objetar aqui que embora o conceito de gene tenha demorado
quase 100 anos para fazer parte da biologia, desde seu começo a teoria da
evolução teve grande sustentação empírica dada inicialmente por Darwin e depois
por vários outros pesquisadores. Esta sim seria uma crítica mais sensata à
memética e pode ser considerada correta. No entanto, é preciso lembrar que
Darwin não só não tinha o conceito mais relevante para a sua teoria, como
defendia um conceito errado que poderia servir como refutador desta teoria. Suas
análises empíricas deveriam ser consideradas inconsistentes se tratadas em relação
ao seu próprio conceito de hereditariedade. No entanto, é inegável que falta à
memética algo que nunca faltou à biologia desde seu início: um trabalho empírico
mais detalhado que faça uso dos mais diversos dados sobre a cultura coletados em
várias disciplinas diferentes. O que está sendo defendido aqui é justamente que
isto deve ser feito e que o resultado poderia ser favorável à memética.
10.5
Problema da Mistura
Este outro problema também já foi exaustivamente tratado, pois também é
uma crítica muito comum. Acontece que, segundo reza a crítica, os memes se
misturam de maneira que os genes não fazem. Esta crítica normalmente vem em
duas versões: ou trata das misturas particulares, quando uma idéia se une a outra
para se transformar em uma terceira idéia, algo de fato bastante comum, ou trata
mais de noções gerais, dizendo que espécies, quando separadas, não voltam a se
unir. Entretanto, áreas distintas do saber se unem constantemente, como, por
exemplo, na biofísica, bioquímica e em qualquer outro estudo interdisciplinar ou
transdisciplinar. Uma das características comuns da cultura seriam as
possibilidades já mencionadas de transculturação e de aculturação. A relação entre
esta crítica e a crítica da unidade do meme é direta: não podemos falar em unidade
do meme, pois os memes sempre estão se misturando.
397
Já vimos anteriormente que o processo de aculturação raramente se dá entre
culturas mais especializadas e mais difundidas (seção 5.3). Já em culturas pouco
especializadas e pouco difundidas este processo é mais comum, assim como entre
uma cultura especializada “englobando” uma menos especializada. É claro que o
conceito de “especializada” aqui levanta alguns problemas, mas são praticamente
os mesmo problemas que são levantados na biologia. Se isso estiver correto, as
condições para a aculturação e para a transculturação serão, na verdade, muito
semelhantes ao mesmo fato na biologia. Pois, como já vimos, tais processos são
relativamente comuns na biologia.
Em primeiro lugar, podemos dar a mesma resposta aqui que foi dada
anteriormente ao problema de que muitas vezes nossos memes são recebidos não
de uma ou duas pessoas, mas de várias. Quando é o mesmo meme sendo recebido
de várias pessoas, não há simplesmente problema nenhum. Não há regra que diga
que ele tenha que vir de uma pessoa só, como no caso da reprodução assexuada,
ou que venha de duas, como no caso da reprodução sexuada. O real problema só
se dá quando memes completamente diferentes, do que poderia ser chamado de
“espécies” diferentes, se unem, como no caso da física e da biologia, dando
origem a biofísica.
Devemos de imediato questionar o que quer dizer “espécies” na memética.
Não está de maneira nenhuma claro que esta seja uma analogia útil e, inclusive, o
conceito de espécies está, ele mesmo, sobre escrutínio na própria biologia, sendo
que sua própria existência tem sido questionada por alguns pesquisadores (cf.
Ereshefsky, 1999 & Mishler, 1999). Mas deixaremos este problema de lado para
tratarmos de outro mais fundamental. Dawkins prefere que tratemos os memes
como aquelas primeiras moléculas replicadoras ainda no “caldo primordial” (cf.
Dawkins, 2001, p.218). Cabe lembrar que este “caldo primordial” não é só o
breve início da vida, mas pode ter sido sua condição durante milhões de anos. Se
for o caso de que memes devem ser tratados assim, perde-se qualquer noção de
espécies fechadas em si mesmas por barreiras reprodutivas. Na verdade, até
mesmo entre as bactérias, que não só dominaram a Terra por bilhões de anos, mas
de certo modo ainda a dominam, o conceito de espécie é vagamente aplicável
(seção 1.11).
No entanto, os críticos não costumam dar ouvido a este argumento, até
porque é comum entre os defensores da memética tratarem, por exemplo, línguas
398
diferentes como espécies culturais diferentes. Então o problema permanece, mas
podemos ainda duvidar de sua existência: sabemos que Darwin propôs uma teoria
da hereditariedade baseada na mistura. Vimos que tal teoria foi criticada por
Fleeming Jenkin que mostrou, corretamente, que a mistura entre as gêmulas
tenderia para a homogeneidade da população e a impossibilidade da evolução (cf.
Dawkins, 2005, p.125). A crítica de Jenkin poderia ter sido só contra a teoria das
gêmulas, mas, na verdade, era contra o darwinismo como um todo (seção 1.6).
Isso significa que ele não questionou a teoria da mistura, e sim o fato de que com
mistura não poderia haver evolução. A mistura não era questionada porque, na
época, ela parecia ser um fato inquestionável, assim como hoje parece ser
inquestionável que as culturas se misturam. Mas com o tempo, e principalmente
com Mendel, foi provado que tal mistura era só aparente, e que uma mistura dos
fenótipos, que de fato acontecia, não significava uma mistura dos genótipos.
Sendo os exemplos mais comuns a cor da pele e a altura.
Dito isso, deve ficar claro que enquanto não tivermos a resposta do que
acabamos de chamar de problema ontológico, ou seja, qual a instanciação física
da cultura, não teremos como saber se ela de fato se mistura ou não. A mistura
aqui pode também ser somente aparente. Uma pessoa bilíngüe, por exemplo, pode
falar na mesma frase duas línguas diferentes, mas ainda assim estas duas línguas
podem ser armazenadas e tratadas de maneira completamente separada no
cérebro, sendo a mistura só aparente. Na bio-física, por exemplo, o
armazenamento cerebral dos memes da física e da biologia podem estar
separados. Em outras palavras, todos concordam que esta mistura parece se dar,
mas nem os defensores da memética, nem os seus críticos são capazes de dizer se
ela de fato se dá.
Mas vamos, para o benefício dos críticos, assumir que a mistura ocorra.
Neste caso o problema seria que os memes se misturam de uma maneira que as
espécies, ou os genes, não se misturam. Se alguém defende isso, vemos que mais
uma vez há uma ignorância em relação aos processos biológicos. Os genes estão
constantemente sendo invadidos por genes saltitantes, ou mesmo vírus externos.
Algumas vezes tais invasores se estabelecem e passam a fazer parte do organismo,
inclusive invadindo gametas e sendo passados por gerações:
399
Vírus e plasmídeos de bactérias também podem se incorporar ao material genético
de células somáticas eucariotas (animais, vegetais, fungos, protozoários) e até
mesmo em células sexuais. Incorporando seus genes de microrganismos no genoma
de espécies ‘superiores’, saqueando o patrimônio genético desses seres e levandoos para além do limite do núcleo e da própria célula, essas minúsculas estruturas
estão misturando genes de espécies as mais distintas (Waizbort, 2000, p.172).
Vimos o caso da bactéria Wolbachia que pode ter tido praticamente todo o
seu genoma inserido dentro da mosca-de-fruta Drosophila ananassae (seção
1.11). Vimos também um tipo de hemoglobina nas raízes de plantas que pode ter
vindo de animais utilizando um vírus como intermediário (cf. Dawkins, 2001,
p.259). Na verdade, a engenharia genética praticamente acabou com este
problema de que certos genes são restritos a certas espécies. Através deste
processo praticamente qualquer gene pode ser transferido para qualquer espécie.
Um nível de mistura que assustaria os próprios antropólogos!
Em relação à engenharia genética, pode-se questionar que este é um
processo artificial, e que não aconteceria naturalmente. Ignorando o fato de que a
separação entre natural e artificial não deve realmente ser feita, temos que a
engenharia genética só é possível porque já existem na natureza seres vivos
capazes de realizar tal processo. E, na verdade, ele é muito mais comum do que
imaginam alguns, sendo conhecido como transferência horizontal, ou lateral, de
genes (seção 1.11).
Tal processo é bastante comum, principalmente entre bactérias. Inclusive,
“a transferência de genes foi crucial na evolução da resistência a drogas”
(Maynard-Smith, 1993, p.5. Minha tradução). Os estudos recentes de Margulis
têm mostrado que este processo ainda é comum, sendo que não podemos mais
dizer que os ramos da árvore filogenética, uma vez separados, não se unem mais
(cf. Margulis, 2002, p.144). Na verdade, “é possível até que Archea, Bacteria e
Eukarya nem tenham uma filogenia normal, em forma de árvore” (Ridley, 2006,
p.479). Deve ficar claro que não se está tratando só de bactérias, mas também de
eucariotos, que podem ter recebido genes de bactérias e até mesmo de outros
eucariotos (cf. Ridley, 2006, p.585).
Na verdade, é fato corriqueiro agora que as mitocôndrias, que estão no
interior de nossas células, e os cloroplastos, que estão nas células das plantas,
eram antigas bactérias que se uniram e agora fazem parte do que chamamos de
“nós”. Inclusive alguns genes mitocondriais podem ter migrado para o núcleo:
400
alguns genes mitocondriais foram transferidos para o núcleo. O DNA nuclear dos
seres humanos atuais contém genes que descendem dos dois incorporadores
eucarióticos originais. É difícil estudar o processo de transferência de genes da
mitocôndria para o núcleo em animais, porque o genoma mitocondrial é
relativamente constante. Em plantas, entretanto, os genes parecem ser transferidos
mais frequentemente (Ridley, 2006, p.584).
Para piorar ainda mais a posição dos que defendem de que não há mistura na
biologia, temos os casos dos híbridos. É comum pensar em tais híbridos como
crias inférteis, quase um erro da natureza. Mas não precisa ser assim, híbridos
podem ser perfeitamente férteis, embora normalmente sejam mal adaptados e por
isso não sobrevivam, mas em um ambiente diferente eles poderiam ser
selecionados e prosperar. O caso mais comentado é o dos híbridos entre leões e
tigres, mas abordamos também um caso mais raro entre lobos e coiotes (seção
1.3.2). No entanto, tratamos também do caso do carvalho, onde a hibridização é
bem mais comum do que nos casos anteriores. O fato é que as espécies não são
tão distintas como costumamos assumir. Vimos isso claramente no caso das
espécies-anel. Neste caso, um gene de uma espécie pode facilmente passar para a
outra, se percorrer todo o anel. Como todas as espécies estão ligadas por tais
anéis, que foram eventualmente rompidos, mas existiram, então perde-se a noção
de que um determinado gene pertence a uma determinada espécie. Tal noção
também foi perdida depois do surgimento da engenharia genética.
Vemos, então, que a biologia está povoada por misturas que normalmente
não conhecemos. Isso significa que esta capacidade de se misturar não impede a
evolução por seleção natural como podemos supor inicialmente. É possível haver
evolução darwinista mesmo com um alto grau de mistura, só não é possível se
houver apenas mistura de modo que haja uma tendência generalizada para a
homogeneização. A verdadeira questão não é se a mistura existe ou não, mas sim
qual é o grau de mistura que é tolerável para a seleção natural. O valor suportável
de mistura será inversamente proporcional ao valor da homogeneização. Mas isso
levanta uma dúvida interessante: se na biologia vimos que a mistura leva a
homogeneização, não se daria o mesmo na cultura? Pode a cultura evoluir em um
modelo de herança por mistura? Neste tipo de herança a variação some. Dois
indivíduos dão uma média e seus “netos” não conseguem retomar o que havia
antes. Os netos serão a média da média e assim a tendência é a homogeneidade.
Ainda mais levando em consideração o que falamos anteriormente sobre não
401
existir memes recessivos. Cabe aqui uma pergunta importante que não será
respondida: a permanência da heterogeneidade na cultura não indicaria que ela
também não é passada através de mistura? Ou pelo menos que esta mistura não é
estatisticamente tão relevante?
Richerson e Boyd, tratando deste problema, chegaram a uma consideração
interessante: para eles a mistura entre variantes culturais pode existir justamente
para diminuir o número de variantes e, deste modo, ainda permitiria uma análise
darwinista. A questão é que quando há muitas mutações, como no caso da cultura,
a variação pode crescer monstruosamente e não permitir qualquer seleção e
consequentemente, evolução. Mas se estas variantes podem se misturar, isso
diminuiria o número de variantes. Quando há muitas variantes, pode compensar
fazer uma média, misturando um pouco de cada uma: “em um mundo muito cheio
de ruído, tomar a média de diversos modelos pode ser necessário para descobrir
uma aproximação razoável do valor verdadeiro de qualquer traço particular”
(Richerson & Boyd, 2006, p.89. Minha tradução). Deste modo, podemos até
imaginar que a existência da mistura entre memes, longe de ser uma crítica a eles,
pode ser justamente uma solução adaptativa deles ao fato de que, por ser mais
rápida, a cultura tende a ter uma taxa de mutação muito alta!
Vimos no caso dos estudos da co-evolução que foi feito uma pesquisa sobre
a herança cultural de opiniões políticas e religiosas nos Estados Unidos (seção
4.9). Isso poderia ser um bom exemplo do que Richerson e Boyd nos falam, pois
embora possamos dizer que não há duas opiniões políticas idênticas e que cada
opinião se dá através da mistura de várias outras, ainda assim, talvez por causa
desta própria mistura, elas se diferenciem o suficiente para separá-las entre
democratas, republicanos, independentes e apolíticos. Permitindo, assim, a sua
análise discreta. O fato é que cópias analógicas tendem a se modificar
exageradamente rápido, já as cópias digitais não sofrem tantas variações por causa
de ruídos, e seus erros são mais fáceis de serem detectados e corrigidos. Deste
modo, Richerson e Boyd nos mostram como a mistura, se é que ela existe, poderia
contornar este problema fazendo a média entre várias cópias diferentes.
Não seguiremos por esta linha aqui, embora seja algo que deva ser
explorado. De qualquer modo, foi mostrado que é possível que tal mistura sequer
exista, se existir ela pode não ser tão problemática assim e, como certeza, é um
402
característica bem menos diferente da encontrada na natureza quanto os críticos
estão acostumados a propor.
10.6
Problema da Homologia
Ao contrário das críticas anteriores, esta não é muito comum. Só se torna
importante porque foi desenvolvida pelo próprio Dennett. Deve ficar claro, como
já foi dito aqui e no capítulo que tratamos de Dennett (seção 3.2), que esta crítica
faz mais sentido quando ignoramos as relações causais físicas envolvidas na
herança cultural, mas como o próprio Dennett, respondendo a si mesmo, disse:
Você pode continuar ignorando os desagradáveis detalhes mecânicos de como a
informação foi de A até B, pelo menos temporariamente, e se concentrar apenas nas
implicações do fato de que algumas informações chegaram lá – e outras não.
(Dennett, 1998, p.375).
No entanto, mesmo assim seria muito difícil saber distinguir cópia de
criação independente, e este é o que chamamos aqui de problema da homologia.
Isso impossibilitaria as explicações evolutivas dos processos culturais e, deste
modo, impediria a existência da memética. Deve-se deixar claro que esta crítica
de Dennett não é uma crítica contra os memes, mas só contra a ciência da
memética. Isto quer dizer que Dennett não questiona que em cada caso particular
haveria uma, e apenas uma, história evolutiva memética, o problema seria na
nossa habilidade de descobrir esta história. Se esta história existe, mas não temos
como descobri-la, a teoria dos memes permanece como uma explicação
verdadeira, mas a ciência dos memes se torna impraticável.
Uma possível resposta já foi desenvolvida através do conceito de
herdabilidade: acontece que mesmo na biologia muitas vezes não sabemos qual é
o gene de uma determinada característica fenotípica, e também podemos
desconhecer como ele foi passado, mas se formos capazes de perceber que os
filhos foram estatisticamente afetados pelos pais em relação a esta característica,
temos já o necessário para estudar a evolução, pelo menos de um ponto de vista
macro (cf. Dawkins 2005, p.243). Assim, o critério que utilizamos para montar as
403
filogenias e as narrativas históricas evolutivas não é a constatação molecular da
hereditariedade, mas sim a constatação estatística da herdabilidade:
Para que a seleção natural ocorra, em qualquer lugar do universo, deve haver
linhagens de coisas que se assemelham mais aos seus ancestrais imediatos do que
ao restante da população (Dawkins, 1998, p.103).
É deste modo que podemos contornar a crítica de Sperber, pois não
precisamos de um conhecimento preciso do que ele mesmo chamou de “microprocesso” para tratar em um nível mais elevado as questões evolutivas. Um
exemplo bem simples pode ser esclarecedor: se encontramos uma família de seres
humanos onde a incidência de uma determinada doença é muito mais alta do que
na média da população, então podemos praticamente assumir que esta doença tem
um forte fator genético, mesmo sem conhecer nada sobre como ela é instanciada
no DNA. Se, por um acaso, esta família não for pequena e limitada a uma só
região do mundo, mas for uma família grande, presente em muitos lugares e
muitas culturas, podemos praticamente eliminar os fatores ambientais e afirmar
que é uma doença genética. Podemos ainda ser mais específicos, pois se só os
homens, por exemplo, tiverem esta doença, então é quase certo que ela está
diretamente relacionada aos gametas, podendo ser um gene do cromossomo X,
passado pela mãe, ou dominante do Y, passado pelo pai.
Fica claro que muito pode ser dito mesmo sem o menor conhecimento de
como esta doença se dá no nível molecular e qual gene é responsável por ela.
Simplesmente a chance dela não ser uma doença genética é estatisticamente
irrelevante e deve ser tratada só se tudo mais falhar. Podemos, então, ir muito
longe sem conhecer nada do micro-processo.
No entanto, é inegável que o melhor, tanto na biologia quanto na memética,
é conhecer tais processos. Dentro da biologia quem trata da construção de tais
filogenias é o cladismo (seção 1.10). Já vimos que eles seguem buscando grupos
monofiléticos através da descoberta de homologias derivadas, ou seja, descobrir
quais espécies são irmãs descobrindo quais caracteres são compartilhados por elas
e só por elas. Baseado nestas distinções o cladismo pode separar os grupos e
montar árvores genealógicas. As técnicas cladísticas se desenvolveram muito e
hoje são consideradas muito poderosas, mas estão longe de serem infalíveis:
404
Infelizmente a elegância conceitual não assegura uma fácil aplicação. A
dificuldade, nesse caso, está em determinar o que precisamente é ou não é um
caráter derivado compartilhado (Gould, 1992, p.357).
Já vimos que mesmo a nossa melhor ferramenta para descobrir filogenias
deve se basear na probabilidade dada pelo princípio da parcimônia. É claro que
não há nada de errado com princípios probabilísticos, mas o fato de que eles estão
sendo utilizados significa que não se sabe realmente a história filogenética que
está sendo estudada, apenas é possível deduzir qual história é mais provável. O
exemplo que foi dado na seção 1.10 tratava de pássaros com ecolocalização. Não
se sabe ao certo se morcegos e certos pássaros foram os únicos a reter tal caractere
do seu descendente comum, mas é mais provável que eles tenham desenvolvido a
mesma capacidade separadamente. Ou seja, os detalhes, o que foi chamado de
micro-processo, não é conhecido verdadeiramente para se inferir uma filogenia.
Tanto isso é verdade que, embora só exista uma história filogenética
verdadeira, os métodos cladísticos muitas vezes nos deixam com o que foi
chamado de árvores sem raiz, ou seja, conhece-se a relação entre as espécies, mas
não se sabe como montar esta árvore em uma escala temporal, de modo que
diferentes árvores são possíveis (cf. Futuyma, 2002, p.318). Os métodos para se
resolver este problema são igualmente falíveis, sendo que o mais comum, como
vimos, é procurar este caractere em um grupo externo, mas “como todas as
técnicas de inferência filogenética, a comparação com o grupo externo é falível”
(Ridley, 2006, p.458).
Acontece que, além desta suposição ser probabilística e ser perfeitamente
possível que uma árvore com mais trocas genéticas seja a verdadeira, ainda há o
fato de que quando se estuda um grupo grande de espécies o número de árvores
possíveis pode ser grande demais para ser humanamente computável. Ficamos,
então, com o nosso melhor método cladístico ainda totalmente dependente de um
grupo de suposições, diferentes métodos estatísticos, e capacidade computacional
limitada. Tudo isso porque não é possível tratar de todas as relações físicas
envolvidas neste processo para se descobrir a verdadeira e única história
filogenética.
Não há dúvidas de que os métodos desenvolvidos na biologia são
significativamente mais poderosos do que os desenvolvidos na cultura, embora,
como vimos na análise para se descobrir as relações históricas de um manuscrito
405
do séc. VII (fore thae neidfaerae – seção 4.9), a filologia pode utilizar
praticamente o mesmo método. No entanto, o nosso desconhecimento sobre os
processos ligados à evolução cultural torna mais difícil estudar a cultura do que os
seres vivos. Mas tais análises cladísticas, principalmente as que usam evidências
moleculares, são bastante recentes na biologia, e esta funcionou muito bem por
mais de um século sem ela. Se a memética será capaz de desenvolver métodos tão
poderosos é uma questão em aberto. Métodos mais simples já existem na
lingüística histórica e na filologia, e não diferem muito dos métodos mais antigos
que existiam na biologia (seção 6.1). Eles existem também na história e na
antropologia, como vimos no caso da invenção do zero (seção 3.2). Ficamos,
então, como uma citação de Franz Boas, escrita antes do desenvolvimento da
cladística:
Do mesmo modo que nas investigações biológicas, os problemas de
desenvolvimento paralelo independente de formas homólogas obscurecem as
relações genéticas, o mesmo ocorre na investigação da cultura (Boas, in: Castro,
2006, p.100).
10.7
Problema da Velocidade e da Fidelidade
Esta crítica diz que a transmissão do meme é rápida demais e com muito
pouca fidelidade para permitir um processo evolutivo. É uma crítica diretamente
ligada ao já mencionado problema da unidade e também ao problema da mistura,
de modo que, se estes dois problemas forem resolvidos, este aqui também o será.
Deste modo, as respostas dadas a estes problemas valem aqui, mas é possível ver
que também esta crítica é baseada em um desconhecimento da biologia e dos
processos da evolução.
Os problemas da velocidade e da fidelidade estão unidos pelo problema da
unidade e da mistura, pois, segundo os críticos, a transmissão de informação
cultural se faz através de misturas, o que torna esta mudança evolutiva muito mais
rápida do que a mudança biológica. Em praticamente cada replicação temos um
novo meme. Na verdade, este problema é só uma forma mal desenvolvida da
crítica de Sperber de que a regra mental do comunicador raramente é a mesma que
a regra mental da platéia.
406
Embora durante esta crítica o problema da velocidade normalmente esteja
unido ao da fidelidade, eles têm um enfoque diferente. Cientistas sociais gostam
de ressaltar a questão da fidelidade, já biólogos costumam ressaltar o problema da
velocidade. Acontece que os biólogos sabem que para haver seleção deve haver
retenção, o que significa que a evolução não pode ser rápida demais:
Outra exigência da seleção cumulativa é uma taxa baixa de mutação. Se a taxa de
mutação é muito alta em relação à força da seleção, então os mecanismos que
geram a variação soterrarão os efeitos das seleções (Sterelny & Griffiths, 1999,
p.36. Minha tradução).
Para que a seleção fixe um gene, este deve se tornar visível para ela, de
modo que se mostre melhor adaptado do que seus alelos. O problema é que ele só
pode fazer isso se ambos estiverem em um mesmo fundo, trabalhando com os
mesmo genes. Só assim ele se destacará dos seus alelos e será selecionado ou não.
Um gene deve proliferar mais depressa do que se modifica. No entanto, na própria
citação acima vemos a chave para resolver este problema, pois a questão não é
verdadeiramente a velocidade, mas sim que a taxa de mutação não pode ser muito
alta em comparação com a força da seleção. Onde houver uma forte pressão
seletiva pode existir também uma alta taxa de mutação. É claro que se esta taxa
for exageradamente alta, ela acabará aniquilando os efeitos da seleção, pois
tenderá a mudar o próprio gene que estaria sendo selecionado. Tal problema é
grave o suficiente para deixar Dawkins preocupado:
Aqui devo admitir que estou inseguro. À primeira vista parece que os memes não
são, de forma alguma, replicadores de alta fidelidade (...) Parece que a transmissão
dos memes está sujeita à mutação contínua e também à mistura (Dawkins, 2001,
p.213)
A questão da mistura já foi devidamente respondida e com ela já se responde
boa parte da questão da fidelidade. Vimos que o próprio Dawkins não defende
mais este ponto (seção 3.1), mas outras respostas podem ser levantadas. No
entanto, antes é preciso destacar este problema de outro semelhante com o qual
pode ser confundido: segundo Cavalli-Sforza, em um estudo sobre a evolução das
línguas, a taxa de mutação varia muito de palavra para palavra em comparação
com a taxa de variação dos diferentes genes. Mas, do mesmo modo que genes
muito variáveis possuem muitos alelos, palavras muito variáveis possuem muitos
sinônimos. A grande diferença aqui é que os diferentes sinônimos podem ter
407
grafias muito diferentes, enquanto os diferentes alelos são muito parecidos entre si
(cf. Cavalli-Sforza, 2003, p.256). Só que ele mesmo deixa claro que isso dificulta,
mas não impede o estudo da evolução das línguas. É mais uma daquelas
diferenças que, na verdade, não importam muito. Quanto ao fato de que os alelos
normalmente são semelhantes entre si, mas os sinônimos variam muito em sua
grafia, isso só é um problema se acreditarmos que a mutação da linguagem deve
se dar por troca de letras como acontece na mutação genética. Além disso, uma
mínima diferença em um nucleotídeo pode se transformar em uma gigantesca
diferença fenotípica, como é tal fenótipo que deve estar adaptado ao meio,
podemos dizer que diferentes alelos podem ser muito diferentes fenotipicamente.
Mas talvez o mais interessante aqui seja o fato de que esta alta variabilidade na
mutação das palavras, sendo que umas mudam muito mais do que outras, indica
que há sim um processo discreto na evolução da cultura, ao contrário do que os
críticos supõem.
No entanto, este não é o nosso problema aqui. A questão é que a velocidade
da mudança seria tamanha que impediria a fidelidade dos memes e, deste modo,
sua seleção. Em primeiro lugar, não só Bonner e Wilson, mas até mesmo os
defensores da memética admitem que, ao menos originalmente, a cultura surgiu
por ser adaptativa para os genes. Ou seja, no início ela estava de fato atada por
uma coleira. O que a tornou adaptativa foi justamente a sua capacidade de se
adequar a um ambiente mais rapidamente do que os genes. Ou seja, a cultura só
existe porque é mais rápida! De outro modo seria inútil. Por isso, em princípio,
não é de se espantar que ela seja mais rápida.
Um dos motivos desta velocidade pode ser, como vimos com Richerson e
Boyd, que a cultura não é bem entendida como diferentes alelos disputando o
mesmo lócus (seção 4.9). Há uma disputa generalizada pela atenção, espaço na
memória e comando do comportamento. Praticamente cada meme compete com
todos os outros. Há, então, a possibilidade de que esta competição difusa implique
em uma enorme pressão seletiva em níveis desconhecidos pela biologia. Talvez o
mais perto deste nível de competição que aconteceria no mundo vivo seja a
competição entre um vírus e o sistema imune de seu hospedeiro o que, como
veremos em breve, também causa uma grande taxa de mutação.
Se o que foi dito está correto, uma alta pressão seletiva implicaria em uma
igualmente alta taxa de mutação, pois em ambientes assim uma taxa de mutação
408
baixa implica no rápido fim da variabilidade. Deve ficar bem claro que o
problema não é a velocidade da variação, mas sim a sua relação com a pressão
seletiva. Em outras palavras, a velocidade não importa, desde que os processos
necessários para a evolução estejam todos presentes. Do mesmo modo que um
filme visto em velocidade rápida não perde o nexo causal da história só porque
está mais rápido, pois a sucessão dos eventos continua sendo exatamente a
mesma. É o mesmo filme, só que em velocidade acelerada.
Se o aumento da velocidade da evolução cultural significar um aumento da
velocidade de todos os seus processos, não há problema algum91. Como há
indicações de que a pressão seletiva na evolução cultural é muito maior do que na
evolução biológica, então tal problema, se não for resolvido, é ao menos
deflacionado. Como vimos, para haver seleção deve haver retenção, esta retenção
permite que um gene se destaque de seus alelos em relação ao mesmo fundo
gênico, de modo que ele possa ser selecionado pelos seus efeitos. Mas se não há
alelos culturais, se a competição é generalizada, a necessidade de que um
determinado meme seja retido tempo suficiente para ser comparado a outros
memes semelhantes em relação ao mesmo fundo mêmico simplesmente não
existe. Tal meme é selecionado largamente por conta própria em relação a sua
adaptabilidade ao seu ambiente, lembrando que o ambiente dos memes não são só
as estruturas cognitivas humanas, mas também os outros memes que lá estão e que
competem diretamente com ele.
Cabe aqui lembrar algo que é comumente esquecido: o tempo que mede a
velocidade da evolução não é contado em horas ou anos, mas em gerações.
Espécies como o ser humano que tem uma geração de cerca de 25 anos terão uma
mudança evolutiva bem mais lenta do que espécies com geração de 1 ano. Mas
gerações podem ser ainda menores, ratos são capazes de procriar com cerca de 3
meses de idade e, depois disso, podem ter uma nova cria praticamente cada mês.
Mas isso não é nada comparado com a capacidade de replicação dos vírus.
Cabe, então, indagar: quando um meme é recebido, quanto tempo depois ele
pode ser passado? A resposta muitas vezes será: imediatamente. Na verdade,
dependerá do meme, aprender e passar um verso de uma música popular é muito
mais rápido do que aprender e passar física quântica. Em uma brincadeira de
91
Imagine que deus pode apertar a tecla fast forward de seu controle remoto e ver a evolução
biológica indo muito mais rápido do que nós poderíamos entender.
409
telefone sem fio, por exemplo, cada criança é uma nova geração, o que explica
porque quanto maior o número de crianças maior será a variação. Deste modo,
pode-se prever que a velocidade da mudança de memes que são rapidamente
passados deve ser proporcionalmente maior do que daqueles que são só
vagarosamente passados. Que em linhas gerais isso é verdadeiro está fora de
dúvida, memes mais complexos são transmitidos mais lentamente e mudam mais
devagar. No entanto, como há pouca pesquisa empírica sobre estas taxas, o
problema permanece em aberto. Mas, de qualquer modo, deve ficar claro que
quando se fala em velocidade da evolução é em relação ao número de gerações
que se está falando.
Uma vez tratado este problema de forma conceitual, podemos voltar à
biologia e ver que a visão comum da pouca variabilidade, implicando em alta
fidelidade, e da baixa velocidade da evolução biológica está errada. De modo que
podemos concordar com David Hull quando este disse que a evolução memética
pode até ser mais lenta do que a genética ao dizer que “os vírus e bactérias
reproduzem-se muito mais rápido do que a vasta maioria dos memes” (Hull, 2000,
p.55. Minha tradução).
Antes de entrarmos nos vírus é importante ressaltar que muitas vezes existe
uma visão errada de que existe pouca variabilidade na natureza, principalmente
entre não biólogos. Já vimos que este erro é o erro fundamental refutado por
Darwin e que é a base do pensamento populacional que, por sua vez, é a base da
teoria da evolução (seção 1.2 e seção 9.3). Sabemos que o número de espécies
deve ser algo entre 10 e 100 milhões, mas esta variabilidade entre as espécies é
irrisória se comparada com a variabilidade dentro das espécies que, segundo o
darwinismo, e o que está na origem da própria existência das espécies:
uma população é um conjunto imensamente diverso de genótipos e não existe algo
como o genótipo do tipo selvagem ou normal; ao invés disso, a norma é a
diversidade (Futuyma, 2002, p.100 - 101)
Não há dois genótipos absolutamente iguais, nem mesmo gêmeos. Já vimos
que, no caso do ser humano, a quantidade de mutações por reprodução é de
aproximadamente 200 mutações (cf. Ridley, 2006, p.207) e que existem pelo
menos 3 milhões de diferenças entre o DNA de um espermatozóide ou óvulo e o
410
DNA de outro. Vimos também que a variabilidade é tamanha que não se encontra
só dentro das espécies, mas até dentro dos próprios organismos:
duas moléculas de DNA humanas, selecionadas aleatoriamente (incluindo duas
dentro de qualquer corpo humano), diferem em cerca de 1.000 sítios. O DNA
humano pode ser menos diverso do que o de muitas outras espécies (...). O DNA de
Drosophila possui uma diversidade nucleotídica quase 10 vezes maior do que o do
DNA humano (Ridley, 2006, p.191).
O caso da Drosophila melanogaster é um dos mais interessantes, pois as
estimativas são de que há pelo menos uma mutação por mosca, por geração,
afetando sua viabilidade (cf. Futuyma, 2002, p.78). Cada mosca é uma mosca
nova. Isso fica ainda mais evidente se tratarmos dos vírus e, principalmente, dos
retro-vírus como é o caso do HIV. Este tem se mostrado extremamente difícil de
ser curado justamente por causa de sua alta taxa de mutações, que é cerca de 10-4,
mas como ele tem 104 nucleotídeos e como 1012 vírus novos são gerados
diariamente em cada indivíduo médio com AIDS, então:
podemos estar certos de que cada posição ao longo da extensão de 104 nucleotídeos
do vírus sofrerá mutação a cada dia em um paciente com AIDS. Na realidade, cada
mutação nucleotídica individual possível ocorrerá muitas vezes, juntamente com a
maioria das combinações possíveis de mutação em dois nucleotídeos (Ridley, 2006,
p.118).
É uma taxa de variação absurda e só não implica em uma variabilidade
também absurda por causa das pressões seletivas. No entanto, podemos dizer que
cada indivíduo tem o seu, na verdade, os seus próprios vírus da AIDS. O
tratamento só é possível porque nem todos os lócus variam com taxa igual,
aqueles mais permanentes são o alvo do tratamento. Dawkins nos diz que a
duplicação feita pela mente poderia ser tão fiel quanto de um vírus de RNA (cf.
Dawkins, 2005, p.241).
Mas não são só os vírus e as bactérias que sofrem com a alta variabilidade.
Nos últimos 15 mil anos houve poucas mudanças evolutivas nos seres humanos,
mas enquanto isso foi possível transformar um magnífico lobo em um patético
chiuaua. Experimentos de seleção feitos nos últimos 20 anos na natureza
mostraram que a evolução pode ser bastante rápida, como Gould queria, tendo
fortes mudanças genéticas em apenas algumas poucas gerações (cf. Laland &
Brown, 2002, p.190). Na verdade, como vimos no caso da poliploidia, uma nova
espécie pode surgir da noite para o dia:
411
Normalmente, é preciso cerca de 10.000 anos para que uma nova espécie seja
produzida, embora haja casos mais raros, porém bem conhecidos – tais como
aqueles envolvendo hibridização – em que novas espécies são formadas, ou
começam, em uma geração (Bonner, 1980, p.55. Minha tradução).
Esta alta variabilidade só não é mais alta por causa dos inúmeros
instrumentos de revisão que o DNA tem. Tais revisores é que garantem a alta
fidelidade na replicação do DNA, sem eles teríamos cerca de 5.000 letras de DNA
degeneradas por dia em cada célula humana (cf. Dawkins, 2001, p.190). Jablonka
nos diz que a taxa de mutação poderia ser de até 1 para cada 100 (cf. Jablonka &
Lamb, 2005, p.86). Vemos, então, que ao contrário do que é normalmente dito, a
taxa de mutação do DNA é muito alta, só que é corrigida. Mas antes de existirem
estes instrumentos de revisão, tal taxa deveria ser absurdamente alta, e mesmo
assim foi possível a evolução! Cabe notar que temos dentro da memética algo
semelhante a este mecanismo de correção, nas palavras de Balckmore:
O telégrafo e o telefone, o rádio e a televisão, são todos passos em direção à difusão
mais eficiente dos memes.
(...)
As mensagens de correio eletrônico proporcionam alta fecundidade, baixa
fidelidade e baixa longevidade (as pessoas as enviam aos montes, não se
preocupam em escrever cuidadosamente ou corrigir os erros, e as jogam foram
logo). As cartas estão marcadas por baixa fecundidade, alta fidelidade e alta
longevidade (as pessoas escrevem menos cartas, constroem-nas cuidadosa e
educadamente e, muitas vezes, guardam-nas). Os livros mostram altos índices de
todos os três fatores (Blackmore, 1999, p.212. Minha tradução).
Podemos inclusive ver que a baixa fidelidade das mensagens eletrônicas está
criando uma nova grafia para o português, baseada principalmente na
simplificação na assimilação da grafia com o som e, talvez mais inovador, na
tonalidade emotiva de textos escritos. Milhares de exemplos poderiam ser dados:
“fim de semana” passou a ser escrito fds, “fique” agora se escreve fik, assim como
“vem cá” se escreve vem k, “beijos” pode ser escrito como bjoos, bsuss, bjicas, ou
até mesmo um simples asterisco. Isso sem contar com as expressões para risos (rs,
hahah, ahauhaua etc.), expressões para tristeza (chiuf, snif etc.), expressões
faciais ( :), :p, 8), etc.), a multiplicação de letras para dar expressão a uma palavra
(lindooooo), o exagero nos pontos de exclamação ou interrogação, a utilização de
maiúsculas para dar enfoque em uma palavra, a utilização de sinais e letras que
não são do português, e por último a utilização de letras maiúsculas e minúsculas
412
alternadas só por motivos estéticos (MuitO leGaL), assim como a utilização de
cores diferentes. Tudo isso pode ter surgido porque o texto escrito perde o seu
lado gestual e, com ele, a tonalidade emotiva da fala (capítulo 8). Não temos
como saber qual será o futuro, mas é possível que ao menos parte destas
mudanças se unam à língua canônica92. Mas, como já vimos, a língua escrita tende
a mudar mais lentamente, justamente por conter processos de revisão.
No entanto, qualquer professor de português costuma não gostar destas
mudanças e tende a funcionar, ele mesmo, como um instrumento de correção.
Instrumento esse que ganhou grande força com a invenção da gramática, de
dicionários e de tesauros. A própria invenção da escrita foi, como vimos, uma
passo para a maior fidelidade se comparada com a fala. Tal fidelidade aumentou
ainda mais com os sistemas de correção de erros encontrados, por exemplo, no
programa Word93.
Uma vez visto que existem replicações com baixa fidelidade e alta
velocidade na biologia, podemos passar para o outro lado da moeda e
percebermos que há na cultura replicações com alta fidelidade e baixa velocidade.
Iniciamos mostrando a preocupação de Dawkins com este problema, mas ele
mesmo parece ter se despreocupado, no prefácio do livro de Blackmore, ao
lembrar que a linguagem, a religião e as tradições são replicadores de alta
fidelidade (cf. Dawkins, in Blackmore, 1999, p.x). É verdade que a religião do pai
nunca é exatamente a mesma do filho, mas costuma ser suficientemente a mesma
para ser tratada ainda pelo mesmo nome. Do mesmo modo que os filhos são
sempre geneticamente diferentes dos pais, mas só raramente eles são diferentes o
suficiente para serem de outra espécie. Por isso Richerson e Boyd puderam
constatar a alta fidelidade ao dizer que a teoria da co-evolução “precisa explicar
porque os fazendeiros alemães de Freiburg possuem crenças a respeito da vida
diferentes das de seus vizinhos Yankees quase 150 anos depois de deixar a
Europa” (Boyd e Richerson, 2000, p.146. Minha tradução). Do mesmo modo,
Eagleton nos diz que “Muitos fenômenos culturais se mostram mais
92
Devo admitir que algumas destas mudanças me irritam, mas outras me fascinam, principalmente
as responsáveis por colocar tonalidades emotivas em textos. Admito ter me segurado para não
colocar vários pontos de exclamação para enfatizar algo, ou uma carinha sorridente depois de um
comentário irônico.
93
Se bem que ele podia conhecer melhor a regra para a utilização das crases... :)
413
obstinadamente persistentes do que uma floresta tropical” (Eagleton, 2005,
p.136).
A impressão que temos de uma altíssima variabilidade da cultura talvez seja,
na verdade, bastante ilusória justamente porque, como querem os antropólogos,
costumamos tratar “a cultura” como um bloco monolítico. Deste modo, a variação
em qualquer uma de suas partes conta como uma variação “na cultura”. No
entanto, não tratamos “o mundo vivo” como tal bloco, pois discutimos a variação
só dentro de cada espécie ou de cada população. Se tratarmos “a natureza” como
um todo unido, deveríamos também dizer que a variabilidade “da natureza” é
extraordinária. Do mesmo modo, se tratamos a cultura como dividida em
unidades, mesmo que sejam unidades de alto nível, como espécies culturais,
veremos que a variabilidade dentro de cada grupo deste não é tão alta como se
supõe e, principalmente, que grupos diferentes têm taxas diferentes de mudança.
Por isso que Laraia disse que “sociedades indígenas isoladas têm um ritmo
de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade complexa, atingida por
sucessivas inovações tecnológicas” (Laraia, 2006, p.95). Vemos que ele está
claramente tratando a cultura como sendo um todo indissociável. Mas se essa
“sociedade complexa” for complexa justamente porque é formada de partes mais
simples, então cabe discutir o ritmo de mudança de cada parte desta, e não o ritmo
de mudança do todo. Veremos que, ao tratá-la assim, tal ritmo diminui
consideravelmente. Mas, é claro, resta ao crítico dizer que no caso da cultura há
mistura entre as partes simples. No entanto, já tratamos deste problema na seção
10.5.
10.8
Problema do Genótipo e Fenótipo do Meme
Este talvez seja um dos problemas mais irrelevantes para a memética, o
único verdadeiro motivo para que ele seja tratado é para facilitar a compreensão
de outro problema que será em breve abordado, a saber, o problema do
lamarckismo. A questão aqui é que não se sabe bem onde está a demarcação entre
o fenótipo e o genótipo dos memes. Talvez este problema tenha surgido porque no
414
livro que deu origem aos memes deu também origem a famosa abordagem de
Dawkins do fenótipo como sendo o veículo dos genes.
Deste modo, inicialmente parecia não haver grandes problemas aqui, os
memes seriam informações e seus veículos seriam livros, quadros, cds, etc (cf.
Dennett, 1998, p.362). Por isso Dawkins disse que “palavras, músicas imagens
visuais, estilos de roupas, gestos faciais seriam efeitos fenotípicos de memes
residindo em cérebros” (Dawkins, 1999, p.109). Já vemos aí uma discordância
que tratamos anteriormente, pois Dennett se recusa a tratar os memes como
exclusivamente cerebrais.
O problema fica mais evidente se o que estiver em jogo forem os
comportamentos. Ao aprender a dar cambalhota, por exemplo, é a regra mental de
como realizar este ato o “genótipo” do meme e o ato da cambalhota seu fenótipo,
ou é a própria cambalhota o genótipo? A resposta mais imediata é que o meme é a
regra para o ato guardada no cérebro, mas se o que acontece durante o ato de
aprendizagem é a imitação do comportamento, então é este que é replicado e,
deste modo, ele é que deve contar como genótipo do meme. Talvez isso possa ser
resolvido ignorando a distinção entre replicador e veículo de Dawkins e utilizando
a distinção entre replicador e interagente de Hull, pois para Hull um replicador
pode ser, ele mesmo, um interagente. Mas não seguiremos por esta via aqui.
Esta distinção elogiada por Dawkins entre fenótipo e genótipo fez
Blackmore propor a famosa distinção entre copiar o produto e copiar a regra.
Podemos pensar, como fez Blackmore, em uma brincadeira de telefone sem fio
onde o que é passado é um desenho qualquer que deve ser copiado e depois
passado para o outro que irá copiar e assim sucessivamente. Neste caso, o que será
copiado é o próprio rabisco no papel e, deste modo, seria copiado o produto. Isso
significa que se alguém fizer um desenho errado, este erro será copiado. Tal tipo
de hereditariedade é, segundo Blackmore, Lamarckista. Mas se ao invés de um
desenho, ensinássemos a uma criança a regra de fazer um boneco de origami e
pedíssemos que ela passasse esta regra adiante, teríamos um caso de copiar a
regra. Dawkins prevê que neste caso erros seriam muito menos comuns. Este seria
um tipo de herança darwinista. Para Blackmore, ambos os tipos seriam possíveis
para os memes. Vemos que neste caso o que está sendo copiado não é o
comportamento e sim a regra mental que origina o comportamento e, como foi
415
apresentado no início deste capítulo, é justamente contra esta visão de que regras
são passadas que Sperber faz as suas críticas (seção 10.1).
Como vimos na resposta às críticas de Sperber, elas só são válidas se
tratarmos memes como informações (regras) para o comportamento armazenados
em cérebros, mas se os memes forem os próprios comportamentos, então fica
claro que eles são fielmente copiados através do processo de imitação. Isso deu
origem ao que poderíamos chamar de behavioristas meméticos:
Os behavioristas sugerem que atividades tais como a fabricação de panelas são
equivalentes meméticas dos genótipos, enquanto que os mentalistas diriam que tais
comportamentos são manifestações fenotípicas de memes-dentro-dos-cérebros
(Aunger, 2000, p.6. Minha tradução).
Aunger nos dá Gatherer e Marsden como exemplos de behavioristas
meméticos. No entanto, eles têm que solucionar o difícil problema de que em
outros processos de aprendizagem não há uma verdadeira cópia do
comportamento. Um professor ao explicar um conceito a um aluno está tentando
passar um meme, mas não quer que o aluno copie o seu comportamento, apenas
que ele aprenda aquele meme. Blackmore não é uma behaviorista memética, mas
acaba caindo no mesmo problema ao insistir que memes só podem ser passadas
por “verdadeira imitação” (seção 3.3 e seção 8.1).
Richerson e Boyd apresentam este problema de uma maneira um pouco
diferente, mas muito interessante. Eles nos falam de duas versões: uma trata a
cultura como parte do comportamento determinado pelas instituições sociais:
dirigimos do lado direito porque esta é a lei de nosso país. A cultura, desta forma,
estaria armazenada nas instituições. Já a segunda versão nos diz que a cultura está
armazenada em cérebros: dirigimos do lado direito porque aprendemos a dirigir
assim. No entanto, eles, assim como a grande parte dos defensores da memética,
preferem a segunda versão e chegam a definir a cultura como sendo, na maior
parte, informação armazenada em cérebros (cf. Richerson & Boyd, 2006, p.61) .
Na verdade, toda esta confusão se originou da pergunta de qual seria o
fenótipo e o genótipo dos memes, mas a verdadeira pergunta deveria ser “existe a
distinção entre fenótipo e genótipo em memes?” Para o darwinismo estar certo,
diz o dogma central da biologia, deve haver uma seta causal saindo do genótipo
em direção ao fenótipo, mas não pode haver uma seta saindo do fenótipo em
direção ao genótipo. No entanto, vimos que Jablonka levanta algumas questões
416
em relação a isso mostrando que é possível que existam seres onde as mudanças
genéticas, embora ainda se dêem ao acaso, ocorram mais especificamente na área
do genótipo em que são necessárias (seção 1.5).
No entanto, melhor do que seguir pela linha de raciocínio de Jablonka, que
tenta achar um resquício do lamarckismo, podemos ficar com a ortodoxia
darwinista e lembrar que esta diferenciação weismanista entre germe e soma só
corresponde a um grupo seleto de espécies. Mas mesmo nestas espécies, Jablonka
mostrou muito claramente que existem heranças epigenéticas, ou seja,
informações herdadas que não vêm diretamente do genótipo. Mais importante do
que isso é o fato de que em organismos unicelulares e organismos com
reprodução assexuada, não há nenhuma diferença substancial entre genótipo e
fenótipo. Mesmo uma célula eucariota tendo um núcleo bem distinto, a
reprodução não é só de seu núcleo, mas da célula toda. Na verdade, seguindo
ainda Jablonka, até na reprodução sexuada o que é passado não é só o material
genético, mas toda uma estrutura celular bem formada e necessária para a
replicação do DNA.
Isso não significa que Weismann estava errado, apenas que a separação entre
fenótipo e genótipo é restrita. Organismos que têm esta diferença normalmente
passam por um processo de reprodução que é indireto, com as células somáticas
formando gametas com metade de seus cromossomos através da meiose e os
gametas posteriormente se unindo, normalmente através do sexo. Já a reprodução
assexuada é mais direta, um organismo somente se divide em dois, ou então um
outro organismo simplesmente brota do antigo. Neste caso não há distinção clara
entre fenótipo e genótipo.
Vimos no caso dos neurônios-espelho, e principalmente no caso de pacientes
incapazes de inibir tais estruturas, que um comportamento pode ser observado e
realizado praticamente pelo mesmo neurônio, sem a necessidade de se falar, como
queria Blackmore e Sperber, em criação de algum tipo de regra mental, que será
posteriormente implementada (capítulo 8). Mas isso não significa que o
comportamento não teve que se transformar em informação cerebral para ser
copiado. A diferença é que tal informação não teve que ser processada ou
guardada na memória como um meme distinto. É um processo de cópia muito
mais direto e muito mais simples, sem nenhuma indicação de que algo pode ser
separado como sendo o fenótipo.
417
Já nos casos de aprendizagem sem ser por imitação direta, que Blackmore
tenta deixar fora da memética, mas que foram aqui incluídos, como o caso de um
professor ensinando ao aluno, talvez seja possível fazer tal distinção, embora não
pareça ser necessário. No entanto, nestes casos parece ser bem menos
problemático a aplicação do que Blackmore chamou de copiar a regra e que seria
um processo darwinista. Vimos que um professor não quer que um aluno imite
seu comportamento, e sim que entenda o que está sendo passado. Nestes casos, se
for feita tal separação, ela não parece ser muito problemática, pois é somente nos
casos de “verdadeira imitação” onde fica indistinto se o que é copiado é o
comportamento ou a regra para tal comportamento. Podemos, assim, entender
através da memética a velha história, que todos ouvimos dos nossos professores,
que não devemos decorar e sim aprender. O que nossos professores estavam
falando é que é melhor uma herança memética do tipo darwinista do que uma
lamarckista!
10.9
Lamarckismo: ser ou não ser, eis a questão
Uma vez visto que a memética não precisa de uma clara distinção entre
fenótipo e genótipo, fica claro que chamá-la de lamarckista, como muitos críticos
fazem, não é correto. Acabamos de ver que a própria Susan Blackmore faz a
diferenciação entre copiar o produto e copiar as instruções. Um exemplo seria se
você aprende uma música ouvindo-a várias vezes e imitando, ou através da
partitura. No primeiro caso seria uma transmissão lamarckista e no segundo seria
darwinista (cf. Blackmore, 1999, p.61). Para ela a memética seria, a princípio,
lamarckista e darwinista, no entanto, ela levanta a questão do que exatamente
seria o fenótipo e do que seria o genótipo e, neste caso, esta questão deveria ser
respondida antes de chamar o que quer que seja de lamarckista.
Mas na verdade, memes, se são alguma coisa, são o genótipo e não o
fenótipo. Isto significa que mudanças nos memes, seja lá que mudanças forem,
são mudanças no genótipo. Se o ato de copiar o produto for visto como um ato de
replicação, então as mudanças ocorridas durante este ato são mudanças durante a
418
replicação e, deste modo, darwinistas. Só estaria ocorrendo aqui um processo
lamarckista se as mudanças no produto tivessem ocorrido depois de sua criação e
copiadas deste modo. Um disco gravado e depois arranhado, se fosse depois
regravado de modo que o arranhão se replicasse, seria mais propriamente uma
herança lamarckista94.
Na verdade, há muita confusão no que diz respeito a chamar a memética de
lamarckista, provinda do próprio fato de que há muita confusão na própria
definição do que é lamarckismo. Com certeza não se está falando do uso e desuso,
mas o lamarckismo não é só isso, a crítica pode dizer respeito a teleologia do
lamarckismo, ou a herança dos caracteres adquiridos, ou ao instrucionismo, ou
mesmo ao progressismo. Os críticos raramente distinguem entre estes processos
ao dizerem que a memética é lamarckista, e talvez mais importante ainda,
raramente dizem qual é o problema em ser lamarckista!
Em relação à teleologia e ao progressismo, que diz que temos um
melhoramento das espécies, tal discussão de se há progresso ou não é
praticamente idêntica na biologia e na cultura. Particularmente encontramos uma
versão desta discussão na filosofia da ciência, com a criação do conceito de
incomensurabilidade em Kuhn. Tal discussão não será abordada aqui. Basta
perceber que esta é mais uma desanalogia que acabou se mostrando uma
interessante analogia. Já o instrucionismo diria que as mudanças evolutivas não se
dão ao acaso, mas são
instruídas, direcionadas pelo
ambiente. Este
direcionamento se daria pela intencionalidade do sujeito que quer resolver um
problema em particular e que, deste modo, direcionaria a evolução. Trataremos
com mais detalhe a questão do sujeito do meme na próxima e última sessão. Por
hora basta levantar a questão de que ver a evolução cultural como sendo um
processo de resolução de problemas direcionados pela razão humana pode até
fazer sentido para a evolução tecnológica e científica, mas não faz sentido algum
para a evolução artística95. Além disso, acreditar que tecnologias e argumentos
científicos são aceitos baseados só em argumentos racionais é também uma
94
Muitos argumentos que serão apresentados aqui foram muito melhor trabalhados em uma
dissertação de mestrado sobre evolução tecnológica recém defendida por Marcos Toscano, na
UNB, com a orientação do professor Paulo Abrantes, de modo que a presente discussão se mostra
dispensável. Recomendo inclusive a leitura da dissertação, principalmente da análise feita por ele
do processo evolutivo dos motores de carro a álcool, um estudo de caso que ocupa boa parte de sua
dissertação (Brito, 2009).
95
Devo essa constatação a Marcos Toscano.
419
posição sobre forte crítica dentro da filosofia da ciência, como Kuhn e Feyerabend
muito bem mostraram.
De qualquer modo, fica ainda a questão de que mutações genéticas são cegas
em relação ao ambiente, ou seja, pode haver um problema que uma simples
mutação pode resolver, mas isso não a torna nem um pouco mais provável de
surgir do que qualquer outra. Ao contrário disso, as mutações culturais parecem
ser específicas para cada problema. Um cientista que está tentando resolver um
determinado problema não acaba criando uma música sem querer, embora
algumas vezes algo completamente inesperado possa acontecer. Isso implicaria
em um
determinado
instrucionismo
lamarckista
na
evolução
cultural,
instrucionismo esse que Jablonka diz que também pode existir na biologia e,
como vimos, se isso não significa a refutação do darwinismo lá, então não deve
significar isso aqui (seção 1.5).
No entanto, tal instrucionismo deve ser visto com mais detalhe. Veremos a
seguir que a visão da mudança cultural como sendo oriunda de um sujeito criativo
capaz de decidir o que vai mudar e como vai mudar é muito provavelmente
errada. O mais razoável é dizer que o sujeito é capaz de, no máximo, restringir as
possíveis variações que possam surgir, mas não é capaz de decidir qual variação
surgirá ou de criar variações por conta própria. Exatamente como Jablonka
mostrou que certos organismos podem fazer! Mas mesmo neste caso de mutação
restrita, ela ainda é aleatória e cega e pode surgir ou não. Por isso é que a proposta
de Jablonka não é verdadeiramente lamarckista. Do mesmo modo, um sujeito
pode até restringir qual é o problema que ele está trabalhando, mas não pode fazer
a solução aparecer. Ela pode muito bem nunca aparecer ou pode ser uma solução
ruim96.
Cabe aqui uma última questão em relação à “crítica” de que a memética é
lamarckista, esta questão seria “qual é o problema em ser lamarckista?” Vimos no
primeiro capítulo que a oposição entre Darwin e Lamarck, no que diz respeito ao
instrucionismo do ambiente na criação e herança de caracteres adquiridos, é muito
mais uma oposição criada com fins explicativos do que uma verdadeira oposição
entre teorias (seção 1.4). A diferença aqui é somente que Darwin acreditava que as
96
Em resposta a esta crítica, Toscano nos lembra que um caso típico de restrição às mutações na
biologia é o processo conhecido como canalização (seção 1.3.4), que faz com que algumas
mutações sejam muito mais prováveis do que outras de modo a criar uma tendência a
adaptatividade, pois suprime variações deletérias.
420
mutações eram cegas e Lamarck acreditava que elas eram instruídas pelo
ambiente. Como não conhecemos nenhum ser vivo que seja capaz de transcrever
mudanças fenotípicas em mudanças genéticas, e também como Dawkins gosta de
dizer, os genes são uma receita e não uma planta baixa dos organismos, então
podemos dizer que não há neste mundo nenhum organismo lamarckista, mas isso
não quer dizer que não possa existir um e que, se ele surgir através de um
processo darwinista, poderia muito bem ser selecionado pela seleção natural.
Em seu artigo sobre o darwinismo universal, Dawkins deixa bem claro que
um organismo com um genótipo tipo planta baixa poderia existir e poderia ter a
capacidade de herdar caracteres adquiridos, mas mesmo tal organismo precisaria
estar sobre forte pressão darwinista da seleção natural (cf. Dawkins, 1983, p.415).
Acontece que se ele herdasse todas as suas mudanças fenotípicas, ele herdaria
características mal-adaptativas como cicatrizes, mutilações, seqüelas de doenças,
problemas de velhice etc. Seus descendentes seriam pior adaptados do que ele
próprio. Para que existam mudanças que melhorem a adaptação, deve haver um
mecanismo de seleção que garanta que só os caracteres benéficos sejam herdados.
Tal processo de seleção não seria nada além da seleção natural darwinista. A
única diferença entre este processo e o darwinismo está na causa das mutações.
Causa esta que era completamente desconhecida por Darwin quando ele propôs
sua teoria. Não é sem razão que podemos até mesmo dizer que Darwin era
lamarckista.
10.10
Problema do Sujeito do Meme e da Criatividade
Este é outro problema que já foi abordado, pois é uma crítica muito comum.
A chamada perspectiva do meme trata este como um agente de sua própria
replicação, enquanto as pessoas seriam receptores passivos. São os memes que
querem ser passados e nós somos controlados por eles. É a origem da imagem do
meme como um vírus que invade nossa mente. Vimos que Dennett, para resolver
isso, fala que esta idéia de um vírus que nos invade não está correta, pois o meme
está na própria fundação do que chamamos de “pessoa”: esta seria um cérebro
421
povoada de memes, dentre eles existiria um meme bastante forte conhecido como
“eu” (seção 3.2).
Para muitos esta visão do sujeito como sendo um conjunto de memes é
inaceitável. Deve haver um sujeito já pré-existente que não só escolha os memes
que vai receber, como também que cria novos memes. Talvez o que destaque este
problema dos outros é o fato de que até mesmo entre os defensores da memética
há forte controvérsia. Cavalli-Sforza, por exemplo, fala que a mutação cultural é
direcionada, querendo dizer que ela é intencional e voltada para metas escolhidas
por um sujeito. Já Rosaria Conte, uma defensora da memética, acredita no agente
memético autônomo (cf. Conte, 2000, p.90), assim como Kate Distin (2005), que
escreveu um dos últimos livros sobre memes. Jablonka deixa bem claro sua
discordância quando diz que “o problema com o tipo de autonomia afirmada pelo
discurso sobre os memes é que o agente biológico-psicológico-cultural ativo
desaparece” (Jablonka & Lamb, 2005, p.224. Minha tradução). Curiosamente até
Pinker parece seguir por esta linha ao dizer que não há lugar para a criatividade
humana na memética, mas logo veremos que ele mesmo nos ajudará na resposta.
Uma possível resposta já foi detalhadamente exposta (seção 3.3): é o fato de
que memes devem se adaptar ao seu ambiente e este pode muito bem ser o sujeito
humano. Falar em perspectiva do meme não é ignorar o sujeito, mas sim tratá-lo
como parte do ambiente, assim como as escolhas alimentares de um macaco são
parte do ambiente ao qual as frutas se adaptam. Se esta questão for compreendida,
todo o problema do sujeito do meme simplesmente desaparece, pois fica claro que
defender a memética não significa negar a existência de tal sujeito! Esta resposta
já é suficientemente satisfatória. No entanto, é possível dar uma segunda resposta,
que vimos dentro da teoria da consciência de Dennett, que seria ainda mais
profunda, pois diz que tal sujeito sequer precisa existir (seção 3.2).
Dennett nos apresenta uma teoria da mente e da consciência que prescinde
completamente de qualquer coisa semelhante a um sujeito autônomo capaz de
livre escolha. Dentro da filosofia da mente são várias as teorias sobre a mente e a
consciência, muitas radicalmente discordantes em relação à Dennett, mas são
poucas, se é que existe alguma, que sentem a necessidade de postular alguma
espécie de “eu” que estaria no controle do comportamento. Até mesmo teorias
dualistas, como a de David Chalmers (1996), que nos fala do caráter especial e
único da consciência, não menciona qualquer tipo de controlador central por onde
422
toda a experiência passa e de onde as ordens provêm. Segundo Dennett, o que de
fato acontece em nossa mente é uma luta de múltiplos esboços pelo controle do
comportamento. O que chamamos de “eu” é só o esboço que está no comando no
momento. Baseado em Dennnett, Dawkins pode dizer que:
Quando anunciamos ao mundo uma boa idéia, quem sabe que seleção
subconsciente, quase darwiniana, não se passou nos bastidores dentro de nossa
cabeça (Dawkins, 2000, p.389).
Para deixar esta questão mais intuitiva, Dennett nos fala dos diferentes tipos
de mente através de diferentes “criaturas” (Dennett, 1998, p.390 - 394). As
criaturas Darwinianas seriam organismos sem capacidade de aprender, elas
seriam cegamente geradas e testadas em campo de modo que só os melhores
sobrevivem. Já as criatura Skinnerianas teriam uma certa plasticidade, tentariam
às cegas várias respostas ao ambiente, até que uma seria selecionada e retida por
reforço. As criaturas Popperianas seriam capazes de simular o ambiente externo
em um “ambiente interior” que seria relevantemente parecido com o ambiente
externo. Neste ambiente interno elas tentariam várias respostas que teriam sucesso
por tentativa e erro, fazendo uma espécie de pré-seleção. Só depois deste processo
interno, que ficou conhecido com o nome de “pensamento”, é que elas agiriam
baseadas naquela tentativa que teve sucesso internamente. Em outras palavras,
elas seriam capazes de planejar antes de agir. Por último teríamos os seres
humanos que seriam criaturas Gregorianas, estas seriam capazes de incorporar
instrumentos desenvolvidos por elas próprias ao seu ambiente interno, sendo que
o principal instrumento seria a linguagem, de modo que poderiam manipular suas
representações do meio ambiente mais diretamente. Deste modo, o que chamamos
de projeto e de criatividade seria um processo de simulação interna do ambiente
externo de onde só a melhor resposta sairia, dando a impressão de que somos
capazes de criar tal resposta quando, na verdade, ela surgiu por um processo
interno que é em tudo parecido com um processo seletivo de tentativa e erro.
A questão aqui não é defender a teoria de Dennett, e sim explicitar que uma
posição na filosofia da mente, ainda mais uma posição tão forte quanto a que diz
que existe um sujeito autônomo, não pode ser simplesmente assumida. Deve
haver uma argumentação mais forte dando suporte para tal posição, em especial
uma argumentação que diga como tal sujeito surgiu durante a evolução, para que
423
propósito ele serve e qual é o lugar dele no cérebro. Quando colocados de frente a
estas questões fica muito mais difícil defender a existência de tal sujeito. A idéia
de um centro controlador parece não se adequar à idéia de um cérebro com
funcionamento paralelo.
As indicações científicas mais atuais são de que não há espaço nenhum para
um centro controlador no cérebro. Pinker, embora tenha criticado a memética pela
falta de um sujeito criativo, é que nos diz:
Os neurocientistas cognitivos não só exorcizaram o fantasma [o eu], mas também
mostraram que o cérebro nem sequer possui uma parte que faz exatamente o que se
supõe que o fantasma faça: examinar todos os fatos e tomar decisão para o resto do
cérebro implementar. Cada um de nós sente que existe um ‘eu’ único no controle.
Mas essa é uma ilusão que o cérebro se esforça arduamente para produzir” (Pinker,
2004, p.69 - 70)
Pinker nos fala de conhecidos experimentos realizados por Michael
Gazzaniga e Roger Sperry, que utilizaram pacientes que tiveram o corpo caloso
cortado. Tal parte do cérebro é o que liga os dois hemisférios e é normalmente
cortado em cirurgias para impedir ataques epiléticos. Nestes pacientes os dois
hemisférios passam a funcionar praticamente como duas pessoas distintas! Sendo
que um hemisfério só recebe informação do outro interpretando o comportamento
da própria pessoa. Experimentos são feitos mostrando algo só para um hemisfério
e depois vendo o que o outro hemisfério acha que está acontecendo. Por exemplo,
mostra-se uma placa dizendo “ande” para o hemisfério direito, o paciente levanta
e começa a andar. Então é feito a pergunta para o hemisfério esquerdo de por que
ele se levantou e começou a andar. As respostas são as mais estranhas, mas
sempre com algum sentido do tipo “porque fui pegar água” ou “minhas pernas
estavam dormentes” e coisas do tipo. Nunca são respostas mais razoáveis do tipo
“não sei” ou “desde que fiz a cirurgia vocês fazem experimentos comigo e me
fazem fazer coisas que eu mesmo não entendo”. Tais experimentos e tais respostas
não são exclusivos de pacientes que sofreram este tipo de procedimento, muito
pelo contrário, são extremamente comuns nos mais diversos tipos de problemas
neurológicos. Só para dar mais um exemplo, existem pacientes que juram ser
capazes de enxergar, mas obviamente estão completamente cegos, sendo que ao
andar tropeçam em praticamente tudo, mas criam as mais absurdas justificativas
para seus tropeços. Exemplos como este poderiam ser dados ilimitadamente.
424
Muitos outros experimentos semelhantes a estes indicam que o que
chamamos de “eu” ou de “mente consciente” é uma forjadora alucinada de
interpretações e explicações (cf. Ramachandran & Blakeslee, 2002). Enquanto o
corpo faz o que tem que fazer, ela fica simplesmente inventando motivos para isso
e, pior, acreditando realmente que o corpo funciona por causa dos motivos que ela
inventa97! Infelizmente, não é tema do presente trabalho as discussões sobre o
“eu”, mas em praticamente toda a bibliografia da filosofia da mente e das
neurociências podemos encontrar trabalhos sobre este assunto. Em praticamente
todas elas o consenso é que, como disse Pinker, este fantasma foi exorcizado.
Mas é comum acreditar na existência de tal centro. Em especial, é comum
dar a ele o crédito de todas as invenções e idéias novas através de um processo
que é chamado de criatividade. Tal centro seria capaz de criar novidades de modo
que elas seriam dele. A própria base das patentes é provar quem é dono de qual
idéia nova, e as teses de doutorado devem ser idéias novas criadas por um
doutorando, algo que normalmente lhes causa muito sofrimento. No entanto, o
que é “criatividade” é um gigantesco problema que não pode ser simplesmente
assumido. Acreditar que temos a capacidade de comandar nossas “forças
criativas”, como se o próprio “eu” fosse criativo e tivesse a capacidade de
comandar esta criatividade não é uma idéia razoável. Qualquer pessoa que já
tentou criar o que quer que seja sabe que não é tão simples assim. Não temos total
poder e comando sobre nossa criatividade. Podemos esperar dias, meses, anos ou
mesmo uma vida inteira por uma idéia que nunca vem. E, mais importante ainda,
quando vem nunca sabemos direito de onde ela veio. Simplesmente um belo dia
acordamos e lá está ela para o nosso deslumbre. Mesmo quando queremos criar
algo e somos bem sucedidos neste processo, não entendemos exatamente como
ele se deu. O processo que a nossa mente usa para criar é desconhecido até por
nós mesmos. Isso não significa que uma idéia nova já chega pronta e acabada,
97
Schopenhauer ficaria feliz com tais experimentos, pois dizia que a razão é “um anão sentado nos
ombros de um gigante que é a vontade”. Mais recentemente, o filósofo brasileiro Sergio Fernandes
também gostava de deixar claro, inclusive no seu dia-a-dia, que não tinha acesso aos motivos que
levavam seu corpo a fazer o que quer que seja (cf. Fernandes, 1995). E ele estava correto! Devo
admitir que isso que muitas pessoas consideram como uma crítica à memética é, para mim, um de
seus maiores atrativos. Um dos motivos que ela se mostrou tão adaptada à minha mente é
justamente o fato prévio de eu acreditar que eu não existo. Esta tese, por exemplo, eu não sei de
onde ela veio. Com certeza eu não pensei previamente e só depois escrevi, o processo é
completamente outro: primeiro escrevo depois leio para saber o que penso. Longe de ser uma
crítica, o fato de que a memética não depende de um agente para explicar o desenvolvimento da
cultura é um de seus maiores benefícios em relação a grande parte das ciências sociais.
425
tirando o caso especial de alguns gênios, normalmente ela deve ser trabalhada
exaustivamente até que fique pronta. Mas a questão aqui é que podemos ter feito
muito esforço mental para chegar até ela, mas este esforço não é um caminho, um
método ou uma regra, para se chegar nela. Vimos que processos considerados
com criatividade em direção ao progresso, como o desenvolvimento da ciência e o
desenvolvimento tecnológico, podem ser muito mais um processo de tentativa e
erro do que gostamos de imaginar (seção 3.1). Não sabemos como controlar nossa
criatividade, sabemos só tirar proveito dela. Uma nova idéia pode vir ou não vir
aparentemente por escolha própria. Não é sem razão que os gregos antigos
falavam em musas que nos inspiravam, assim como falam os artistas
contemporâneos.
Infelizmente não temos controle nenhum sobre o que gostamos de chamar,
talvez por puro orgulho, de nossa criatividade. Parece muito mais correto dizer
que é ela que tem controle sobre nós. Se pudéssemos criar por nossa livre escolha
qualquer pessoa deveria poder, por exemplo, compor um poema. Se tivéssemos
controle sobre nossas forças criativas isso não seria dificuldade para ninguém. Ela
poderia ser acionada quando quiséssemos e para que quiséssemos. Mas quem já
tentou fazer isso sabe que é algo extremamente difícil e que quanto mais se tenta
pior sai. Até que, de repente, ele vem à nossa mente e o processo se torna mais
fácil. No entanto, algumas outras pessoas parecem produzir poemas quase que
contra a sua própria vontade. É comum que um poeta, um músico, um romancista,
um pintor, etc. diga que sua arte parece ter vida própria, que ele não é capaz de
controlá-la e nem de decidir quando ela vai surgir e qual será o resultado final. Na
verdade, é comum que eles digam ser “assombrados” por suas idéias de uma
maneira que lhe causa dor e angústia que só passa quando eles as “colocam para
fora”.
Enquanto alguns batalham para compor uma música medíocre, outros
acordam com uma nova sinfonia. Estes foram chamados de “gênios criativos” o
que, na verdade, não explica absolutamente nada (cf. Lewens, 2005, p.160)! Dizer
que alguém é criativo não diz absolutamente nada sobre como ele é capaz de criar
o que quer que seja. E as chances são que, se você perguntar, ele também não
saberá responder como é capaz de criar. Mas como é possível que o “eu”, que
deveria ser o centro de comando da criatividade, não sabe como ele mesmo faz
para criar? Se soubéssemos como se dá o tal processo criativo poderíamos
426
controlá-lo, mas o fato é que não sabemos, no máximo podemos nos deter em
outros processos como, por exemplo, estudar muito, e torcer para que algo novo
surja, sabe-se lá de onde. “Nem mesmo os grandes criadores conhecem a trajetória
direta e segura para a beleza ou a verdade” (Simonton, 2002, p.216).
É importante ressaltar que não estamos tratando aqui só dos grandes gênios
da humanidade. Casos como o de Mozart, por exemplo, talvez sejam melhor
explicados pela biologia do que pela evolução cultural. Embora não existam
provas disso, podemos levantar esta hipótese porque ele conseguia ter um output
gigantesco com um input mínimo. Sabemos também que os denominados savants
são portadores de habilidades mentais gigantescas, mas diretamente relacionados
a problemas neurológicos. Mas a questão aqui não são os grandes gênios ou os
savants, e sim aquela criatividade cotidiana que todos compartilhamos, alguns
mais do que outros. Nestes casos é comum dizer que “criatividade é 99%
transpiração e 1% inspiração”. Com isso estaríamos dizendo que o momento
criativo diz respeito a só este 1% inicial que seria seguido de 99% de trabalho
árduo. Um poeta, por exemplo, poderia ter uma idéia genial para uma poesia, mas
depois talvez tenha que trabalhar por anos até esta poesia estar pronta. No entanto,
até mesmo este trabalho árduo que se segue ao momento de inspiração não deve
ser entendido como um trabalho controlado por um “sujeito”. Ele normalmente é
feito de pequenas escolhas e em cada escolha destas não é necessário que exista
um sujeito no controle capaz de decidir que caminho seguir. Tal poeta, por
exemplo, pode demorar semanas até descobrir qual é a melhor palavra para
colocar no final de uma determinada estrofe. Mas até mesmo este processo de
“transpiração lenta e gradual” pode ser entendido como um processo criativo que
funciona mais por tentativa e erro em busca de uma palavra que se adeque melhor,
do que ser entendido como um processo criativamente direcionado por um sujeito
consciente que sabe exatamente o que está fazendo e como obter o resultado
necessário. Deste modo, os “99% de transpiração” também podem ser entendidos
como um processo criativo que se dá lentamente a em pequenos passos, mas sem
o comando de um sujeito capaz de dirigir tal processo.
Mas talvez o mais interessante nisso tudo é que o argumento que deveria ser
uma das principais críticas à memética, pode ser, na verdade, uma de suas forças.
Acontece que não temos uma boa explicação da criatividade, mas a memética
pode nos auxiliar com tal explicação. A evolução por seleção natural é um
427
processo largamente considerado como criativo. A simples observação de todas as
infinitas estratégias evolutivas desenvolvidas pela gigantesca gama de seres vivos,
existentes ou extintos, deveria ser o suficiente para mostrar, como disse
Blackmore, que os “processos evolutivos são criativos – talvez os únicos
processos criativos no planeta” (Blackmore, 2000, p.29. Minha tradução). Vemos
isso na chamada de lei de Orgell: a natureza é mais esperta do que você!
Chamar a natureza de criativa sempre soa um pouco estranho porque
estamos acostumados a tratar só de sujeitos como sendo criativos, e não há um
sujeito, uma mãe natureza ou deus, que teria o dom da criatividade. Mas negar a
criatividade da natureza não parece ser nem um pouco sensato. O próprio processo
da evolução por seleção natural é criativo. Na verdade, foi justamente esta
criatividade que serviu por muito tempo como prova da existência de deus! A
idéia era que se existia criatividade, se existia projeto, deveria haver um projetista
criativo, um sujeito capaz de criar tudo o que vemos na natureza. Mas a grande
descoberta de Darwin foi justamente que o projeto, a criatividade, não precisa de
um projetista criativo, o próprio processo é capaz de criar projeto, o próprio
processo é criativo. Novos projetos surgem na natureza literalmente todo o dia.
Talvez a todo segundo. Tudo isso sem a necessidade de nenhum sujeito capaz de
criar novos projetos. Do mesmo modo, a criatividade da mente humana pode não
está na existência de um sujeito criativo, alguém que seria capaz de comandar a
sua própria criatividade, mas sim no próprio processo de evolução cultural que
seria, ele mesmo, criativo.
Este é provavelmente o principal problema em aceitar a memética. Não
gostamos de pensar em nós mesmos como não tendo controle algum sobre aquilo
que somos e que criamos. A principal crítica contra Darwin, não só quando ele
estava vivo, mas até hoje, 150 anos depois, é o fato de que ele tirou deus da
biologia. Talvez o principal problema da memética seja o fato de que ela faz
exatamente o mesmo com a evolução cultural. Tudo isso que gostávamos de
chamar de nossa cultura, nossas idéias, nossas invenções, não é nossa, e sim fruto
de um processo de evolução cultural onde a variação se dá ao acaso. O próprio
sujeito não tem mais papel nenhum para representar, ele se tornou inútil. Darwin
mostrou a inutilidade do sujeito universal e a memética poderá mostrar a
inutilidade do sujeito individual. Por isso, o grande feito da memética pode ter
sido destronar o sujeito assim como Darwin destronou deus.
Conclusão
Percorremos um longo caminho que nos possibilitou fazer uma considerável
análise da memética, tanto em suas questões internas e mais específicas, quanto
em suas questões externas, como a sua posição em relação às ciências em geral.
Tal caminho teve a pretensão de analisar uma parte relevante das questões que a
memética levanta, tratando das críticas dirigidas a ela, e analisando uma série de
estudos e pesquisas empíricas que no futuro devem fazer parte do corpo de
estudos desta disciplina.
Fundamentalmente a questão que se buscou é se é possível uma ciência dos
memes. Mas esta questão foi perseguida indiretamente, até porque ela só poderá
ser devidamente respondida quando a memética iniciar suas pesquisas empíricas.
No entanto, nos últimos 20 anos esta questão conceitual foi diluída em muitas
outras e simplesmente não há como tratá-la de modo independente. Na verdade,
tal questão mais geral e abstrata pode ser perfeitamente reduzida às várias
questões particulares e específicas que foram aqui tratadas. Só podemos discutir
se é possível uma ciência dos memes analisando cada uma destas questões
individualmente.
Mas além da resposta a estas questões, o objetivo foi apresentar a memética
da forma mais simples e plausível possível, fugindo de inúmeras complicações e
más interpretações que são tão comuns nesta área. É preciso antes de qualquer
coisa ver a memética pelo que ela é, dentro de sua própria simplicidade. Deve ser
notado que é bastante óbvio que a cultura passa de pessoa para pessoa, de geração
para geração. Também não é nada questionável que a cultura muda, tendo partes
dela desaparecido e outras partes se desenvolvido. Mas o real problema é como
esta cultura passa e como ela muda e é isto que a memética tentará resolver
através de um processo darwiniano.
Do mesmo modo, Darwin percebeu na natureza a existência da variação,
adicionou a isso o fato de que tal variação é herdada e de que algumas variações
terão mais sucesso do que as outras. Tendo como fato de que novas variações
podem surgir e que nem todas as variações podem sobreviver, ele não precisava
de mais absolutamente nada. Já estava aí todo o princípio da evolução por seleção
429
natural em toda a sua nua simplicidade. Tudo o que causa grande confusão,
mesmo 150 depois da sua publicação, pode ser resumido simplesmente dizendo
que quanto mais descendentes você deixa em comparação com o resto da
população mais comum você vai ser. Isso é a seleção natural! Já as variações que
aumentam o número de descendentes se tornarão mais comuns e serão retidas.
Isso é a evolução! Uma das maiores teorias de todos os tempos é de uma
simplicidade assombrosa. Com esta simples teoria o único trabalho que lhe
restava era acumular uma série de dados empíricos que lhe dessem sustentação.
Trabalho que ele fez brilhantemente. Mas é preciso antes de tudo entender na
memética a mesma simplicidade que Darwin percebeu em sua teoria. Darwin não
falou em DNA, transpossons, retro-vírus, príons, co-evolução, Homo sapiens,
exaptação, genes, equilíbrio pontuado, falsificacionismo, evo-devo, canalização,
paisagem adaptativa, panglossinismo, fenótipo, genótipo, fenótipo estendido e
tudo mais que faz com que este assunto pareça tão complicado. No entanto,
Darwin deu para sua teoria um fundamento empírico que até hoje impressiona.
Fundamento esse que a memética ainda não tem.
Não devemos esperar nada menos da memética, e principalmente, não
devemos esperar nada mais! É preciso primeiro percebê-la em toda a sua
simplicidade para só depois tentar desenvolvê-la empiricamente. Sabemos
claramente que há variação cultural e que tal variação pode ser passada de pessoa
para pessoa. Além disso, nem todas as variações têm a mesma probabilidade de
serem passadas. Como novas variações podem surgir e nem todas as variações
podem sobreviver, temos todo o substrato fundamental para uma evolução
cultural por seleção natural. No final das contas é preciso entender, assim como
Darwin, que o que está sendo dito aqui não passa da seguinte constatação: as
idéias, os comportamentos, os conceitos que tiverem mais sucesso em serem
passados se tornarão mais comuns. A memética é isso e só isso, ao menos
inicialmente. Mas a memética ainda precisa do seu Darwin: alguém com
conhecimento suficiente nas mais diversas áreas que tratam da cultura e que seja
capaz de reuni-los em um todo coerente.
Muitos críticos, quase todos, se deixam confundir por sua simplicidade.
Muitos se embrenham por uma série de discussões conceituais e esquecem de
olhar o óbvio. Discutem, criticam, gritam, fogem e vaiam, mas se colocados de
frente a tamanha simplicidade são incapazes de negá-la. Assim como o
430
darwinismo, a memética é tão óbvia que chega ao limite da tautologia: a variação
que aumentar o número de descendentes de um determinado meme em relação aos
outros se tornará mais comum. Isso é a memética nua e crua. O que vai fazer com
que um meme se torne mais comum ou não é o quanto ele é adequado ao nosso
aparato cognitivo, ou seja, o quanto estamos dispostos a aprendê-lo e
posteriormente ensiná-lo. Quando bem entendida, a única crítica que resta à
memética é que ela é óbvia demais, simples demais, não diz nada de novo. Mas
como algo tão óbvio pode causar tanta controvérsia?
O darwinismo também já foi chamado de quase tautológico, simples demais,
não dizendo nada sobre nada. Crítica que se mostrou completamente infundada.
Curiosamente, a memética terá ainda que se difundir muito até ser chamada de
tautológica. No momento ela está afogada em pequenos problemas que visam
obscurecer a sua simplicidade e impedir o seu trabalho empírico. Muitos destes
problemas também afogaram o darwinismo, e por décadas ele teve que responder
a eles. Na verdade, ainda responde. Mas o seu tempo era outro, a visão do que era
fazer ciência era outra, a relação entre a visão do público e o financiamento
científico era outra. Na verdade, muitas vezes o financiamento para trabalhar
vinha do próprio bolso do cientista ou de algum amigo ou admirador mais
abastado, quase um mecenas. Um outro ambiente onde a relação entre um saber
científico e seus rígidos fundamentos filosóficos e metodológicos era bem mais
solta. Não tínhamos positivistas lógicos ou falsificacionistas dizendo o que um
cientista deveria fazer e o que era boa ciência. Nem precisávamos de dadaístas
metodológicos dizendo que “tudo vale”.
Cabe lembrar aqui, como vimos no início do primeiro capítulo, que muitos
cientistas discordaram de Darwin, inclusive muitos de seus amigos, tanto é que
Mayr divide o darwinismo em cinco teorias e mostra que a única coisa que unia
todos os darwinistas não era a evolução e nem a seleção natural, mas sim uma
visão naturalista do mundo. Até mesmo o “buldogue de Darwin” tinha sérias
discordâncias em relação à seleção natural (cf. Mayr, 2006, p.37). Já seu grande
amigo, Charles Lyell, tinha dúvidas sobre a quantidade de variação dentro das
espécies. O que possibilitou que o darwinismo continuasse seguindo seu rumo foi
que todas estas discordâncias internas foram silenciadas devido ao fato de todos
terem um inimigo em comum: a visão religiosa de uma natureza criada e
comandada por leis transcendentes. Contra este inimigo eles se uniram, contra
431
este inimigo Huxley defendeu Darwin. Eram os naturalistas contra os skyhooks. É
claro que esta união nunca teria acontecido se Darwin não tivesse coletado tantas
evidências empíricas para defender a sua teoria. No entanto, mesmo com tantas
evidências ela não foi plenamente aceita nem pelos seus mais íntimos
colaboradores.
Foi isso que permitiu com que o darwinismo, mesmo sem uma boa
explicação sobre a origem das espécies, mesmo sem uma boa teoria da herança,
mesmo sem explicar de onde vinha a variedade etc., mesmo assim ele teve tempo
para respirar e se desenvolver. Quando o foco do debate deixou de ser contra a
visão religiosa de mundo e o debate interno começou a tomar lugar, por volta de
1900 com os mendelianos fazendo oposição a Darwin, August Weismann já tinha
deixado de acreditar na herança de caracteres adquiridos e começava a
desenvolver sua divisão entre soma e germe (cf. Mayr, 2006, p.110). Mais e mais
evidências empíricas surgiam. Não muito tempo depois viria Fisher e aí o
caminho já estava pavimentado para a nova síntese e o problema praticamente
resolvido.
Se o darwinismo tivesse que passar por todo o escrutínio que a memética
está passando, tendo todos os seus mínimos detalhes analisados, todas as suas
falhas colocadas em estandartes, toda a sua metodologia dissecada, ele nunca teria
tido sucesso. Mesmo com toda a base empírica que Darwin tinha dado a sua
teoria, tais problemas, se surgissem hoje, seriam considerados como tendo
refutado a teoria da evolução por seleção natural. Se tratado com rigor, o
darwinismo com a teoria da hereditariedade das gêmulas estava errado. Jenkin
mostrou muito bem que é impossível evolução por seleção natural com uma
hereditariedade por mistura. Mas isso não impediu o sucesso do darwinismo
porque simplesmente não era exigida dos cientistas a correção nos mínimos
detalhes. Soma-se a isso que os naturalistas esqueceram de suas diferenças para se
defender de um inimigo comum, então a seleção natural teve o tempo necessário
para tentar vários caminhos até achar o seu. Teve também tempo de acumular
mais e mais evidências empíricas.
O problema com a memética é que ela não teve a mesma sorte. Seu
surgimento foi mais espontâneo, menos fundamentado. Dawkins não tinha
pretensões de criar uma nova ciência. Ele não passou anos coletando dados
empíricos das mais diversas áreas para provar a existência da evolução memética.
432
Ao contrário do darwinismo, ela nasceu nua, somente uma análise conceitual
interessante sem absolutamente nenhuma fundamentação empírica. Algo que não
seria um grande problema se lhe fosse dado tempo, e dinheiro, para se
desenvolver. Mas não foi isso que aconteceu. Antes mesmo que ela pudesse tentar
se desenvolver, antes mesmo de descobrir seu substrato empírico, ela teve todos
os seus mínimos detalhes analisados e criticados, de modo que só poderia ganhar
a respeitabilidade necessária para se desenvolver se respondesse a todas estas
questões.
Exigem dela as respostas para todos os seus mínimos detalhes antes mesmo
que seja possível fazer memética. Algo que nenhuma ciência poderia suportar98.
“Os críticos da memética assumem padrões tão altos de conhecimento científico
que talvez nenhuma área da ciência, ou apenas algumas poucas, podem
possivelmente realizá-los” (Hull, 2000, p.48. Minha tradução). Críticos dizem que
a memética nunca será uma ciência e com isso constroem uma profecia autorealizável. De fato ela nunca será uma ciência se tiver que responder a todos os
críticos sempre antes de desenvolver algum trabalho. Os críticos estão corretos ao
dizer que faltam evidências empíricas à memética, mas o problema é que tais
evidências só surgirão se for possível fazer memética!
Se tudo o que dissemos aqui foi compreendido corretamente, deve ter ficado
claro que o argumento que expomos aqui almeja ser um argumento “fraco”. Não
buscamos refutar ou provar nada definitivamente. É por isso que o objetivo era
realizar uma “análise crítica das críticas” e “não uma resposta definitiva das
críticas”. Não buscamos fundamentar nada além da simples possibilidade de
tentar. Se não tentarmos construir uma memética nunca saberemos se ela é
possível ou não. Provar a priori que a memética é uma ciência e que terá sucesso
seria tão enganoso quanto refutá-la a priori. Precisamos limpar o terreno
conceitual de todas as más compreensões, mas só na medida em que elas
impedem a tentativa. Querer resolver definitivamente todas as dificuldades seria
dar importância demais a elas, mas este é exatamente o problema! A estagnação
da memética não é porque ela tem problemas, todas as ciências têm problemas. A
estagnação da memética é porque ela se preocupa demais com eles.
98
Imaginem se exigissem da física newtoniana a resolução para o problema da gravitação entre 3
corpos antes dela se estabelecer como ciência!
433
A normatividade dentro da epistemologia pode até ser saudável na medida
em que visa fazer uma separação entre ciência e não ciência, mesmo que esta
separação não tenha limites bem definidos. O fato é que certas áreas como a
física, a química e a biologia são indubitavelmente ciências da melhor qualidade.
Qualquer conceito de ciência que tirasse qualquer uma destas do rol das ciências
deveria ser descartado. No entanto, vimos que a biologia muitas vezes não é
tratada em pé de igualdade com as outras duas. Grande parte de suas inovações
metodológicas e toda a sua nova visão de mundo, oriunda do pensamento
populacional, parecem ser apenas relevantes para a filosofia da biologia, ou seja,
não entram em grande parte das considerações epistemológicas sobre o que é a
ciência em geral. Por isso, na falta de princípios epistemológicos melhores e mais
inclusivos, podemos tratar desta questão com o que poderia ser ludicamente
chamado de “princípio da zebra”: zebras vivem em grandes bandos e quando são
atacadas por leões fogem correndo. Pode-se imaginar que exista uma pressão
seletiva para que cada zebra corra mais rápido do que o leão. Mas o fato é que ela
não precisa correr mais do que um leão, ela só precisa correr mais do que alguma
outra zebra. Aquela que correr menos será capturada e devorada.
Do mesmo modo, a memética, e qualquer outra nova ciência, não precisa se
preocupar em responder a todos os princípios normativos e todas as questões
conceituais que lhe são impostas. A memética só precisa responder tanto quanto
alguma outra publicamente reconhecida ciência para mostrar que ela tem solidez o
suficiente para merecer ao menos algumas boas tentativas. Só depois destas
tentativas é que ela poderá ser julgada pelo que conseguiu ou não fazer. Tem que
haver paridade nestas questões. Na podemos deduzir do sucesso da biologia o
sucesso da memética, mas podemos concluir que deve ser dado a ela o mesmo
respeito que é dado a qualquer ciência em seu início.
Isso não significa que a memética está certa, que ela é uma ciência e basta
começar a fazer e não teremos problema algum. Este não é o ponto. A questão é
que, para descobrir se a memética será uma ciência ou não é preciso antes de tudo
tentar! “A memética deveria ser avaliada apenas quando um número razoável de
pessoas começasse a desenvolvê-la” (Hull, 2000, p.51. Minha tradução). Talvez
no futuro ela encontre uma barreira intransponível e fracasse. Talvez memes
sejam amorfos, se misturando de todos os modos, sem unidade alguma, sem
fidelidade alguma, instanciados das mais diferentes formas e não transmitidos
434
entre cérebros. Talvez. Mas ela deve ser tratada como inocente até que a provem
culpada. Até chegarmos neste ponto, já foi mais do que mostrado que a memética
é sólida o suficiente para que ao menos se tente.
A questão é que dificilmente será possível fugir de modelos darwinistas da
cultura. Tais modelos são os melhores exemplos que temos até hoje para conectar
as mudanças macro com as mudanças micro. Falando exatamente que estes
modelos darwinistas da cultura são úteis, Richerson e Boyd nos dizem:
Eles servem para conectar os ricos modelos de comportamento baseados na ação
individual desenvolvidos na economia, na psicologia e na biologia evolutiva com
os dados e insights sobre das ciências culturais, antropologia, arqueologia e
sociologia (Boyd & Richerson, 2000, p.145. Minha tradução).
Nenhum outro modelo é capaz de fazer esta ligação entre o indivíduo e o
todo com tanta maestria. Tanto é que se passaram quase 100 anos até que a nova
síntese fosse capaz de ligar a micro-evolução com a macro-evolução. Afinal de
contas, quem suspeitaria que mudanças ao acaso no DNA poderiam ser a base da
diferença entre brontossauros e amebas? É esta capacidade dos modelos
selecionistas que é perfeita para a cultura. Não há modelo melhor para explicar
como pequenas variações entre indivíduos são a base das grandes diferenças
culturais. O simples fato de que a cultura se defronta com problemas de escala
semelhantes aos enfrentados pela evolução, e que não devemos tratar destes
problemas com modelos genéticos, deveria ser o suficiente para ao menos tentar
tratá-los com modelos meméticos.
Felizmente a história tem o seu modo de levar os homens para onde eles se
recusam a ir. A memética propriamente dita pode estar estagnada e ficar assim por
muito tempo. No entanto, ela conseguiu dar a volta nas críticas e reaparecer em
outros lugares, com outros nomes e outras caras. Embora nenhuma delas seja
memética propriamente dita, elas estão pavimentando o caminho pelo qual a
memética algum dia poderá seguir. É assim com as teorias da co-evolução entre
gene e cultura. Todos os dois ramos desta teoria têm críticas à memética, mais
especificamente, Cavalli-Sforza e Feldman ressaltam o papel do sujeito na
mudança cultural, e Richerson e Boyd ressaltam que as variantes culturais podem
se misturar. Com o tempo e os estudos nas ciências cognitivas, pode acontecer
tanto deste sujeito desaparecer quanto desta mistura ser explicada de outra forma.
435
Além disso, vimos que a ecologia comportamental está realizando os
primeiros experimentos sobre a força da cultura no comando do comportamento e,
melhor ainda, utilizando o termo “meme” em suas pesquisas. Vimos também que
algo semelhante acontece na lingüística histórica com Fitch e outros, e na
economia com Don Ross. Ambos estão levando o meme do meme para as suas
áreas. O termo meme também já vem sendo utilizado no Design, na publicidade e
propaganda. Vimos que modelos de epidemiologia cultural são estudados,
inclusive na antropologia por Dan Sperber, e estão dando resultados matemáticos
e resultados empíricos99. E o toque final é dado pelos estudos do sistema espelho
que, ao que tudo indica, será o destaque dentro das neurociências nas próximas
décadas. A necessidade de unir estas mais diversas áreas surge no horizonte, e
lentamente o conceito de meme aparece dentro de cada uma delas. Se tal termo
realmente se espalhar nestas áreas ele poderá ser o ponto em comum que permitirá
entender a união de todas elas.
Aos poucos a memética desponta justamente nos lugares onde ela deveria
despontar. Lá, longe de tantas críticas, ela pode começar a engatinhar e algum dia
tais trabalhos podem se unir e formar a memética propriamente dita, embora nada
garanta que será sobre esta alcunha. Talvez surja um outro nome para o que será
basicamente a mesma coisa. A memética não está completamente por fazer, ela
está sendo feita por caminhos tortuosos. Desmembrada, mas crescendo aos poucos
e aguardando a sua união. Se todas estas áreas perceberem as semelhanças entre o
que estão fazendo como sendo mais importante do que suas diferenças, pois
sempre há diferenças, a memética terá encontrado o aparato metodológico que
precisa para se unir e se desenvolver. O próprio fato que o conceito de meme
começa a ser usado por todas estas disciplinas pode indicar e permitir esta união.
A memética poderia ser usada como uma linguagem em comum entre todas elas.
O primeiro passo será, então, rever o que já foi tratado nestas áreas que estudam a
cultura há muito tempo, como a antropologia, a lingüística, a sociologia, a história
99
Aqui no Brasil temos o recém criado doutorado, multi-institucional e multidisciplinar, em
difusão do conhecimento, na UFBA, que tem a pretensão de criar e analisar modelos matemáticos
para explicar este processo. Embora sua origem tenha sido com uma interessante análise da
difusão do conhecimento como semelhante à difusão do calor em uma barra (cf. Bevilacqua,
Galeão & Bulnes, 2005), os trabalhos recentes começam a mostrar a necessidade de procurar
modelos dentro da biologia e da epidemiologia. Eu mesmo tive o prazer de apresentar um trabalho
sobre memética no 2° Workshop de Modelagem Computacional da Difusão do Conhecimento, em
2008 no LNCC, e um outro trabalho analisando a transmissão cultural através de um modelo de
epidemiologia de tuberculose junto com Regina Célia Leal.
436
etc. Lá a memética encontrará novos métodos, novos estudos, em uma base
empírica muito mais sólida com a qual trabalhar. Tais áreas deverão se unir a
outras que também tratam da cultura, mas indiretamente, como o design, a
psicologia, a pedagogia, as ciências cognitivas, a publicidade e propaganda.
Criada esta base empírica e experimental a memética poderá utilizar modelos das
teorias da co-evolução, da ecologia comportamental, da epidemiologia, da
genética de populações e da própria biologia evolutiva para criar uma metodologia
rigorosa de pesquisa empírica.
Deste modo, a memética nunca deverá ser vista como mais uma tentativa de
biologização da cultura. Este é um grande erro e é imperdoável. A memética visa
estudar a cultura nela mesma e, como vimos, é até mais importante para a
memética que a cultura seja em larga medida autônoma do que para a própria
antropologia cultural, pois esta poderia continuar estudando a cultura se ela fosse
geneticamente determinada. O fato é que se a memética faz algo é justamente o
oposto do que normalmente dizem: ela desbiologiza a biologia! Faz isso
mostrando que aquelas características que pareciam ser tão particulares do mundo
vivo, na verdade se mostram como universais. Ao colocar a evolução por seleção
natural na cultura, ela não coloca a biologia na cultura, muito pelo contrário, ela
tira a evolução por seleção natural da biologia, pois mostra que este não é somente
um processo biológico. Ele é geral e, por um acaso, foi descoberto na biologia
primeiro, mas poderia muito bem ter sido descoberto antes na cultura e só depois
transferido para a biologia. É precisamente por ser geral que tal princípio tem um
poder unificador tão forte.
Ecologia comportamental, teorias da co-evolução gene-cultura, lingüística,
antropologia, sociologia, história, economia, neurociências, design, modelos
dinâmicos de epidemiologia, pedagogia, publicidade e propaganda, psicologia etc.
Tudo isso deverá ser estudado pela memética. Há, com certeza, muito trabalho a
ser feito. Trabalho em tudo semelhante ao que Darwin fez, na Origem das
Espécies, quando juntou evidências de várias áreas distintas da biologia e mostrou
como elas, juntas, contavam exatamente a mesma história: a teoria da evolução
por seleção natural. A união da biologia foi o grande feito de Darwin. “Sem a
evolução a biologia se resume a uma miscelânea de fatos heterogêneos”
(Dawkins, 2005, p.109). Mas uma “miscelânea de fatos heterogêneos” é
exatamente o que temos nas ciências sociais, e é exatamente a união dos estudos
437
sobre a cultura que poderá ser o grande feito da memética. Toda aquela
simplicidade, toda aquela quase tautologia, toda aquela obviedade conceitual, se
mostra extremamente poderosa quando vemos que ela pode criar esta união.
A união de vários saberes em busca de uma mesma resposta não é só uma
curiosidade ou um evento contingente, deve ser entendida como um novo método
de fazer ciência que ultrapassa as considerações normativas e restritivas de parte
da epistemologia contemporânea. A ciência falsificacionista, a ciência baseada em
leis e em testes reprodutíveis, deve ser tratada como só um dos modos de se fazer
ciência. Mas, principalmente, deve admitir a sua incapacidade em tratar de
questões históricas, que por isso precisam de uma nova metodologia, e uma nova
epistemologia baseada na união de diversas metodologias para a construção da
mesma narrativa histórica. Desse modo, todas as ciências históricas, incluindo aí a
memética,
são
melhor
palaetiológicas de
entendidas
Whewell,
feito,
dentro
da
é claro,
classificação
as devidas
de
ciência
modificações,
principalmente no caráter finalista e indutivista de Whewell. É claro que isso não
significa abandonar o trabalho empírico, abandoná-lo seria abandonar a própria
ciência. É apenas uma questão de tratar tais dados de uma outra maneira que
possibilite a criação de narrativas históricas empiricamente fundamentadas.
Dentro desta nova classificação, as ciências palaetiológicas devem ser
entendidas através da sua própria metodologia que não deixa absolutamente nada
a dever para as ciências naturais, como são normalmente classificadas. Ao
contrário da epistemologia contemporânea, que entende as ciências através do
termo “redução”, as ciências palaetiológicas são melhor compreendidas através do
termo “união”. Ao contrário da visão comum de que o ápice da ciência seria a
redução total de todas as diferentes áreas à física, a visão trazida pela palaetiologia
é a de que o ápice da ciência será a união de todas elas na construção de uma, e só
uma, narrativa histórica do universo.
Construir uma única narrativa histórica do universo empiricamente
fundamentada. O tamanho da empreitada assusta a muitos, e com razão. Mas,
desde a cosmologia até a história das civilizações, deve haver uma, e só uma,
história do universo. Respondendo “de onde viemos” saberemos também “quem
somos”. Com certeza deve haver pouco, se é que há algo, que interesse mais a
ciência do que descobrir essa história. É só uma ciência histórica será capaz de
responder isso. No que diz respeito ao ser humano, não acharemos estas respostas
438
na física, na cosmologia ou na biologia. Precisaremos de uma ciência histórica
eminentemente cultural capaz de unir as várias abordagens que já existem para
tratar a cultura.
A capacidade de entender as macro-mudanças através das micro-mudanças
dos modelos evolutivos e a impressionante capacidade da memética de unir as
mais diferentes áreas do saber dentro de uma única abordagem, onde todas falam
a mesma língua, a torna uma forte candidata para um estudo amplo da cultura.
Todos os pequenos problemas que se encontravam no caminho podem não ter
sido definitivamente respondidos, mas já foram suficientemente resolvidos. Só
falta tentar. Tendo sempre certo que sua principal tentativa se dará através da sua
capacidade de unir diversas áreas que, de outro modo, não conseguiriam perceber
a sua união fundamental e talvez não percebessem a necessidade de trabalharem
juntas para montar a análise mais completa da cultura que já foi idealizada pelo
ser humano.
Bibliografia
ANDRESKI, S. Herbert Spencer. London: Thomas Nelson and Sons, 1972.
AUNGER, R. What’s the Matter with Memes? In: GRAFEN, A. & RIDLEY, M.
(eds). Richar