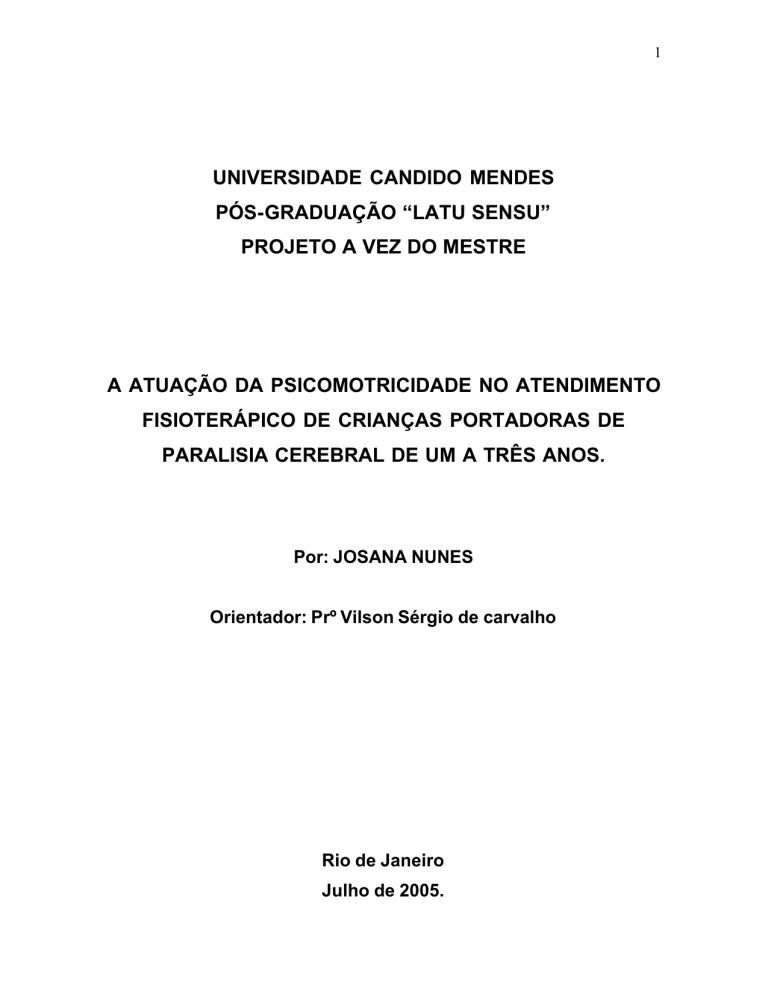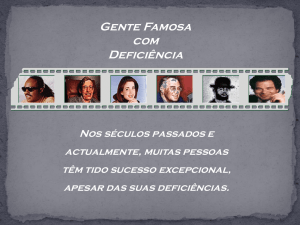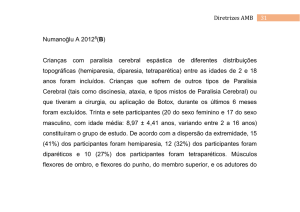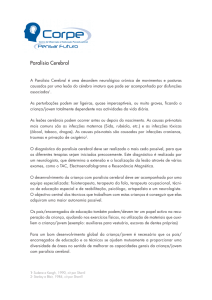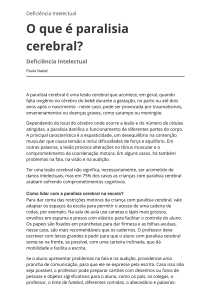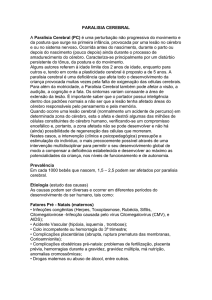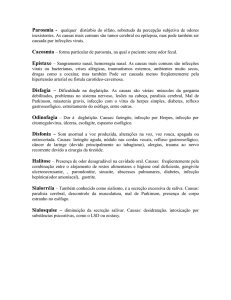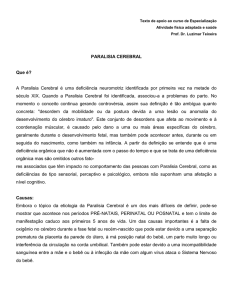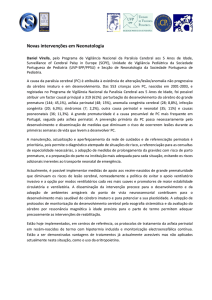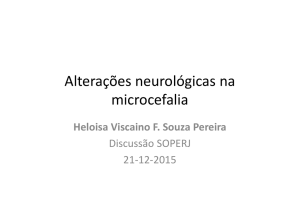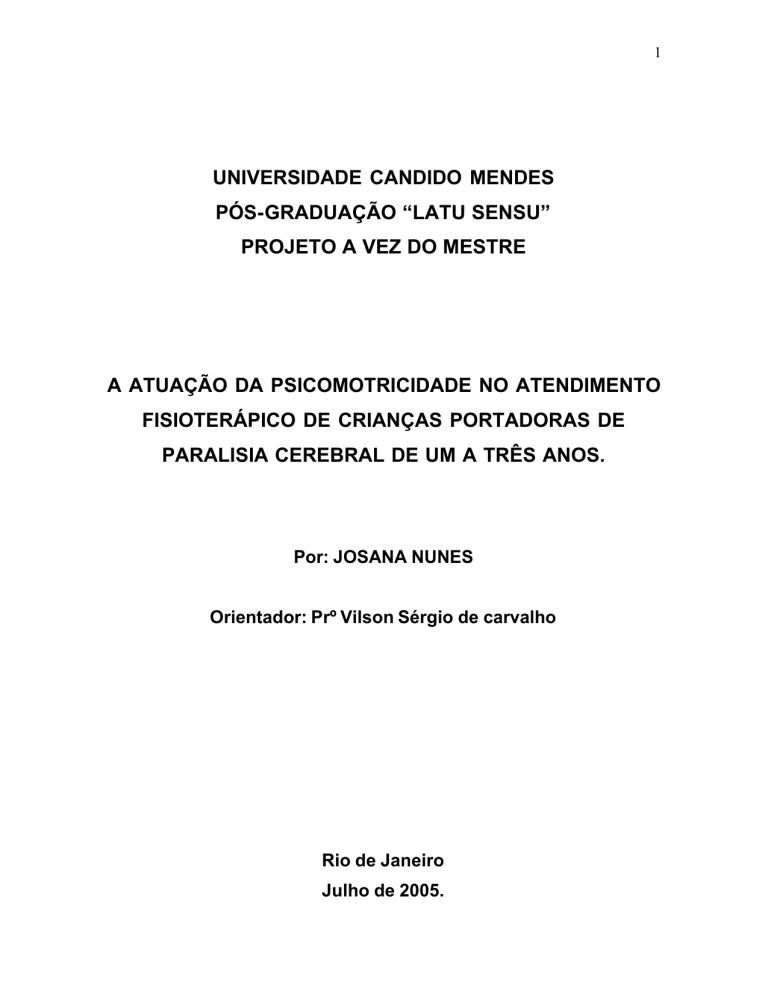
1
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A ATUAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO ATENDIMENTO
FISIOTERÁPICO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
PARALISIA CEREBRAL DE UM A TRÊS ANOS.
Por: JOSANA NUNES
Orientador: Prº Vilson Sérgio de carvalho
Rio de Janeiro
Julho de 2005.
2
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”
PROJETO A VEZ DO MESTRE
A ATUAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NO ATENDIMENTO
FISIOTERÁPICO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
PARALISIA CEREBRAL DE UM E TRÊS ANOS.
Por: Josana Nunes
Apresentação de Monografia à Universidade
Candido Mendes, como condição prévia para a
conclusão do Curso de Pós-Graduação “Lato
Sensu” em Psicomotricidade. São objetivos da
monografia perante o curso e não os objetivos
do aluno.
Orientador: Profº Vilson S. de Carvalho
Rio de Janeiro
Julho de 2005.
3
METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida, através de bibliografias
atualizadas sobre o assunto em pauta e também baseou-se na observação
diária do atendimento de crianças portadoras de paralisia cerebral com
idade entre um e três anos na unidade de atendimento da Instituição
Beneficente Sodalício da Sacra Família, cito à rua Alzira Brandão, 281,
Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).
4
RESUMO
Este estudo teve como objetivo, a pesquisa bibliográfica e a
observação diária do atendimento fisioterápico e psicomotor de crianças
portadoras de Paralisia Cerebral, com idade de um a três anos na unidade de
atendimento da Instituição Beneficente Sodalício da Sacra Família, cito à rua
Alzira Brandão, 281, Tijuca, Rio de Janeiro. Pelo que foi observado e
pesquisado, fica claro que as crianças portadoras de paralisia cerebral, com
suas características complexas devem ser estimuladas corporalmente, para
interagir e se colocar em contato com o meio, desenvolvendo assim suas
potencialidades. Dentro deste estudo vamos, observar algumas técnicas
fisioterápicas e psicomotoras existentes na literatura e algumas adaptações
para o dia-a-dia destas crianças, afim, de lhes proporcionar um maior
domínio deste corpo até então desconhecido para elas.
Palavras Chaves: Paralisia Cerebral / Fisioterapia / Psicomotricidade.
5
Agradecimentos
Ao Mestre Jesus cristo, por ter me dado o Dom e a habilidade de
trabalhar com Reabilitação.
À minha Família por acreditar e investir no meu potencial.
Ao meu amado namorado pela paciência durante a execução
deste trabalho.
Enfim a todos os meus amigos do curso que direta ou
indiretamente ajudaram neste trabalho.
6
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa bibliográfica apoiou-se no estudo sobre a
importância da psicomotricidade como ferramenta fundamental da
fisioterapia, no que tange o atendimento da criança com Paralisia Cerebral.
Sabe-se que a fisioterapia é uma ciência que tem por objetivo
prevenir ou reabilitar o indivíduo perante suas incapacidades, reintegrando-o
às suas atividades normais. (Barbosa, 1991). Sendo assim, e considerando
as características do desenvolvimento sensório-motor do paralisado
cerebral, vemos que a fisioterapia tem importante contribuição para o
trabalho psicomotor.
Estudiosos, como Levitt (1982), consideram que a deficiência
física, na criança, leva a limitação de movimentos, interferindo na “aquisição
de sensações e percepções das coisas cotidianas”. Além disso, no
paralisado cerebral a presença dos reflexos tônicos altera o seu tônus
postural, dificultando uma movimentação normal. A falta das reações de
retificação e de equilíbrio não permite que a criança se ajuste às posições
que necessita.
Através da estreita relação entre motricidade, mente e
afetividade, a psicomotricidade propicia o domínio do próprio corpo,
desenvolvendo as funções da inteligência e a expansão da emoção,
favorecendo o equilíbrio biopsicossocial da criança. Para tanto, este
desenvolvimento e essa adaptação social dependem em grande parte das
7
possibilidades que a criança adquire de mover-se e de descobrir-se, bem
como descobrir o mundo que a cerca.
A pesquisa tem como propósito inicial mostrar o
desenvolvimento normal do Sistema Nervoso Central (SNC) e a partir daí,
todas as alterações que ocorrem no período embrionário.
No decorrer deste trabalho, serão citados vários autores,
tanto da área da psicomotricidade quanto da fisioterapia, a fim de enriquecer
o trabalho com suas experiências no atendimento de crianças com paralisia
cerebral, objetivando um melhor desenvolvimento das habilidades motoras,
num processo de autonomia e independência.
O trabalho está exposto da seguinte forma: - em cinco
capítulos, todos embasados teoricamente por autores diversos.
No primeiro capítulo temos a descrição do desenvolvimento
do sistema nervoso central, desde seu estágio inicial, no útero até sua
completa formação ao nascimento.
Já no segundo capítulo falaremos um pouco dos aspectos
pré-natais que são os responsáveis pelo desenvolvimento da paralisia
cerebral.
O terceiro capítulo ainda falando da paralisia cerebral, mais
detalhadamente, sobre seus aspectos neuropatológicos e fisiopatológicos,
onde descrevemos também os tipos mais comuns de paralisia cerebral, que
afetam as crianças ainda na primeira infância.
8
No quarto capítulo, temos alguns dos itens principais que
devem observados durante o exame neurológico e que servem de sinais de
alerta no diagnóstico da paralisia cerebral.
Por fim, no último capítulo abordamos a importância da
psicomotricidade
como
ferramenta
fundamental
da
fisioterapia
no
atendimento dessas crianças e no seu desenvolvimento global e social.
Concluída a apresentação deste trabalho, na sua forma,
desejo que o seu conteúdo possibilite ao leitor conhecer um pouco do
complexo
universo
da
criança
desenvolvimento neuropsicomotor.
com
paralisia
cerebral
e
o
seu
9
CAPÍTULO I - Desenvolvimento Do Sistema Nervoso
Central
10
Um ser humano inteiro pode se desenvolver a partir de uma
única célula fertilizada. Como é o extraordinariamente complexo sistema
nervoso gerado durante o desenvolvimento? Influências genéticas e
ambientais
agem
sobre
células
durante
todo
o
processo
do
desenvolvimento, estimulando o crescimento, a migração e a diferenciação
das células e até mesmo a morte celular e a retração axônica para criar o
sistema nervoso maduro. Alguns desses processos são completados no
período intra-uterino, enquanto outros continuam durante os primeiros anos
após o nascimento. O conhecimento dos primórdios do sistema nervoso é
essencial para a compreensão dos distúrbios do desenvolvimento e útil para
o conhecimento da anatomia do sistema nervoso adulto.
1.0 - ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO NO ÚTERO
Os seres humanos passam por três estágios do
desenvolvimento no período intra-uterino: pré-embrionário, embrionário e
fetal.
Estágio Pré-Embrionário
O estágio pré-embrionário dura da concepção até a 2ª
semana. A fertilização do óvulo se dá geralmente na trompa uterina. O óvulo
fertilizado, uma célula única, inicia a divisão celular ao descer pela trompa
uterina até a cavidade do útero (fig.5-1). Uma esfera celular sólida é formada
por divisões celulares repetidas. Abra-se, a seguir, uma cavidade na esfera
de células. Nesse estágio do desenvolvimento a esfera é designada como
blastocisto. A camada mais externa do blastocisto vai se tornar a
contribuição fetal para a placenta e a massa celular interna, o embrião. O
blastocisto se implanta no endométrio uterino. Durante a implantação, a
11
massa celular interna se desenvolve no disco embrionário, consistindo em
duas camadas: ectoderma e endoderma. Logo se forma uma terceira camada
celular, o mesoderma, entre as duas outras camadas.
12
Estágio Embrionário
Durante o estágio embrionário, da segunda semana até o final
da oitava, são formados os órgãos (fig.5-2). O ectoderma se desenvolve em
órgãos sensórios, epiderme e sistema nervoso. O mesoderma se desenvolve
em derme, músculos, ossos e sistemas excretor e circulatório. O endoderma
se diferencia e torna-se o trato digestivo, fígado, pâncreas e sistema
respiratório.
Estágio Fetal
O estágio fetal dura do final da oitava semana até o
nascimento. O sistema nervoso se desenvolve mais plenamente e tem início
a mielinização (isolamento dos axônios por tecido adiposo).
O sistema nervoso se desenvolve a partir do ectoderma, a camada celular
mais externa do embrião.
1.1 - FORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO
A formação do sistema nervoso se dá durante o estágio
embrionário e tem duas fases. Primeiro, o tecido que vai se tornar o sistema
nervoso coalesce e forma um tubo que corre ao longo do dorso do embrião.
Quando as extremidades do tubo se fecham, começa a segunda fase, a
formação do encéfalo.
13
1.2 – FORMAÇÃO DO TUBO NEURAL (Dias 18 a 26)
O sistema nervoso começa como um espessamento
longitudinal do ectoderma, designado como placa neural (ver fig. 5-2 a). A
placa se forma na superfície do embrião e se estende da cabeça à região da
cauda, em contato com o líquido amniótico. As bordas da placa se dobram
para formar o sulco neural, e as dobras crescem uma em direção à outra (ver
fig.5-2b). Quando as dobras se tocam (dia 21), está formado o tubo neural
(ver fig.5-2c). O tubo neural se fecha primeiro na futura região cervical. A
seguir, o sulco se fecha rapidamente em direção rostral e caudal, deixando
extremidades abertas designadas como neuroporos (ver fig, 5-2d). Células
adjacentes ao tubo neural se separam do tubo e do ectoderma remanescente
e formam a crista neural. Depois que a crista se desenvolve, o tubo neural e
a crista neural se movem para dentro do embrião. O ectoderma sobrejacente
(destinado a tornar-se a camada epidérmica da pele) se fecha sobre o tubo e
a crista neural. O neuroporo superior se fecha por volta do 27º dia e o
inferior cerca de 03 dias depois.
Por volta do 26º dia, o tubo se diferencia em dois anéis
concêntricos (ver fig.5-2d). A camada do manto (parede interna) contém
corpos celulares e vai se tornar a substância cinzenta. A camada marginal
(parte externa) contém processos das células, cujo corpo está localizado na
camada do manto. A camada marginal se desenvolve em substância branca,
consistindo em axônios e células gliais.
O encéfalo e a medula espinhal se desenvolvem inteiramente a partir do tubo
neural.
14
1.2.1 - RELAÇÃO DO TUBO NEURAL COM OUTRAS
ESTRUTURAS EM DESENVOLVIMENTO
Quando o tubo neural se fecha, o mesoderma adjacente se
divide em aglomerados celulares esféricos denominados somitos (ver fig.52b). Os somitos em desenvolvimento fazem com que apareçam saliências na
superfície do embrião (fig. 5-3). Os somitos aparecem primeiro na futura
região occipital e novos somitos são adicionados em direção caudal. A parte
ântero-medial de um somito, o esclerótomo, torna-se as vértebras e o crânio.
A parte póstero-medial do somito, o miótomo, torna-se os músculos
esqueléticos. A parte lateral do somito, o dermátomo, torna-se a derme (fig.
5-4).
15
Enquanto as células da camada do manto proliferam no tubo
neural, formam-se sulcos de cada lado do tubo, separando-o em seções
ventral e dorsal (fig.5-4). A seção ventral é a placa motora (também
denominada placa basal). Os axônios de corpos celulares localizados na
placa motora crescem para fora do tubo, inervando a região miotônica do
somito. Com a continuação do desenvolvimento essa associação leva à
formação de um miótomo: um grupo de músculos derivados de um somito e
inervados por um único nervo espinhal. O termo miótomo tem, então, dois
significados: (1) uma seção embriológica do somito; (2) depois do estágio
embrionário, um grupo de músculos inervados por um nervo espinhal
segmentar. Neurônios cujo corpo celular se encontra na placa basal tornamse
neurônios
motores,
que
inervam
músculos
esqueléticos,
e
interneurônios. Na medula espinhal madura, a substância cinzenta derivada
da placa basal é denominada corno ventral.
16
A seção dorsal do tubo neural é a placa associativa (também
denominada placa alar). Na medula espinhal esses neurônios proliferam e
formam interneurônios e neurônios de projeção. Na medula espinhal
madura, a substância cinzenta derivada da placa associativa é denominada
corno dorsal (ver fig.5-4).
Os neurônios na região dorsal do tubo neural processam informações
sensoriais. Neurônios com corpo celular na região ventral inervam o corno
dorsal (ver fig.5-4).
A crista neural separa-se em duas colunas, uma de cada lado
do tubo neural. Essas colunas se dividem em segmentos que correspondem
às áreas dérmicas dos somitos. As células da crista neural formam
neurônios sensoriais periféricos, células de mielina, neurônios autonômicos
e órgãos endócrinos (medula supra-renal e ilhotas pancreáticas). As células
que se tornam neurônios sensoriais periféricos emitem dois processos: um
deles se liga à medula espinhal e o outro inerva a região do somito que vai
se tornar a derme. Assim como o termo miótomo, dermátomo tem dois
significados: (1) a área do somito que vai se tornar a derme; e (2) depois do
estágio embrionário, a derme inervada por um único nervo espinhal. Os
neurônios sensoriais primários transmitem informações de receptores
sensoriais à placa associativa. Os corpos celulares dos neurônios sensoriais
periféricos estão fora da medula espinhal, no gânglio da raiz dorsal.
Até o terceiro mês fetal os segmentos medulares espinhais
estão adjacentes às vértebras correspondentes e as raízes dos nervos
espinhais se projetam lateralmente a partir da medula espinhal. À maturação
do feto a coluna vertebral cresce mais rapidamente que a medula espinhal.
Em conseqüência, a medula espinhal adulta termina ao nível vertebral L1-L2.
17
Caudalmente aos níveis torácicos as raízes dos nervos espinhais se dirigem
inferiormente até chegar aos forames intervertebrais (fig.5-5). Na medula
espinhal adulta a cavidade do tubo neural persiste como o canal central.
O sistema nervoso periférico, com exceção dos axônios dos neurônios
motores, desenvolve-se a partir da crista neural.
1.3 - FORMAÇÃO DO ENCÉFALO (Começa no 28º dia)
Quando o neuroporo superior se fecha, a futura região
cerebral do tubo neural se expande e forma três dilatações (fig.5-6): o
encéfalo posterior (rombencéfalo), encéfalo médio (mesencéfalo) e encéfalo
anterior (prosencéfalo). Logo aparecem duas outras dilatações, dotando o
encéfalo de cinco regiões distintas. Assim como seu precursor, o tubo
neural, as dilatações são ocas. No sistema nervoso maduro as cavidades
cheias de líquido são denominadas ventrículos.
18
O encéfalo posterior se divide em duas seções; a seção inferior tornase o mielencéfalo, e a superior, o metencéfalo. Estas se diferenciam,
posteriormente, para se tornarem a medula oblonga, a ponte e o cerebelo. Na
parte superior do encéfalo posterior o canal central se expande e forma o
quarto ventrículo. A ponte e a medula oblonga são anteriores ao quarto
ventrículo, e o cerebelo, posterior. No cerebelo a camada do manto dá
origem tanto a núcleos profundos como ao córtex. Para se tornarem o
19
córtex, os corpos das células da camada do manto migram através da
substância branca até o lado externo.
A dilatação mesencefálica conserva seu nome, mesencéfalo,
durante todo o desenvolvimento. O canal central torna-se o aqueduto
cerebral no mesencéfalo, ligando os terceiro e quarto ventrículos.
A região posterior do prosencéfalo permanece na linha média
e torna-se o diencéfalo. As estruturas principais são o tálamo e o
hipotálamo. A cavidade da linha média forma o terceiro ventrículo.
A parte anterior do prosencéfalo torna-se o telencéfalo. A
cavidade central se expande e forma os ventrículos laterais (fig.5-7). O
telencéfalo torna-se os hemisférios cerebrais; os hemisférios se expandem
tanto que englobam o diencéfalo. Os hemisférios cerebrais consistem em
núcleos profundos, incluindo os núcleos da base (grupos de corpos
celulares); substância branca (contendo axônios); e o córtex (camadas de
corpos celulares na superfície dos hemisférios). Ao se expandirem
ventrolateralmente para formar o lobo temporal, os hemisférios adquirem
uma forma de C. Em conseqüência desse padrão de crescimento, certas
estruturas internas, incluindo o núcleo caudado (parte dos núcleos da base)
e os ventrículos laterais, também adquirem a forma de um C (fig.5-8).
20
21
1.3.1 - DESENVOLVIMENTO CONTINUADO DURANTE O ESTÁGIO
FETAL
As áreas laterais dos hemisférios não crescem tanto quanto
outras áreas, e, em conseqüência, uma seção do córtex é coberta por outras
regiões. A região coberta é a insula, e as bordas das pregas que cobrem a
insula se encontram para formar o sulco lateral. No encéfalo maduro, a
insula é revelada se o sulco lateral for aberto. As superfícies dos hemisférios
cerebrais e cerebelares começam a se dobrar, formando sulcos, depressões
na superfície, e giros, elevações da superfície. A Tabela 5-1 resume o
desenvolvimento cerebral normal.
1.4 - DESENVOLVIMENTO DO NÍVEL CELULAR
Os processos de desenvolvimento
progressivos
de
proliferação, migração e crescimento celulares, extensão de axônios a
células-alvo, formação de sinapses e mielinização dos axônios são
balanceados por processos regressivos que remodelam amplamente o
sistema nervoso durante o desenvolvimento.
As células epiteliais que revestem o tubo neural se dividem
produzindo neurônios e glia. Os neurônios migram até sua localização final
por um de dois mecanismos: (1) enviar um processo delgado até a superfície
cerebral e, então, se puxar ao longo do processo (Brittis e Silver, 1994); ou
(2) escalar a glia radial (células longas que se estendem do centro até a
superfície do encéfalo). Os neurônios se diferenciam apropriadamente após
migrarem para a sua localização final. A função de cada neurônio – visual,
auditivo, motor, e assim por diante – não é geneticamente determinada. A
função depende, isto sim, da área do encéfalo para a qual o neurônio migra.
22
Células-filhas de uma célula-mãe específica podem assumir uma função
inteiramente diferente, dependendo do local para onde migram.
Como neurônios numa região do sistema nervoso acham as
células-alvo certas em outra região? Por exemplo, com os neurônios no
córtex dirigem seus axônios encéfalo abaixo para fazer sinapse com
neurônios específicos na medula espinhal? Um processo emerge do corpo
celular do neurônio. A extremidade anterior do processo se expande e forma
um cone de crescimento, que faz uma amostragem do ambiente, entretanto
em contato com outras células e com indicações químicas. O cone de
crescimento se retrai de alguns compostos químicos por ele encontrados e
avança a outras regiões em que os quimioatrativos são especificamente
compatíveis com as características do cone de crescimento.
Quando o cone de crescimento faz contato com sua célulaalvo, logo se formam vesículas sinápticas e microtúbulos que terminavam
anteriormente no ápice do cone de crescimento, projetam-se até a
membrana
pré-sináptica.
A
membrana
pós-sináptica
adjacente
vem
apresentar uma concentração de locais receptores devido à liberação
continuada do neurotransmissor. Ao início do desenvolvimento, formam-se
muitos neurônios que não sobrevivem. A morte neural elimina até metade
dos neurônios formados durante o desenvolvimento de algumas regiões
cerebrais. Os neurônios que morrem são, provavelmente, aqueles que não
conseguiram estabelecer conexões ótimas com suas células-alvo ou eram
demasiado inativos para manter sua conexão. Portanto, o desenvolvimento
depende, em parte, da atividade. Alguns dos neurônios que sobrevivem
retraem seus axônios de certas células-alvo, deixando intactas outras
conexões. No sistema nervoso maduro, por exemplo, uma fibra muscular é
inervada apenas por um axônio. Durante o desenvolvimento vários axônios
23
podem inervar uma célula muscular individual. Essa inervação polineural é
eliminada por volta da 25ª semana em seres humanos em desenvolvimento
(Hesselmans et al. 1993). Esses dois processos regressivos, morte neuronal
e retração axônica, esculpem o sistema nervoso em desenvolvimento.
As conexões neuronais esculpem também a musculatura em
desenvolvimento. Experimentos que alteram as conexões de um neurônio
motor a uma fibra muscular demonstram que o tipo de fibra muscular
(contração rápida ou lenta) depende da inervação. Músculos de contração
rápida são convertidos a contração lenta caso inervados por um neurônio
motor lento, e músculos de contração lenta podem ser convertidos a
contração rápida caso inervados por um neurônio motor rápido (Buller et al.
1960).
Antes que neurônios com axônios longos se tornem
plenamente funcionais, seus axônios de vem ser isolados por uma bainha de
mielina, composta de lipídios e proteínas. O processo de aquisição de uma
bainha de mielina é a mielinização. O processo tem início no quarto mês
fetal: muitas bainhas estão completas ao final do terceiro ano de vida. O
processo se dá com velocidades diferentes em cada sistema. As raízes
motoras da medula espinhal, por exemplo, estão mielinizadas por volta da
idade de um mês, mas os tratos que enviam informações do córtex para
ativar neurônios motores não estão totalmente mielinizados, e, portanto, não
estão plenamente funcionais, a não ser quando a criança chega à idade de
dois anos, aproximadamente. Portanto, se os neurônios que se projetam do
córtex cerebral a neurônios motores forem lesados no período perinatal,
podem não ser observados déficits motores senão depois que a criança for
maior. Se alguns dos neurônios corticais que controlam os movimentos dos
membros inferiores forem lesados ao nascimento, por exemplo, o déficit
24
pode não ser reconhecido até que a criança tenha mais de um ano de idade e
apresente dificuldades em ficar de pé e caminhar. Esse é um exemplo de
crescer até o déficit: danos ao sistema nervoso que ocorreram anteriormente
não se evidenciam senão quando os sistemas lesados tenham se tornado
normalmente funcionais.
Tabela 5-1 RESUMO DO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL
NORMAL
CAPÍTULO II
25
CAPÍTULO II - Aspectos Pré-Natais Determinantes Da
Paralisia Cerebral
26
2.0 - DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO: NO ÚTERO E DANO
PERINATAL DO SISTEMA NERVOSO.
O sistema nervoso central é mais suscetível a malformações
graves entre o 14º dia e a 20ª semana, quando as estruturas fundamentais do
sistema nervoso estão se formando. Depois desse período, o crescimento e
a remodelagem continuam; contudo, as lesões causam distúrbios funcionais
e/ou malformações menores.
2.1 – AVALIAÇÃO PRÉ-NATAL DOS FATORES DETERMINANTES
DA PARALISIA CEREBRAL.
A Paralisia Cerebral (PC) é um evento clínico de etiologia
complexa, por vezes múltipla, e que pode ter sua origem no período prénatal. A hemorragia intraventricular em grau avançado é importante fator
para o desenvolvimento posterior de lesões neuromotoras, e a avaliação
materno-fetal adequada possibilita a identificação precoce dos fatores
predisponentes antenatais, muitas vezes permitindo a prevenção ou
atenuação de complicações subseqüentes. A paralisia cerebral de origem
pré e perinatal pode ser dividida em quatro grandes grupos: as
malformações no sistema nervoso central, as infecções congênitas, os
quadros de hipoxia aguda e crônica e a ocorrência de prematuridade.Este
último grupo que deve ser avaliado de modo distinto por comportar a
etiologia da maior parte dos casos de PC e onde a intervenção obstétrica
mais necessita concentrar esforços para seu controle clínico. Estas medidas
serão de extrema importância no estabelecimento do prognóstico pós-natal
imediato e a longo prazo.
27
Independentemente de sua etiologia, a paralisia cerebral
experimenta íntima relação com o período pré-natal. Estudos avaliando
crianças de 03 anos de idade mostram que anormalidades congênitas estão
presentes em praticamente 20% dos quadros da doença (Croen e cols.,
2001).
2.1.1 – IMPORTÂNCIA DA PREMATURIDADE
Entre todos os parâmetros perinatais determinantes do
prognóstico neurológico, a prematuridade concentra a atenção clínica mais
relevante, seja porque é o evento mais prevalente entre os fatores
etiológicos da paralisia cerebral, através da facilitação da ocorrência de
hemorragia intracraniana, seja porque os esforços clínicos para a
diminuição de sua incidência têm mostrado repetidos insucessos nas
medidas de profilaxia, identificação do risco e introdução de terapêuticas
efetivas. A introdução de novos fármacos para controle das contrações
uterinas prematuras e o conhecimento de novos fatores determinantes da
prematuridade, como a redução do comprimento do colo uterino e a
colonização vaginal por microorganismos patógenos, não foram capazes de
diminuir o número de partos prematuros (Vayssiere e cols., 2002). As drogas
clássicas em uso para tratamento do trabalho de parto prematuro, incluindo
a ritodrina, beta-miméticos, antagonistas de canal de cálcio e sulfato de
magnésio mostram resultados desanimadores no prolongamento da
gestação, além de possuírem efeitos colaterais materno-fetais consideráveis
e não melhorarem o resultado neonatal. Por outro lado, os progressos mais
notáveis na Medicina Fetal e Reprodução Humana permitiram gestações em
mulheres antes consideradas inférteis e que agora têm a concepção em
idades mais tardias e com maior risco de gestação múltipla. Ao mesmo
tempo, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pré-natais, como a
biópsia de vilo corial, a amniocentese, cordocentese e as cirurgias fetais,
28
possibilitam diagnóstico e terapêutica mais acurados no feto, aumentam a
incidência de prematuridade através do maior número de rotura de
membranas pré-termo.
Patologias obstétricas relacionadas à prematuridade
apresentam altos índices de complicações pós-natais, imediatas e tardias.
As patologias hemorrágicas da placenta, deslocamento prematuro e a
placenta prévia, pioram o prognóstico neurológico posterior, mesmo quando
a incidência de complicações é corrigida para a idade gestacional. Os casos
de prematuridade ligada a deslocamento prematuro da placenta estão
associados a maior incidência de paralisia cerebral quando comparados a
casos de prematuridade associada a placenta prévia ou trabalho de parto
prematuro (Matsuda ecols., 2003).
A identificação pré-natal das gestações em risco elevado de
deslocamento de placenta, principalmente a síndrome antifosfolípide e préeclâmpsia grave, com terapia adequada a cada situação, incluindo o uso de
ácido acetilsalicílico, heparina e intervenção obstétrica para o parto,
favorece um resultado gestacional satisfatório, reduzindo as chances de
hipoxia aguda em um evento obstétrico mais freqüente em fetos já
submetidos a condições de hipoxemia crônica.
29
2.2 – FATORES ANTENATAIS DETERMINANTES DA
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR
2.2.1 – HIPOXIA INTRA-ÚTERO
A relação direta entre hipoxemia, hipercapnia e acidosa intraútero com pior prognóstico neurológico a longo termo é bastante conhecida,
e vários estudos na literatura quantificam estas alterações nos anos
subseqüentes ao nascimento (Ward & Beachy, 2003). A hemorragia
intracraniana neonatal ocorre junto à matriz germinal subpendimária,
provavelmente por uma fragilidade endotelial em vasos submetidos
previamente a condições de isquemia. As células do plexo coróide parecem
ser especialmente vulneráveis à necrose em caso de episódio hipóxico /
isquêmico nos cérebros imaturos, enquanto as células ependimárias e
subependimárias adjacentes mostram sinais de edema e regeneração
posterior, sendo mais resistentes à hipoxia (Rothstein & Levison, 2002).
Deste modo, o controle adequado das condições fetais que levam à hipoxia
pode influir positivamente no prognóstico pós-natal.
No período fetal, as modificações dos índices gasométricos
podem ocorrer em caráter agudo, como na hipertonia uterina, prolapso de
cordão umbilical ou deslocamento prematuro de placenta. Apesar destas
patologias, a hipoxemia e acidose fetal são mais prevalentes nos quadros de
insuficiência placentária crônica, desenvolvida e agravada ao longo de
várias semanas gestacionais, em conseqüência dos quadros de doença
hipertensiva específica da gestação, doenças auto-imunes, vasculopatias
maternas e quadros idiopáticos. Neste grande intervalo entre uma gestação
normal e grave comprometimento perinatal, existe toda uma progressão do
quadro fetal que pode ser avaliada através de métodos não–invasivos,
30
permitindo condutas obstétricas que reduzem de modo significativo as
complicações pós-natais.
2.2.2 – SOFRIMENTO FETAL (HIPOXIA CRÔNICA)
O sistema nervoso central (SNC) do feto está formado ao final
da 8ª semana embrionária. A partir desta idade, inicia-se um processo de
desenvolvimento contínuo que se estende muito além do período neonatal.
Neste processo, várias funções vitais controladas pelo SNC vão surgindo a
cada período, conforme o estágio de desenvolvimento dos tecidos cerebrais.
Algumas funções biofísicas fetais foram determinadas na época de seu
aparecimento e em sua estrutura cerebral de controle.
As funções vitais como tônus muscular, respiração e
manutenção da freqüência cardíaca são controladas por estruturas nervosas
consideradas mais primitivas na escala de desenvolvimento filogenético. As
funções mais especializadas surgem mais tardiamente e são controladas por
tecidos cerebrais de surgimento posterior na escala de evolução,
usualmente o córtex cerebral. Estes tecidos mais especializados são mais
suscetíveis à hipóxia, e quadros de queda da concentração de O² nos
tecidos fetais afetam primeiramente estas funções, antes daquelas
atividades cerebrais de manutenção da vida.
O sofrimento fetal crônico origina-se primariamente de um
processo de redução da quantidade de oxigênio e metabólitos que são
transferidos através da placenta. Durante o desenvolvimento placentário, a
invasão das artérias miometriais pelo trofoblasto, destruindo a camada
31
musculoelástica destes vasos, é essencial para a diminuição da resistência
do fluxo sanguíneo uterino. Este fenômeno é chamado de invasão
trofoblástica, e sua ausência ou ocorrência incompleta forma a base para a
má perfusão das áreas de troca feto-materna na placenta, observada mais
freqüentemente nas doenças vasculares maternas, doenças auto-imunes,
gestações múltiplas, diabetes e causas idiopáticas. No lado fetal da placenta
ocorrem
freqüentemente
fenômenos
de
trombose
das
vilosidades
placentárias, dificultando ainda mais a realização de trocas gasosas. A má
perfusão ocasiona um problema em duas vias, uma vez que o oxigênio
necessário aos tecidos fetais não atinge sua circulação, bem como o dióxido
de carbono formado na respiração celular fetal não pode ser eliminado
completamente para o organismo materno, originando a hipercapnia.
2.2.3 – MECANISMO DE PROTEÇÃO CEREBRAL NA HIPOXIA
INTRA-ÚTERO
O feto em hipoxia crônica desenvolve um mecanismo de
proteção das estruturas vitais ao seu crescimento e desenvolvimento.
Modificações hemodinâmicas ocorrem em todo o organismo com o objetivo
de priorizar o fornecimento de sangue aos órgãos nobres, essencialmente o
cérebro, o coração e as supra-renais. Estes órgãos sofrem uma dilatação
progressiva de seus vasos, aumentando o aporte sanguíneo de oxigênio e
nutrientes. Por outro lado, órgãos considerados menos nobres sofrem uma
constrição
vascular,
diminuindo
o
metabolismo
nestas
regiões,
principalmente os rins, pulmões, intestinos e tegumento. O sangue
oxigenado que chega ao feto através da veia umbilical é direcionado
preferencialmente ao ducto venoso, que possui um direcionamento ao átrio
esquerdo, a partir do qual será enviado às artérias coronárias e carótidas,
irrigando o miocárdio e o sistema nervoso central.
32
Este mecanismo de compensação tem como objetivo o
fornecimento de maiores aportes de oxigênio a órgãos mais suscetíveis à
hipoxia. O tecido cerebral fetal é extremamente sensível à baixa dos teores
de O² e acidose celulares resultante da insuficiência placentária. A queda do
pH abaixo de 7.20 é observada durante a evolução do quadro obstétrico e,
nos estágios mais avançados, um pH próximo ou inferior a 7.00 está
associado a maiores índices de paralisia cerebral subseqüente (Manning e
cols.,1997).
33
CAPÍTULO III - PARALISIA CEREBRAL: Aspectos
Neuropatológicos e Fisiopatologia
34
Paralisia cerebral (PC) engloba um série de síndromes
clínicas heterogêneas, decorrentes de distúrbios neuropatológicos nãoprogressivos do encéfalo.
Por questões didáticas, a abordagem neuropatológica aqui
presente orienta-se pela classificação usual: formas espástica, discinética e
atáxica.
3.0 - PC ESPÁSTICA
Os circuitos neurais responsáveis pelos reflexos tendinosos
fornecem aos centros mais altos do sistema nervoso central (SNC) um
mecanismo de ajuste do tônus muscular sob diferentes circunstâncias.
Desordem deste tônus são freqüentemente associadas a lesões das vias
motoras descendentes, porque a intensidade dos reflexos de estiramento é
controlada por centros cerebrais mais altos.
A forma mais comum de hipertonia é a espasticidade, que se
caracteriza por reflexos tendinosos hiperativos e aumento na resistência de
músculos submetidos a estiramento rápido. Uma força lentamente aplicada
sobre um músculo, em um paciente com espasticidade, pode desencadear
pouca resistência. Entretanto, quando a velocidade do estiramento é
progressivamente aumentada, a resistência muscular também se intensifica
na mesma proporção. Desta maneira, a espasticidade é primariamente um
fenômeno fásico. Em alguns pacientes, no entanto, a espasticidade tem
também um componente tônico, não-fásico, em que o reflexo de contração
persiste mesmo após o músculo não ser mais alongado.
35
A fisiopatologia da espasticidade é pouco clara. Por muito
tempo, atribuiu-se a presença de reflexos de estiramento exacerbados na
espasticidade a uma hiperatividade dos neurônios motores gama,
secundária à lesão das vias supra-espinais inibitórias. Experimentos
recentes, no entanto, afirmam que a espasticidade pode ser explicada pela
diminuição da inibição pré-sináptica dos neurônios motores alfa. Nesta
última hipótese, os interneurônios, que exercem uma inibição pré-sináptica
sobre as fibras aferentes Ia, estariam insuficientemente ativos, devido ao
distúrbio
supra-espinal,
ocasionando
uma
descarga
excessiva
dos
neurônios motores alfa. Este mecanismo de intensa facilitação da
transmissão na via de reflexo monossináptico das fibras sensoriais Ia para
os neurônios motores alfa é o fundamento básico para algumas abordagens
terapêuticas da espasticidade.
Um destes procedimentos terapêuticos é a mimetização da
inibição pré-sináptica nos terminais das fibras Ia, através da administração
intratecal de baclofeno na medula espinhal. Esta droga é agonista dos
receptores do ácido gama-aminobutírico (GABA). A ligação do GABA a estes
receptores diminui o influxo de cálcio nos terminais pré-sinápticos,
reduzindo a liberação dos neurotransmissores.
Nas formas hemiplégicas da PC espástica, os achados mais
comuns são as lesões císticas em território de artéria cerebral média, que
podem ser de origem pré e perinatal. Em alguns casos há evidências de
insulto hipóxico, mas a maioria dessas lesões não tem sua etiologia bem
definida.
36
Lesões subcorticais periventriculares predominantes em um
dos hemisférios, resultantes de leucomalacia periventricular ou outros
eventos isquêmicos, também são freqüentes. Dilatação de um ventrículo
lateral e irregularidades de sua parede são os aspectos mais vistos nestas
lesões. O exame microscópico mostra perda neuronal e gliose de extensão
variada.
Outras lesões menos comuns encontradas nas hemiplegias
são
as
disgenesias
cerebrais
(principalmente
esquizencefalia,
hemimegalencefalia e polimicrogiria), leucomalacia hemorrágica, infartos
hemorrágicos
periventriculares,
hemorragias
intraparenquimatosas
e
algumas lesões diencefálicas.
Nas formas quadriplégicas há uma alta incidência de
disgenesias e processos destrutivos, tais como hidranencefalia e
encefalomalacia multicística. As lesões corticais e subcorticais estão
freqüentemente acompanhadas de insultos ao tronco cerebral e aos núcleos
da base, em muitos casos de quadriplegia. Outro grupo etiopatogênico
relevante nestas formas de PC são as infecções do SNC, com destacada
importância para as infecções herpéticas.
Leucomalacia periventricular (LPV) é a lesão mais freqüente
na formas diplégicas. O acometimento das fibras motoras internas
adjacentes aos ventrículos laterais, em topografia de seus ângulos externos,
explica os déficits motores predominantes em membros inferiores nestes
casos. Hemorragia periintraventricular com hidrocefalia secundária também
é
uma
possível
causa
de
diplegia.
Apesar
comprometimento dos membros superiores,
nos
do
habitual
casos
de
maior
lesões
37
parassagitais (localizadas nas zonas limítrofes dos territórios de irrigação
das artérias cerebrais), há relatos de diplegia nestes padrões de isquemia.
3.1 – PC DISCINÉTICA
A base fisiopatológica das paralisias cerebrais discinéticas é
uma lesão do sistema extrapiramidal, especialmente núcleos da base
(caudado, putâmen e pálido) e outros núcleos correlatos (p.ex., núcleo
subtalâmico). Não existem projeções dos núcleos da base para a medula, e
suas atividades moduladoras são exercidas sobre o córtex, via tálamo.
Experimentalmente, lesão do núcleo caudado e do putâmen provoca
hipercinesia (coreoatetose); os insultos ao núcleo pálido ocasionam
hipocinesia, e as lesões do núcleo subtalâmico são responsáveis pelos
balismos.
As encefalopatias hipóxico-isquêmica e bilirrubínica são as
principais causas de PC discinética. Há um maior envolvimento do núcleo
caudado e putâmen nos eventos hipóxico-isquêmicos (status marmoratus) e
do globo pálido no kernicterus (status dysmyelinatus).
3.2 – PC ATÁXICA
Os mecanismos neuropatológicos da PC atáxica são pouco
conhecidos. Tanto as lesões displásicas quanto as destrutivas do cerebelo
podem ser encontradas, e sua diferenciação dificilmente é feita através dos
exames de imagem. Aicardi relata que a aplasia do vermis cerebelar pode ser
a causa de ataxia congênita, mas em alguns casos com ausência total do
vermis não se observam sintomas clínicos. Entretanto, muitos pacientes
38
com síndrome de Joubert expressam ataxia e desequilíbrio, apesar de terem
preservadas largas porções do vermis.
As disgenesias cerebelares hemisféricas também podem
apresentar uma pobre correlação clínico-patológica.
39
CAPÍTULO IV - EXAME NEUROLÓGICO: Sinais de Alerta
na Paralisia Cerebral
40
4.0 - COMO DETECTAR PRECOCEMENTE A PARALISIA
CEREBRAL?
Nos casos graves, especialmente aqueles acompanhados de
micro ou macrocefalia associada a malformações do sistema nervoso
central (SNC), o diagnóstico pode ser facilmente estabelecido no primeiro
trimestre de vida. Além da evidente alteração do perímetro cefálico, ocorrerá
importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), e o ultrasom transfontanelar, a TC ou a RM cerebral confirmarão a lesão.
Prematuridade, sofrimento fetal agudo ou encefalopatia
hipóxico-isquêmica, principalmente se seguida de atraso no DNPM e
microcefalia, devem alertar para o risco de paralisia cerebral. Entretanto,
algumas crianças apresentarão déficit cognitivo, com ou sem distúrbios de
comportamento ou epilepsia, sem alterações motoras que permitam o
diagnóstico de paralisia cerebral.
Nos casos mais leves de paralisia cerebral, as alterações
podem não ser características antes do 6º ou mesmo 9° mês de vida (ou de
idade corrigida para crianças nascidas antes do termo da gestação). O
perímetro cefálico pode ser normal e o comprometimento motor pouco
nítido, no primeiro semestre. Nessa situação, antes de se solicitarem exames
complementares, deve-se ter o cuidado de elaborar uma anamnese para
investigar os seguintes itens:
·
História familiar e consangüinidade entre os pais (para diagnóstico
diferencial com doenças hereditárias);
41
·
Fatores de risco perinatais, com especial atenção à hipoxia e às
infecções congênitas – TORCH. Bossa serossangüínea (BSS) de
grande volume indica trabalho de parto demorado, com dificuldade
mecânica na passagem da criança. Se a BSS se acompanhar de
alterações neurológicas no período neonatal, tais como hipotonia,
hipoatividade, irritabilidade, tremulações, é sinal de que houve
sofrimento fetal agudo;
·
Palato ogival, polegar fixado em flexão-adução e cavalgamento de
suturas podem estar associados à lesão cerebral pré-natal;
·
Atraso nas etapas do DNPM.
O exame neurológico, realizado por profissional experiente,
permitirá a detecção de alterações mais discretas do tônus ou da
movimentação, já no primeiro trimestre, que alertarão para a necessidade
de exames complementares, de acompanhamento neurológico e de
indicação
precoce
de
tratamentos
terapêuticos
ocupacional
e/ou
fisioterápico ou fonoaudiológico.
Prettch e cols. (1997) utilizam como método para o
diagnóstico precoce de distúrbios neurológicos a análise dos movimentos
corporais, entre seis e 20 semanas após o nascimento a termo ou de idade
corrigida, para recém-nascidos pré-termo.
42
4.1 – PONTOS RELEVANTES
4.1.1 – MEDIDA DO PERÍMETRO CEFÁLICO
A medida do perímetro cefálico deve ser comparada à de uma
curva de referência, como a do NCHS (National Center for Health Statistics
Percentiles). Considera-se microcefalia a medida abaixo de dois desviospadrão (2DS) da média ou do 50° percentil (p50), e macrocefalia, a medida
acima de dois desvios-padrão (2DS) das mesmas referências. É importante
lembrar que cerca de 50% das variações do tamanho do crânio são
familiares e que recém-nascidos pré-termo normais apresentam perímetro
cefálico maior, nos três primeiros meses após o termo, devido à
configuração elíptica do crânio (escafocefalia).
Em presença de fechamento precoce da fontanela anterior,
acompanhado de atraso no DNPM e/ou de alterações neurológicas, deve-se
supor evolução para microcefalia. A craniossinostose de todas as suturas é
geralmente acompanhada de lesão subjacente do SNC.
Alterações a serem pesquisadas:
·
Atraso ou má qualidade nas etapas do desenvolvimento (considerar a
idade corrigida para os recém-nascidos pré-termo);
·
Sinais anormais: um sinal isolado tem menos valor do que a
associação de vários sinais. A gravidade da alteração é relacionada à
sua importância funcional; a hipotonia axial é mais grave do que a
hipotonia isolada dos membros.
43
4.2 – SINAIS DE ALERTA NO PRIMEIRO SEMESTRE
4.2.1 – TÔNUS CERVICAL
·
Hipotonia dos músculos flexores
Na manobra de tração dos membros superiores, para levar a criança
do decúbito dorsal para a posição sentada, a cabeça não acompanha o
tronco. Isso ocorre de modo isolado, nos casos mais leves.
·
Hipotonia dos músculos extensores
Na posição sentada, a cabeça fica inclinada para frente ou cai para
frente com o cansaço.
Havendo
hipotonia
cervical,
qualquer
movimento
do
tronco
desencadeia oscilações da cabeça.
·
Hipertonia dos músculos extensores (musculatura cervical posterior)
Na posição sentada, o pescoço não flexiona e o queixo não encosta no
esterno. Se a hipertonia for discreta, a flexão repetida do pescoço (4 a 5
vezes), com a criança em decúbito dorsal, causará aumento do tônus dos
músculos extensores, o que é percebido pela resistência à flexão.
4.2.2 – TÔNUS DOS MEMBROS
·
Pode aumentar, bruscamente, com o choro ou riso, ou ao contato
cutâneo (flutuação do tônus, nos atetósicos). A criança fica rígida e
em extensão;
·
Mãos freqüentemente fechadas durante a vigília calma;
44
·
Resistência e limitação da amplitude do movimento do membro
superior, na manobra do cachecol (Fig.2-2);
·
Hipertonia de membros inferiores, com diminuição do ângulo dos
músculos adutores do quadril e dos ângulos poplíteos (m.
isquiotibiais);
·
Aumento do ângulo de dorsiflexão do pé, com eqüinismo, indicativo
de retração do tendão de Aquiles;
·
Artelhos em hiperextensão ou muito fletidos;
·
Assimetria: a assimetria do reflexo de Moro ou do reflexo de preensão
palmar (grasping), se associada a alterações do tônus, da força
muscular e dos reflexos profundos, ocorre na paralisia braquial e na
hemiparesia. Neste último caso, o exame neurológico também revelará
assimetria de postura, de tônus e de força muscular, no membro
inferior homolateral ao déficit do membro superior.
Outros Sinais:
·
Estrabismo: unilateral, geralmente convergente, freqüente nas
encefalopatias definitivas, leves ou graves.
·
Irritabilidade, caracterizada por:
-
tremulações ou clonais, espontâneas ou desencadeadas
pelo manuseio;
-
distúrbios do sono;
-
choro constante e difícil de acalmar;
-
sobressalto resultante da percussão sobre o esterno.
45
·
Excitabilidade:
reflexo
de
Moro
e
sobressaltos
espontâneos
freqüentes; barulho leve, contato brusco com a criança ou mudança
rápida de posição provocam sobressalto ou reflexo de Moro;
·
Persistência
do
reflexo
tônico-cervical
assimétrico
(RTCA),
principalmente se desencadeado com facilidade, imediato e brusco, de
modo espontâneo ou com a rotação passiva da cabeça. O padrão
postural do RTCA consiste na extensão dos membros do lado da face
e flexão dos membros do lado oposto (posição do esgrimista). A
extensão, porém, pode predominar no membro superior ou no inferior,
ou ocorrer apenas maior relaxamento do tônus dos membros
correspondentes à face, sem extensão completa. Esse reflexo
desaparece entre o terceiro e o quarto mês de vida (ou de idade
corrigida para recém-nascidos pré-termo);
·
Desinteresse: olhar vago, acompanhamento visual inconstante,
atenção lábil, pouco interesse pelo objeto que é levado à boca, sem
ser olhado ou manipulado;
·
Alterações da mobilidade: pobreza de movimentos, que são lentos e
necessitam de muito estímulo para aparecer, ou movimentos
anormais, bruscos, estereotipados e repetitivos.
A associação desses sinais revela comprometimento global
do SNC. Nesse caso, reavaliações periódicas da criança e indicação de
tratamentos específicos são necessárias.
No 3º mês, inicia-se a fase de hipotonia fisiológica dos
membros, primeiro nos membros superiores e, após o 4º ou 5º mês, nos
46
membros inferiores. A partir do 3º mês, toda criança que mantém as mãos
freqüentemente fechadas deve ser submetida a avaliação neurológica.
Aos seis meses, ainda pode existir leve hipotonia de tronco
que causa discreta cifose toracolombar, na posição sentada. Dos oito aos
nove meses, há melhora do tônus e do equilíbrio axial e surgem os
movimentos de inclinação e rotação do tronco. As reações de proteção para
frente (reação de pára-quedista) e para os lados estão presentes. Também
nesse período os balbucios, o contato com as pessoas e o interesse por
objetos são constantes.
4.2.3 – ANORMALIDADES DO 6° AO 9º MÊS
Nas formas graves de paralisia cerebral, principalmente na
discinética, há persistência do RTCA.
·
Hipotonia de tronco
Nessa faixa etária, a hipotonia do tronco é sempre associada à hipotonia
cervical, especialmente da musculatura extensora. Para avaliar o tônus de
tronco, em presença de hipertonia de membros inferiores, a criança deve ser
colocada sentada na borda da cama de exame, com os membros inferiores
pendentes, se possível com a fossa poplítea encaixada na borda da cama.
·
Hipertonia da musculatura posterior do tronco
Evidenciada pela impossibilidade de flexionar os membros inferiores sobre o
abdome, com a criança em decúbito dorsal (manobra de flexão passiva do
tronco), ou pela presença de opistótono.
47
·
Membros Superiores
Mãos fechadas, às vezes, próximas aos ombros (braços abduzidos e
antebraços fletidos – postura em “candelabro”);
Limitação e resistência mais acentuadas na manobra do cachecol;
Persistência do “jogo das mãos” (etapa normal do 3º mês);
Preensão lenta e difícil e, em alguns casos, com movimentos anormais que
podem ser a manifestação precoce de atetose;
·
Membros Inferiores
Rigidez dos membros inferiores, que dificulta a posição sentada e causa
reação de sustentação imediata, intensa e continua. Essa rigidez, geralmente
associada ao aumento do ângulo de dorsiflexão do pé (eqüinismo), deve ser
verificada pela avaliação dos ângulos poplíteos (m. isquiotibiais) e do ângulo
dos m. adutores do quadril, anormalmente pequenos. Hiper-reflexia
osteotendinosa e, às vezes, clono dos pés podem ser observados.
·
Assimetria no tônus corporal
-
Hemiparesia: comprometimento global do tônus, porém
assimétrico.
As crianças portadoras de alterações motoras leves no
primeiro ano de vida, sem lesão detectável do SNC, podem não apresentar
paralisia cerebral. Muitas dessas alterações são transitórias e parecem
representar disfunções que se manifestarão, na idade escolar, por distúrbios
de aprendizagem ou de comportamento, ou por transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH).
Para as crianças consideradas de risco, cabe ao pediatra
especial atenção à curva de crescimento do perímetro cefálico e às etapas
do desenvolvimento neuropsicomotor, para que a detecção de paralisia
48
cerebral seja realmente precoce. Quanto mais cedo a criança for
encaminhada para avaliação e tratamentos especializados, melhor será sua
adaptação e de seus familiares à situação, e maior a possibilidade de
prevenção dos problemas secundários ao quadro neurológico.
49
CAPÍTULO V – FISIOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE
50
5.0 - FISIOTERAPIA
A Fisioterapia enquanto profissão, cada vez mais tem
adquirido importância significativa na área das Ciências da Saúde nas
sociedades modernas. Enquanto ciência tem avolumado conhecimentos e
experiências diversas, resultando de investigações e pesquisas teóricas e
práticas nas suas diferentes áreas de atuação. Isto vem de encontro a sua
consolidação como Ciência da Saúde, mostrando o seu real valor e
necessidade como interventora no processo de promoção, manutenção e
recuperação das condições de saúde da população. Outro fato a destacar é a
sua natureza de ciência biopsicossocial, caracterizando-a como área de
estudo e atuação que promove e possibilita uma interface com várias outras
profissões da área de saúde. Entre elas citamos: Medicina, Odontologia, Ed.
Física,
Psicologia,
Terapia
Ocupacional,
Fonoaudiologia,
Nutrição,
Enfermagem, Bioengenharia, Psicomotricidade, etc.
A medida em que as necessidades evoluem, surge a
preocupação real com a educação e com a saúde. Nas sociedades ditas
modernas, realmente existe uma necessidade de manutenção das condições
de qualidade de vida e principalmente, de saúde. Esta preocupação que se
manifestava, inicialmente, apenas na fase terciária e secundária, vai se
transformando com o tempo e demonstrando uma real intervenção no
aspecto primário da saúde.
A Fisioterapia é uma arte milenar, profissão que já vem sendo
praticada desde os nossos antepassados, desde a idade da pedra, época em
que o homem pré-histórico buscava o sol, a água e o regato com águas
cristalinas e frias para amenizar o seu sofrimento e amenizar sua dor. Tem-
51
se visto que, a utilização dos recursos físicos, água, luz, eletricidade, calor,
frio e o movimento têm e vêm contribuindo bastante e a um longo tempo no
sentido da promoção, preservação e recuperação das condições de saúde
das populações, constituindo, assim, os recursos fisioterapêuticos.
É notória a contribuição que a Fisioterapia vem dando ao
campo da saúde em nosso País, devido à sua versatilidade, dinamicidade e
principalmente necessidade. O Fisioterapeuta tem buscado e ocupado seu
espaço profissional junto a creches, hospitais, centros de terapia intensiva,
ambulatórios, clínicas geriátricas, entidades de excepcionais, clínicas
especializadas, centros desportivos, clubes, instituições de ensino, postos
de saúde, centros médicos, associações de pessoas portadoras de
necessidades especiais, empresas e linhas de produção (órteses e
próteses).
Com certeza, a Fisioterapia é uma ciência ainda em
construção, cujos paradigmas se encontram abertos e em franca evolução,
sempre em busca do conhecimento científico, revertendo-o em prol de uma
comunidade menos favorecida e carente de uma intervenção de saúde.
A cada dia, cada vez mais, a Fisioterapia se solidifica, se
enraíza através de uma base científica, firmando-se como ciência,
expandindo-se na busca do oferecimento de uma atenção à saúde com
qualidade e dignidade, caracterizando um novo perfil profissional nessa área
de conhecimento humano, o qual, hoje se destaca em termos de atuação e
interesse.
52
5.0.1. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA
CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL
Por: Ana Paula B. Gontijo / Valéria C.R. Cury / Josana Nunes.
Em relação à abordagem de crianças com desordens de
movimento, os trabalhos do neurofisiologista Karl Bobath e da fisioterapeuta
Berta Bobath influenciaram e influenciam a prática clínica até os dias de
hoje. BERTA BOBATH cita em um de seus últimos trabalhos publicados:
“Desde que começamos o nosso trabalho, em 1943, temos aprendido
constantemente. A experiência tem nos ensinado a mudar a nossa
abordagem e nossa ênfase em certos aspectos do tratamento”.O conceito
neuroevolutivo desenvolvido por estes autores é fundamental quando se
pretende tratar crianças portadoras de paralisia cerebral. Berta Bobath
desenvolveu protocolos de tratamento e técnicas baseadas em sua astuta
observação clínica.
No nível de estrutura e função do corpo, a criança com
paralisia cerebral apresenta transformações progressivas em seu sistema
musculoesquelético, que são caracterizadas por: - aumento da co-contração
e modificação no padrão de ativação muscular; - fraqueza muscular ou
produção insuficiente de potências; - modificações morfológicas do
músculo e tecido conjuntivo; - alterações do alinhamento biomecânico; comprometimento da resistência cardiovascular, que ocorrem em resposta
às exigências funcionais para a realização de movimentos.
É papel de fisioterapeuta facilitar a independência e
performance funcional da criança com paralisia cerebral em situações de
sua rotina diária e também atuar preventivamente quanto à aquisição de
53
deformidades e dor causadas por sobrecarga e uso em alinhamento
biomecânico inadequado de seu sistema musculoesquelético.
5.0.2. AVALIAÇÃO
A avaliação fisioterapêutica tem como objetivo gerar
informações para a tomada de decisões clínicas e deve ser conduzida e
planejada sistematicamente.
Quando se avalia um criança com paralisia cerebral e escutase a queixa de sua família, está-se determinando um problema que com
freqüência, impede ou restringe sua participação em tarefas e atividades da
rotina diária. Nessa estratégia, os processos de avaliação e intervenção
enfatizam a função e a partir dela, são identificadas as habilidades
específicas que se relacionam diretamente com a função deficitária. (Coster
W. 1997; 85(5): 337-42).
A avaliação da performance motora nesse contexto,
considerando os recursos dinâmicos da criança, a relação entre as
compensações primárias e secundárias, o grau de força e a capacidade de
isolar a ação muscular, a flexibilidade, o alinhamento durante a postura e
movimentação e a sua relação com o mecanismo que causa a deficiência do
movimento, direciona o tratamento fisioterápico, tornando-o mais eficaz.
Os problemas associados, como déficits visual, auditivo,
sensorial, deficiência mental, dificuldades durante a alimentação, fala e
respiração são abordados e, se possível, assoados durante a abordagem
54
fisioterápica. Portanto, é essencial o trabalho integrado entre os
profissionais que atuam diretamente com a criança.
5.0.3. TRATAMENTO
A partir dos dados obtidos na avaliação e da utilização do
raciocínio clínico, o terapeuta seleciona as tarefas, atividades-alvo a serem
abordadas na intervenção e elege as técnicas de tratamento a serem
utilizadas. (Darra J; Law M; et al; 1995; 37: 731-9).
O objetivo do terapeuta é otimizar os recursos dinâmicos que
a criança dispõe, a partir da avaliação de suas propriedades (força,
flexibilidade, mobilidade, estabilidade) e auxiliar a realização de uma
atividade de forma mais eficiente.
55
PROGRAMA FISIOTERÁPICO
·
Prevenção de alterações do alinhamento musculoesquelético;
·
Mudanças na estrutura e composição muscular, restabelecendo suas
propriedades mecânicas normais, são estimuladas (uso de órteses e
equipamentos de posicionamento);
·
Alongamentos em descarga de peso;
·
Reorganização da movimentação ativa e voluntária;
·
Exercícios de facilitação neuromuscular, para melhorar a mobilidade e
a estabilidade postural antigravitacional;
·
Fortalecimento muscular;
·
Melhora do condicionamento físico, para inclusão da criança com
paralisia cerebral em atividades esportivas e sociais;
·
Treino de marcha em ambiente externo em velocidade e distância
semelhantes;
·
Atividades para movimentar de forma isolada o tronco, pelve, quadril e
tornozelos;
·
Atividades para facilitar o vestir/despir, parte inferior do corpo.
56
5.1 – PSICOMOTRICIDADE
A palavra psicomotricidade foi criada, segundo vários
autores, por Ernest Dupré em 1907, quando descreve a síndrome da
debilidade
motora
e
relaciona-a
com
debilidade
mental,
isolando
perturbações como os tiques, as sincinesias e as paratonias, afirmando:
“entre certas alterações mentais e as alterações motoras correspondentes,
existe uma união tão íntima que parecem constituir verdadeiras paralelas
psicomotoras”.(Dupré, 1909).
Essas pesquisas pouco a pouco evoluíram do eixo
neurológico e psiquiátrico para o fisiológico (1911) em que Head aborda o
esquema postural, ou ainda psicanalítico com Schilder (1923) – uma das
primeiras influências – sobre a imagem do corpo e o eixo psicológico em
que receberam a influência marcante, visto que até hoje seus estudos são a
base da psicomotricidade, de Wallon (apud Le Camus 1986), se interessa
pela correlação entre caráter e motricidade, classificando as síndromes e os
tipos psicomotores, mas ainda na visão mais neurológica da época.
Ao mesmo tempo, na área da educação física Tissié, no início
do mesmo século, esboçava timidamente as relações entre pensamento e
movimento, visando sair um pouco da massificação física da época.
Posteriormente
a
Tissié
surge
o
chamado
“Pai
da
Reeducação
Psicomotora”, Gulman (1935), que no convívio com crianças portadoras de
“distúrbios de caráter”, assume publicamente a necessidade de um exame,
não apenas mensurável, mas de diagnóstico, indicação terapêutica e
prognóstico, construindo um método apoiado nos conceitos anteriormente
abordados aqui, e que serviu de modelo a muitos psicomotricistas
sucessores. Em torno de 1930, surgiram vários testes motores, entre eles os
57
de: Gourevitch e Ozeretski; Ozeretski – Vayer (idade motora); testes de
performance – motora, bateria de Walter, testes de Heuyer Bailler, testes de
imitação de gestos de Bergès e Lèzine, perfil psicomotor de Picq e Vayer,
etc., contudo a visão da psicomotricidade nessa época encerrava-se no
olhar através da habilidade motora, onde o ser se comunicava com o mundo
por meio motor. O limite do indivíduo. Os objetivos da prática eram
prioritariamente reeducar a atividade tônica com exercícios de atitude e
equilíbrio, desenvolver o controle motor com exercícios de inibição e
desinibição e desenvolver atividades de relaxação com exercícios de
dissociação e coordenação motora associados.
5.1.1. REABILITAÇÃO PSICOMOTORA – Segundo Vitor da
Fonseca.
Para Vitor da Fonseca (1995), o modelo psiconeurológico que
temos vindo a apresentar reforça a noção de que qualquer comportamento
ou aprendizagem da criança traduz uma dimensão psicológica por um lado e
uma dimensão neurológica por outro, pois, dessa interação recíproca obtémse uma melhor compreensão sobre as dificuldades psicomotoras das
crianças. Qualquer processo de aprendizagem, psicomotor ou cognitivo, é
mediado pelo cérebro e concomitantes unidades funcionais.
A aprendizagem dita “normal”, requer, naturalmente que o
cérebro e as suas unidades funcionais estejam intactas e funcionem
harmoniosamente (Fonseca, 1984). As dificuldades de aprendizagem,
conseqüentemente sugerem que o cérebro e as sua unidades funcionais se
encontram disfuncionais, até a ponto de impedir a organização psicomotora,
perceptiva ou cognitiva.
58
Em reabilitação, o que conta é a criança, o seu potencial
global adaptativo. Pensamos que a reabilitação psicomotora será tanto mais
eficaz quanto maior for o grau de conscientização que se pode obter em
termos de integridade, quer em termos de dificuldades.
O conhecimento da função normal do cérebro na
aprendizagem pode facilitar ao observador a captação dos processos
psicológicos envolvidos. O conhecimento da estrutura cerebral e o seu
funcionamento quer em termos de leitura, escrita ou cálculos, podem ajudarnos a compreender os problemas da criança. (Fonseca, 1979). Com base
nesse parâmetro, podemos antever que uma criança com problemas na
tonicidade e no equilíbrio (primeira unidade funcional), pode apresentar
dificuldades de atenção seletiva, de inibição e de controle. As suas
dificuldades ou hesitações na lateralização podem condicionar as suas
aprendizagens simbólicas, a especialização hemisférica e a expressão de
funções emocionais e da memória. Os problemas na noção do corpo podem
prever problemas de exploração tátil, de reconhecimento do EU, de
desorientação e orientação espacial aguda ou representada, a sugerir
problemas ou imaturidade dos lóbulos parietais. As praxias, por seu lado,
podem sugerir dificuldades na planificação motora e, por conseguinte,
perspectivar que algo disfuncional ocorre nos lóbulos frontais.
A reabilitação psicomotora tem de estar, portanto, integrada
num sistema reabilitacional, que deve incluir diagnóstico, princípios
motivacionais, análise de tarefas, modificação psicomotora, reabilitação
experimental, desenvolvimento social, envolvimento familiar, envolvimento
do médico e psicólogo.
59
A reabilitação psicomotora concebe o movimento como
terapêutico se for orientado para um fim, para uma reação adaptativa,
facilitando à criança a organização do seu próprio cérebro. Procura
organizar as sensações, as percepções e as cognições, visando à sua
utilização em respostas motoras adaptativas, previamente planificadas e
programadas.
Sabemos que a reabilitação psicomotora não pode substituir
a cinesioterapia ou fisioterapia, nem se confundir com qualquer tipo de
“ginástica ortopédica”, uma vez que não tem por objetivo uma readaptação
funcional esquelética, articular ou muscular (Fonseca, 1976).
Para lidar com o sucesso em reabilitação, nenhuma terapia
isolada pode melhorar a função cerebral.
O sucesso da intervenção
reabilitacional está numa abordagem multiterapêutica. (Fonseca, 1995. p306312). Fig.6.1
60
61
CONCLUSÃO
Esta pesquisa se baseou em situar a importância da
psicomotricidade como uma ferramenta fundamental no trabalho da
fisioterapia, no atendimento da criança com paralisia cerebral e no seu
desenvolvimento global e social.
Pela leitura do presente estudo, concluiu-se que a criança
com
paralisia
cerebral
não
deve
ter
uma
abordagem
terapêutica
individualizada, fica claro que a abordagem necessita ser global, pois,
facilita bastante o trabalho terapêutico, dando à criança a oportunidade de
se expor sem que ela se sinta tensa e insegura.
Podemos observar também, que através do trabalho
fisioterápico e psicomotor é possível proporcionar a essas crianças um
ambiente bastante agradável, favorecendo assim o seu desenvolvimento
global de adaptação e de integração, onde a relação interpessoal, corporal e
afetiva colaborarão para sua comunicação e integração social, permitindolhe conviver com independência e autonomia.
Enfim, faz-se necessário o desenvolvimento de mais
pesquisas sobre o tema proposto e aperfeiçoamento das técnicas já
existentes, para melhor abordagem desse público com características tão
complexas no seu desenvolvimento e muitas das vezes de difícil abordagem.
62
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
· EKMAN, Laurie Lundy – Neurociência Fundamentos Para
Reabilitação. 2ª ed. Americana. Elsevier, 2004,76-83p.
· LIMA, C. L. A., Fonseca, L. F. – Paralisia Cerebral –
Neurologia/Ortopedia/reabilitação. Medsi, 2004,03-22p.
· LEVITT, Sophie. O Tratamento da Paralisia Cerebral e do
Retardo Motor. 3ª ed. SP: Manole, 2001.
· BOBATH, Berta, Karel Bobath – Desenvolvimento Motor nos
Diferentes Tipos de Paralisia Cerebral. São Paulo: Manole,
1989.
· FERREIRA, Carlos, A. M. – Psicomotricidade da Educação
Infantil a Gerontologia – Teoria e Prática. São Paulo: Lovise,
2000.
· FONSECA, Vitor – Manual de Observação Psicomotora –
Significação Psiconeurológica dos Fatores Psicomotores.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995, 306-19p.
· FERREIRA, Carlos, A. M., Thompson, Rita, Mousinho,
Renata. – Psicomotricidade Clínica. São Paulo: Lovise, 2002,
131-4p.
63
· LEVIN, Esteban. – A Clínica Psicomotora – O Corpo na
Linguagem. 6ª ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
64
SUMÁRIO
METODOLOGIA......................................................................................3
RESUMO..................................................................................................4
INTRODUÇÃO.........................................................................................6
CAPÍTULO I - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL .................................................................................................9
CAPÍTULO II - ASPECTOS PRÉ-NATAIS DETERMINANTES DA
PARALISIA CEREBRAL .......................................................................25
CAPÍTULO III - PARALISIA CEREBRAL: ASPECTOS
NEUROPATOLÓGICOS E FISIOPATOLOGIA ...................................33
CAPÍTULO IV - EXAME NEUROLÓGICO: SINAIS DE ALERTA NA
PARALISIA CEREBRAL .......................................................................39
CAPÍTULO V – FISIOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE ................49
CONCLUSÃO........................................................................................61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................62