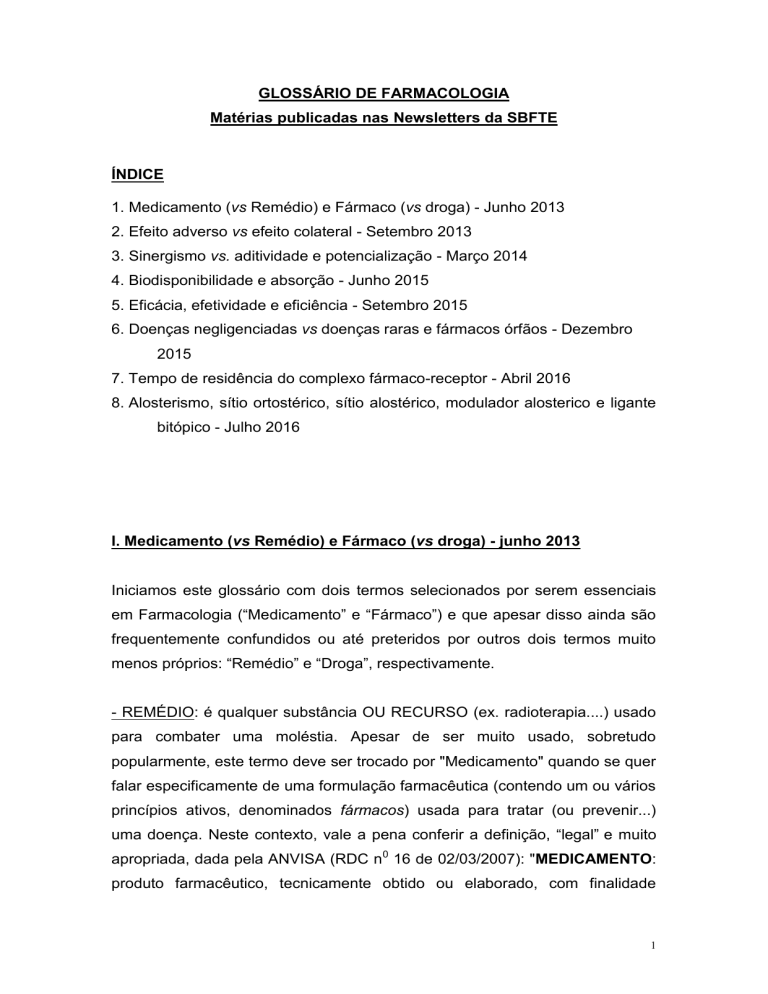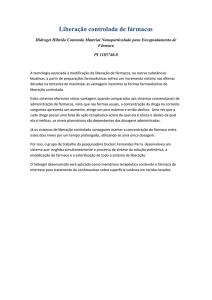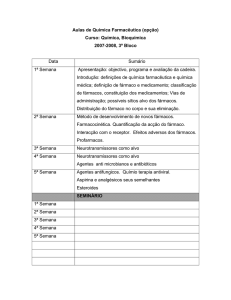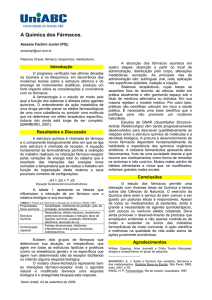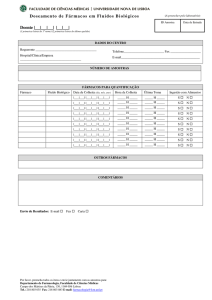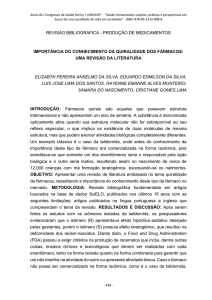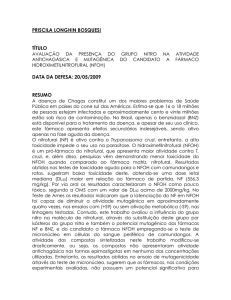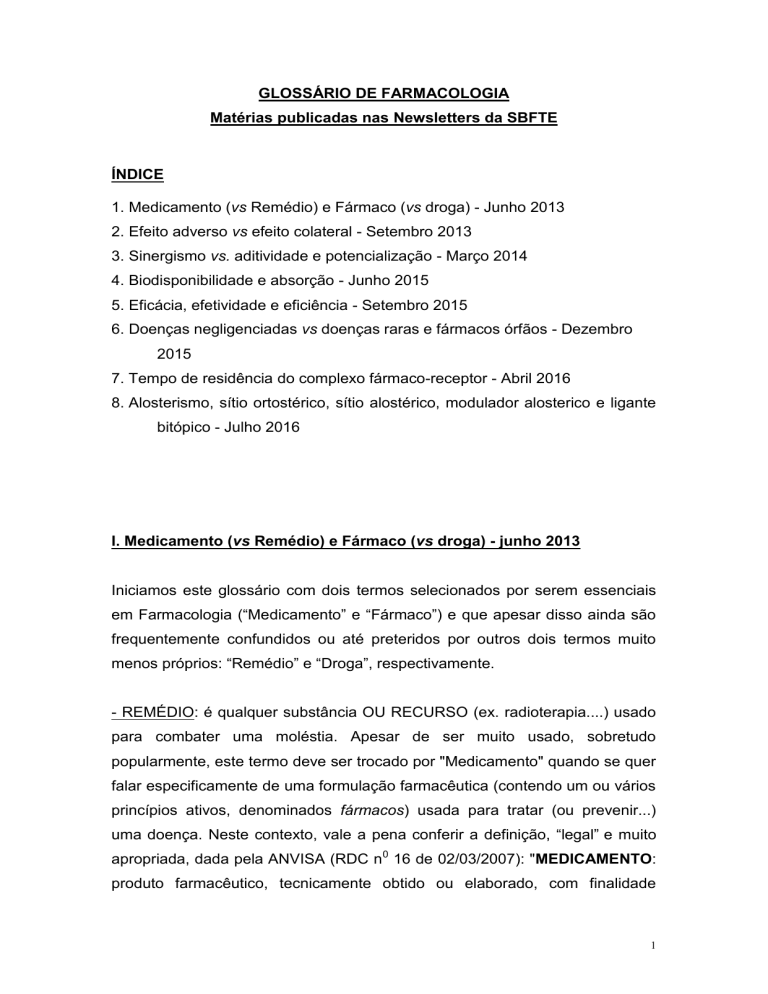
GLOSSÁRIO DE FARMACOLOGIA
Matérias publicadas nas Newsletters da SBFTE
ÍNDICE
1. Medicamento (vs Remédio) e Fármaco (vs droga) - Junho 2013
2. Efeito adverso vs efeito colateral - Setembro 2013
3. Sinergismo vs. aditividade e potencialização - Março 2014
4. Biodisponibilidade e absorção - Junho 2015
5. Eficácia, efetividade e eficiência - Setembro 2015
6. Doenças negligenciadas vs doenças raras e fármacos órfãos - Dezembro
2015
7. Tempo de residência do complexo fármaco-receptor - Abril 2016
8. Alosterismo, sítio ortostérico, sítio alostérico, modulador alosterico e ligante
bitópico - Julho 2016
I. Medicamento (vs Remédio) e Fármaco (vs droga) - junho 2013
Iniciamos este glossário com dois termos selecionados por serem essenciais
em Farmacologia (“Medicamento” e “Fármaco”) e que apesar disso ainda são
frequentemente confundidos ou até preteridos por outros dois termos muito
menos próprios: “Remédio” e “Droga”, respectivamente.
- REMÉDIO: é qualquer substância OU RECURSO (ex. radioterapia....) usado
para combater uma moléstia. Apesar de ser muito usado, sobretudo
popularmente, este termo deve ser trocado por "Medicamento" quando se quer
falar especificamente de uma formulação farmacêutica (contendo um ou vários
princípios ativos, denominados fármacos) usada para tratar (ou prevenir...)
uma doença. Neste contexto, vale a pena conferir a definição, “legal” e muito
apropriada, dada pela ANVISA (RDC n0 16 de 02/03/2007): "MEDICAMENTO:
produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade
1
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico (Lei nº 5.991, de
17/12/73). É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco,
geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos".
- DROGA: é uma infeliz tradução do inglês "drug" que contaminava boa parte
dos livros textos traduzidos em português e assim influenciou várias gerações
de docentes (*). Em português, temos a palavra "FÁRMACO", muito melhor
para distinguir o "princípio ativo" de um medicamento das "drogas ilícitas",
como cocaína.......... ou seja, quando se vê "drug" em inglês, deve se usar
"fármaco" em português. Da mesma forma, quando se vê "drug product" em
inglês, deve se usar "medicamento" em português.
(*): No caso de dois livros muito usados no ensino da Farmacologia em cursos de
Graduação, houve uma notável mudança nas edições mais recentes:
No “ Rang & Dale – Farmacologia”, houve uma adequação na tradução da 7ª edição
(quando os revisores científicos trocaram a palavra “droga” usada até a 6ª edição pela
palavra “Fármaco”, reservando a primeira para substâncias de abuso.
No caso do “Katzung – Farmacologia básica & clínica”, o mesmo ocorreu na
passagem da 9ª edição para a 10ª edição.
2. Efeito adverso vs efeito colateral - Setembro 2013
- EFEITO COLATERAL (do inglês “side effect”): é um efeito diferente daquele
efeito principal responsável pelo efeito e uso terapêutico do fármaco: assim,
um efeito colateral pode ser benéfico ou indiferente e não necessariamente
adverso,
indesejável (“unwanted
side effect”).
De
acordo
com
esta
interpretação, podemos citar o documento “Clinical Safety Management:
definitions and standards for expedited reporting – E2A”, recomendado para
adoção pelos órgãos regulatórios da Comunidade Européia, Japão e Estados
Unidos da América (ICH-International Conference on Harmonisation of
technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use).
De fato, este documento (II.A.2.) menciona claramente que “o termo
antigo “side effect” (i.e. efeito colateral) foi usado de várias maneiras no
2
passado, usualmente para descrever efeitos negativos (não favoráveis), mas
também efeitos positivos (favoráveis). É recomendado que este termo não seja
mais usado e que, particularmente, não seja considerado como sinônimo de
reação adversa”.
Nota-se que pode haver controversas quanto à definição de efeito
colateral, mas não quanto à necessidade de se abandonar este termo, como
veremos a seguir: no Tratado de Farmacologia Clínica e Farmacoterapia (ed.
Grahame-Smith & Aronson, terceira edição – Guanabara Koogan) se diz que
“um efeito adverso refere-se a um efeito não desejado de um fármaco. Os
efeitos adversos podem ser decorrentes de efeitos tóxicos ou efeitos
colaterais. Um efeito tóxico é um efeito adverso que surge em conseqüência
da intensificação do mesmo efeito farmacológico responsável pelo efeito
terapêutico do fármaco; por conseguinte trata-se de um efeito relacionado com
a dose. Um efeito colateral refere-se a um efeito adverso que surge através de
alguma reação farmacológica distinta daquela que produz o efeito terapêutico
(estes efeitos podem estar relacionados ou não com a dose”).
- De qualquer forma, deve-se evitar este termo como recomendam os mesmos
autores: “Como os efeitos colaterais relacionados com a dose também podem
ser considerados como efeitos tóxicos, é mais apropriado evitar os termos
“efeitos tóxicos” e “efeitos colaterais” e, no seu lugar, empregar o termo
“efeitos adversos”, que abrange todos os tipos de efeitos não desejados”.
Assim sendo, devemos usar a palavra "EFEITO ADVERSO" (ou efeito
"indesejável")
condizente
com
o
termo
"REAÇÃO
ADVERSO
AO
MEDICAMENTO" (RAM), termo consagrado em Farmacovigilância ("É
qualquer resposta a um medicamento que seja prejudicial, não intencional, e
que ocorra nas doses normalmente utilizadas em seres humanos para
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças, ou para a modificação de uma
função fisiológica"- ANVISA, Resolução - RDC nº 140, de 29 de maio de
2003"). Nota-se que esta definição esta plenamente de acordo com a definição
dada pela Organização Mundial da Saúde (WHO. The importance of
pharmacovigilance: safety monitoring of medicinal products. Geneva: WHO,
2002).
3
3. Sinergismo vs. aditividade e potencialização - março 2014
Já que a legislação brasileira restringiu o uso de combinações em dose
1
fixa , alguns das quais estariam sem fundamento racional, é importante
ressaltar a existência e fundamentação de combinações (princípios ativos
diferentes em uma mesma forma farmacêutica) e associações (princípios
ativos
diferentes
em
formas
farmacêuticas
diferentes)
com
eficácia
comprovada. O exemplo mais conhecido é certamente o combate à AIDS 2,
baseado tradicionalmente no uso de coquetéis de diferentes fármacos
(associações de diferentes medicamentos). Exemplificando uma mudança de
estratégia (de associações para combinações de fármacos), o FDA aprovou
em 2012 um medicamento (Stribild®) sob forma de comprimido contendo a
combinação em dose fixa de quatro fármacos anti-AIDS (elvitegravir,
cobicistat, emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate)3.
Em função do exposto, achamos importante rever algumas noções
sobre aditividade e sinergismo, temas pouco abordados em livros textos de
Farmacologia e até mesmo pela IUPHAR4, razão pela qual existe certa
imprecisão no uso destes termos como demonstrado pelo título desafiador do
artigo “O que é sinergismo ?” publicado numa das mais tradicionais revistas de
farmacologia5.
Falaremos de sinergismo quando o efeito da combinação (ou
associação) de dois fármacos é superior àquele esperado baseado na simples
aditividade. Portanto, o primeiro passo é de definir precisamente o que
entendemos por aditividade (interação nula), o que poderia parecer uma
questão simples de resolver mas que na prática se torna um pouco complicada
ainda mais devido à falta de consenso. Para simplificar, podemos considerar
que existem duas alternativas: aditividade de efeitos e aditividade de doses6-8.
A aditividade de efeitos (utilizada pela ANVISA9, infelizmente8) significa que o
efeito resultante da associação/combinação de dois fármacos é a soma
aritmética dos efeitos individuais. No caso da aditividade de doses
(aditividade de Loewe, geralmente utilizada em Farmacologia básica e clínica
através de análise isobolográfica10), o efeito da associação/combinação é o
efeito previsto baseado nas potências (e doses) dos dois fármacos: neste
4
caso, considera-se que existe aditividade quando um fármaco (o menos
potente) atua como se fosse uma simples forma diluída do outro.
Uma vez entendido o(s) significado(s) de tal fenômeno, podemos refletir
sobre a natureza dos mecanismos envolvidos no sinergismo entre dois
fármacos.
Na
realidade,
a
interação
pode
ocorrer
tanto
na
etapa
farmacocinética (geralmente durante o processo de metabolização) quanto na
etapa farmacodinâmica. No primeiro caso, o exemplo mais frequente é de
inibição enzimática quando um fármaco inibe o metabolismo do outro, como no
caso da associação entre ritonavir e saquinavir. Neste caso, o ritonavir inibe a
intensa metabolização do saquinavir, via a enzima CYP3A4, aumentando
assim a sua concentração plasmática e o seu tempo de meia-vida. No
segundo caso, podemos ter um efeito final resultante da ação de dois
fármacos em alvos moleculares distintos, como no caso do intenso sinergismo
observado para os efeitos antinociceptivos da fentolamina e do paracetamol 6.
Finalmente, resta saber como podemos avaliar, na prática, o tipo de
interação que existe quando se usa uma combinação de dois (ou mais)
fármacos. Geralmente, abre-se mão de modelos empíricos que necessitam
apenas de informação sobre as doses (ou concentrações) usadas e os efeitos
observados dos dois fármacos além de uma relação quantitativa entre dose e
resposta, selecionada empiricamente6,7. Uma vez definido o critério a ser
usado para definir uma interação nula, podemos concluir que efeitos maiores
do que esperados indicam sinergismo enquanto que efeitos idênticos e
menores indicam aditividade e antagonismo, respectivamente 6,7. Caso se opta
pelo critério de aditividade de doses, podemos usar a clássica análise
isobolográfica introduzida por Loewe (um isobolograma é um gráfico
bidimensional com as doses dos fármacos A e B nas coordenadas, em que
diferentes linhas, os isoboles, conectam as diferentes combinações de doses
que produzem a mesma intensidade de efeito)6,10. A situação é um pouco mais
complexa ainda devido à necessidade de haver algum teste estatístico além da
avaliação gráfica qualitativa6,10.
Para terminar, é importante ressaltar que o termo “potencialização”
(potenciação)
deveria
ser
usado,
somente,
em
caso
de
associação/combinação entre um fármaco A, que tem um efeito, e um fármaco
5
B sem efeito próprio, quando o efeito resultante é maior do que o efeito de A
sozinho8.
Referências:
1. ANVISA, Resolução - RDC Nº 210, de 2 de Setembro de 2004.
2. Sühnel J. Evaluation of synergism or antagonism for the combined action of antiviral
agents. Antiviral Res. 13: 23–39, 1990.
3.http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm317004.htm
(consultado em: 29/02/2014).
4. Neubig R.R., Spedding M., Kenakin T., Christopoulos C. International Union of
Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification.
XXXVIII. Update on Terms and Symbols in Quantitative Pharmacology. Pharmacol.
Rev. 55: 597–606, 2003.
5. Berenbaum M.C. What is synergism ? Pharmacol. Rev. 41: 93-141, 1989.
6. Tallarida R.J. Drug Synergism: Its Detection and Applications. J. Pharmacol. Ther.
298: 865–872, 2001.
7. Groten J.P., Feron V.J., Sühnel J. Toxicology of simple and complex mixtures.
Trends Pharmacol. Sci. 22: 316-322, 2001.
8. Chou T.C. Theoretical Basis, Experimental Design, and Computerized Simulation of
Synergism and Antagonism in Drug Combination Studies. Pharmacol. Rev. 58: 621–
681, 2006.
9. ANVISA, Guia para Registro de Novas Associações em Dose Fixa. 1ª
edição,
2010.
10. Tallarida R.J. Revisiting the Isobole and Related Quantitative Methods for
Assessing Drug Synergism. J. Pharmacol. Exp. Ther. 342: 2–8, 2012.
4. Biodisponibilidade e absorção - Junho 2015
ABSORÇÃO:
Apesar de ser um termo muito usado e aparentemente sem
ambigüidade, há risco de mal-entendido, sobretudo pela falta de definição
pelos órgãos regulatórios do país (ANVISA) e de fora (FDA/USA; CEE;
Canadá), mesmo quando eles utilizam este termo em resoluções abordando
6
os ensaios de biodisponibilidade (vide abaixo). De forma estranha, a maioria
dos livros textos de Farmacologia peca também em não definir o processo de
absorção de forma clara. Assim sendo, nós parece útil apresentar aqui uma
definição de consenso entre as fontes consultadas (eg, Principles of
Pharmacology: Basic concepts clinical applications – ed. Munson, P.L.,
Mueller, R.A. & Breese, G.R., 1a edição, Chapman Hall): “A absorção
envolve a passagem das moléculas do fármaco através de barreira(s)
existente(s) entre o sítio de administração e o compartimento vascular”. É
fundamental ressaltar aqui que o compartimento vascular a ser considerado (e
isso nem sempre fica claro e há controvérsia) é o da circulação local (por
exemplo, as veias mesentéricas, para a absorção intestinal) e não da
circulação sistêmica. Esta precisão é muito importante para não confundir os
conceitos de absorção e biodisponibilidade (vide abaixo o exemplo do
propranolol). Nota-se que ha controvérsia na literatura, quando vários autores
consideram que o termo “absorção” reflete a chegada do fármaco até a
circulação sistêmica (“absorção sistêmica”).
BIODISPONIBILIDADE
Apesar deste conceito ser tão importante no processo de controle de
qualidade de medicamentos, entre outros para assegurar a bioequivalência
entre medicamentos genéricos e similares em relação aos medicamentos de
referências (RDC nº60 da ANVISA - 10/10/2014), há grande quantidade de
definições errôneas ou pelo menos ambíguas na literatura especializada, quer
seja em livros textos ou em resoluções das agências regulatórias.
Antes de chamar a atenção sobre alguns erros conceituais encontrados
na literatura, gostaríamos de apresentar uma definição que nós parece das
melhores por ser simples, objetiva, completa e moderna: “A biodisponibilidade
mede a velocidade e extensão com as quais um fármaco atinge a circulação
sistêmica” (Canadá - Guidance for industry - Conduct and Analysis of
Bioavailability and Bioequivalence Studies - Part B: Oral Modified Release
Formulations). Nota-se que definição semelhante é encontrada em vários
7
tratados
especializados
(eg:
Introdução
à
Farmacocinética
e
à
Farmacodinâmica, ed. Tozer, T.N. & Rowland, M. - Artmed Editora, S.A. 2009;
Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, ed. Shargel, L & Yu, A.B.C.
Stanford,
Connecticut,
1999;
Tratado
de
Farmacologia
Clínica
e
Farmacoterapia , ed. Grahame-Smith, D.G. & Aronson, J.K. – 3a edição,
Guanabara Koogan).
Erros conceituais mais comuns:
1. As definições apresentadas pelas agências regulatórias americana (FDA) e
européia (EMEA) falam em disponibilidade do fármaco no sítio de ação, o que
é impossível de se medir na prática e torna esta definição estéril e incoerente
pelo menos no que diz respeito aos parâmetros avaliados para se quantificar a
biodisponibilidade de um fármaco, na prática (ASC, Cmax e Tmax). Devido à
força do FDA e a aspectos históricos, esta definição sabidamente confusa é
repetida em vários livros textos.
2. Apesar de não ser tão comum, devemos ressaltar outro erro conceitual,
desta vez encontrado na legislação brasileira que usa o termo “absorção” (vide
definição acima) em vez de “absorção e disponibilidade sistêmica”. De fato, a
RDC nº60 da ANVISA (10/10/2014) diz que a biodisponibilidade “indica a
velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo proveniente de uma
forma farmacêutica, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação
sistêmica ou sua excreção na urina, medida com base no pico de exposição e
na magnitude de exposição ou exposição parcial”. Este “erro” de terminologia
(possivelmente devido ao uso do termo “absorção” no sentido de “absorção
sistêmica”) pode gerar grande confusão, já que um fármaco que sofrer
importante efeito de primeira passagem hepática (como o propranolol, por
exemplo) possui um baixo fator de biodisponibilidade (parâmetro que mede
a extensão da biodisponibilidade, vide abaixo) apesar de ser bem absorvido:
de fato, o propranolol consegue atravessar a barreira da mucosa intestinal e
chegar na circulação sanguínea local, mas é intensamente metabolizado no
fígado, ou seja, antes de chegar na circulação sistêmica, havendo assim
baixa disponibilidade sistêmica do fármaco inalterado (não metabolizado).
3. Um terceiro erro conceitual grave, e infelizmente muito comum, é de
confundir biodisponibilidade e fator de biodisponibilidade (F), um
8
parâmetro que mede, somente, a extensão da biodisponibilidade (e não a sua
velocidade). Infelizmente este erro encontra-se em três livros de Farmacologia
muito usados por nossos alunos de graduação, a começar pela “bíblia” do
Farmacologista (Goodman Gilman`s The pharmacological basis of
therapeutics – ed. Brunton, L.L., Chabner, B.A. & knollmann, B.C., 12 a edição,
Mc-Graw-Hill Co; Farmacologia Básica e Clínica – ed. Katzung, B.G., Masters
S.B. & Trevor, A.J. 12a edição, AMGH Editora Ltda; Rang & Dale Farmacologia
- ed. Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower R.J. & Henderson G. 7a
edição, Elsevier Editora Ltda.).
5. Eficácia, efetividade e eficiência - publicada em Setembro 2015
Apesar de poder ser considerados sinônimos pelo público leigo, estes
termos possuem significados diferentes para os especialistas em Pesquisa
clínica. Cientes de que estas diferenças nem sempre estão bem assimilados
no meio da Farmacologia básica, estamos reportando aqui definições que
esperamos esclarecedoras. Nota-se que a confusão pode ser exacerbada pelo
fato de uma mesma terminologia ter significado diferente na pesquisa básica e
clínica, como é o caso do termo “eficácia”.
De fato, na pesquisa básica, a “Eficácia” de um fármaco refere-se,
freqüentemente, à sua capacidade máxima de produzir um efeito, ou seja, este
termo é muitas vezes usado como sinônimo de “atividade intrínseca” (como
chamado por Ariëns em 1954) ou “efeito agonístico máximo” (como atualmente
recomendado pela IUPHAR1), facilmente medido no platô da curva
“concentração- ou dose-efeito”. Este efeito máximo é mais bem expresso como
fração () do efeito produzido pelo agonista total do mesmo tipo, atuando
através dos mesmos receptores, nas mesmas condições experimentais. Um
agonista total (pleno) tem = 1, enquanto um antagonista (neutro) tem = 0 e
um agonista parcial 0<<1. De forma mais restrita, e de difícil avaliação na
prática, o termo “eficácia intrínseca” (), introduzido por Furchgott em 1966, é
atualmente reservado para representar o estímulo produzido pela interação de
uma molécula do fármaco com um único receptor (este parâmetro é uma
9
característica do fármaco para um determinado receptor, não dependendo do
sistema de transdução de sinal presente na célula)1. A confusão pode ainda
ser maior se considerarmos um terceiro parâmetro, τ (“razão de transdução”),
proposto para avaliar a eficácia de um agonista em um sistema, no modelo
operacional de Black e Leff 2.
-
Por outro lado, na pesquisa clínica, a “Eficácia” refere-se à capacidade
de um medicamento, na dose recomendada, em produzir efeitos benéficos em
circunstâncias ideais, como nos ensaios clínicos randomizados 3. A eficácia é
então medida pela avaliação dos resultados clínicos e estatísticos do ensaio
clínico. Porém, os pacientes estudados nestes ensaios controlados são,
geralmente, jovens, de sexo masculino, brancos, acometidos por uma única
doença e usando um único tratamento*. A maioria dos pacientes na prática
médica não se encaixa nesta descrição.
-
Assim sendo, o termo “Efetividade” tem outro significado, sendo
utilizado para medir o efeito de um medicamento na terapêutica, ou seja, em
condições “reais” da população como um todo, ao contrário do que é avaliado
durante os ensaios clínicos controlados, quando os pacientes envolvidos foram
rigorosamente selecionados3. Desta forma, a baixa adesão (e não aderência)
do paciente a um tratamento (em função de efeitos adversos ou complicações
do esquema terapêutico), pode influenciar sua efetividade, assim como a
presença de comorbidades ausentes nos pacientes incluídos nos ensaios
clínicos
controlados.
A
efetividade
pode
ser
avaliada
em
estudos
observacionais, na prática usual da medicina.
- O terceiro termo, “Eficiência”, é utilizado quando se avalia a relação custoefetividade de um tratamento para o paciente ou a sociedade 3 e é de
fundamental importância para a disciplina de Farmacoeconomia e como um
dos critérios para seleção de medicamentos essenciais, como na RENAME 4.
* Contudo, vale ressaltar que existe uma tendência, nos estudos de fase III, de
se testar o medicamento em amostras populacionais cada vez maiores, com
comorbidades, e mesmo em uso de medicação diversa, visando poder
extrapolar os dados para a população que irá usar o produto quando
disponível no mercado.
10
Referências:
1. Neubig, R.R., Spedding, M., Kenakin, T. & Christopoulos, A. International
Union of Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug
Classification. XXXVIII. Update on Terms and Symbols in Quantitative
Pharmacology. Pharmacol. Rev. 55: 597–606, 2003
2. Black, J.W. & Leff, P. Operational models of pharmacological agonism. Proc.
R. Soc. Lond. B 220: 141-162, 1983.
3. Marley, J. Efficacy, effectiveness, efficiency. Aust. Prescr. 23:114-115, 2000.
4. Rogério Hoefler, R. & Maluf, A.C.S. Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais 2010 e Formulário Terapêutico Nacional 2010. Farmacoterapêutica,
Ano XV, Número 06, nov-dez, 2010.
6. Doenças negligenciadas vs doenças raras e fármacos órfãos Dezembro 2015
Segundo o DECIT/MS1, as Doenças negligenciadas são doenças que
prevalecem em condições de pobreza e para as quais há pouco interesse por
parte das indústrias farmacêuticas tradicionais devido à falta de mercado
significativo tendo em visto que são doenças que atingem populações de baixa
renda e presentes, sobretudo,
nos países em desenvolvimento. Entre as
doenças negligenciadas, podemos citar: malária, tuberculose, dengue,
chikungunya, esquistossomose, oncocercose, hanseníase e filaríase linfática
(elefantíase),
tripanossomíase
africana
humana
(doença
do
sono),
leishmaniose visceral (calazar) e doença de Chagas, sendo que estas três
últimas são consideradas como extremamente negligenciadas. Nota-se que a
OMS usa mais o termo doenças tropicais negligenciadas2 cuja lista não
incluiu malária e tuberculose, por exemplo, as quais são objetos de maior
investimento em pesquisa para desenvolvimento de novos fármacos.
Assim sendo, as doenças negligenciadas são doenças que afetam
milhões de pessoas em países do terceiro mundo onde carece capacidade
financeira para pagar por novos fármacos financiados pelos mecanismos
tradicionais, extremamente onerosos, que asseguram a pesquisa e o
11
desenvolvimento de novos fármacos. No caso das doenças negligenciadas, há
certo consenso de que uma saída para o desenvolvimento de novos fármacos
é a criação de parcerias entre instituições públicas e privadas (as famosas
PPP: public-private partnership), que podem ser estimuladas por iniciativas
como o DNDi (Drugs for Neglected Disease initiative), inicialmente idealizada
pela ONG Médicos sem Fronteiras3, e que foca atualmente seus esforços nas
doenças extremamente negligenciadas.
Por outro lado, os chamados “Fármacos Órfãos”, são fármacos
desenvolvidos para tratar de doenças raras (poucas vezes também chamadas
de doenças órfãos4,5).
Neste caso, a falta de interesse da Indústria
farmacêutica se deveria ao restrito tamanho do mercado (mesmo se presente
em paises ricos), caso o FDA não tiver tomado medidas de incentivo (Orphan
Drug Act, FDA - 1983) que resultaram em investimentos “tradicionais” pelo
mercado farmacêutico. Nota-se que existe grande divergência quanto à
qualificação de uma doença rara4,5, sendo que a maioria das jurisdições (66%)
adota um limiar médio de prevalência entre 40 e 50 casos / 100.000 pessoas 5.
Nos Estados Unidos da América (USA), são definidas como sendo doenças
que afetam menos de 200.000 pessoas (nos USA) ou para as quais não existe
expectativa razoável de que a o custo de desenvolvimento de fármaco para
estas doenças seja recuperado pelas vendas nos Estados Unidos 6. Apesar de
“raras”, estas doenças (em torno de 7.000) acometem 6-8% da população
mundial, sendo 13 milhões de pessoas no Brasil7. Como exemplos de
Fármacos Órfãos (doenças raras), temos: ceredase (doença de Gaucher),
dantrolene (hipertermia maligna), imatinib (leucemia mielogenosa crônica),
tretinoina (leucemia aguda promielocítica), ifosfamida (câncer dos testículos),
sotalol (taquicardia ventricular), miltefosina (leishmania).
Referências:
1. Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos
Estratégicos, Ministério da Saúde. Doenças negligenciadas:estratégias do Ministério
da Saúde. Rev Saúde Pública 44(1):200-202, 2010.
2. http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/
12
3. Nwaka, S. & Ridley, R.G. Virtual drug discovery and development for neglected
diseases through public–private partnerships. Nature Rev. Drug Discov. 2(11):919928, 2003.
4. Aronson, J.K. Rare diseases and orphan drugs. Br. J. Clin. Pharmacol. 61:243-245,
2006.
5. Richter, T., Nestler-Parr, S., Babela, R.,
Khan, Z.M., Tesoro, T., Molsen, E.,
Hughes, D.A. Rare Disease Terminology and Definitions - A Systematic Global
Review: Report of the ISPOR Rare Disease Special Interest Group. Value Health
18:906-914, 2015.
6. Haffner, M.E. Focus on Research: Adopting Orphan Drugs - Two Dozen Years of
Treating Rare Diseases. New Eng. J. Med. 354(5):445-447, 2006.
7. Arnold, R.J.G., Bighash, L., Nieto, A.B., de Araújo, G.T.B., Gay-Molina, J.G.,
Augustovski, F. The role of globalization in drug development and access to
orphan drugs: orphan drug legislation in the US/EU and in Latin America.
F1000Res. Feb 27;4:57, 2015.
7. Tempo de residência do complexo fármaco-receptor - Abril 2016
Dez anos após que Copeland e colaboradores (2006; Copeland, 2016)
sugeriram que o fator determinante da atividade farmacológica in vivo, e da
sua duração, não era a afinidade do fármaco para seu receptor, mas o tempo
de vida do complexo fármaco-alvo, nós pareceu oportuno definir e discutir aqui
o conceito de Tempo de Residência do complexo fármaco-receptor. Stricto
senso, conforme definido originalmente (Copeland e cols., 2006), o tempo de
residência do fármaco no alvo (receptor, enzima) é o recíproco da constante
de velocidade de dissociação (koff, k-1), ou seja: τ = 1 / koff. De acordo com este
modelo, a atividade farmacológica (pelo menos para antagonistas e inibidores
enzimáticos) dependeria da ligação do fármaco ao seu alvo desejado, sendo
que a atividade farmacológica persistiria somente quando o fármaco
permanecer ligado. Desta forma, pode haver interesse em compostos com alto
tempo de residência, sobretudo se este for maior do que o tempo de meia-vida
plasmática (Copeland, 2016), sendo assim um fator importante para entender
a relação Farmacocinética/Farmacodinâmica (PK/PD) destes fármacos. Como
exemplo de trabalho reforçando esta ideia, Guo e colaboradores (2012)
13
mostraram que não existia nenhuma relação entre eficácia e afinidade de uma
série de agonistas do receptor A2a, enquanto encontraram uma boa correlação
entre eficácia e tempo de residência. Por outro lado, um tempo de residência
mais curto poderia ser benéfico para evitar um bloqueio contínuo de um
receptor, como no caso da clozapina no receptor D2. De fato, a teoria do "fastoff" propõe que os antipsicóticos atípicas são fracamente ligados aos
receptores D2 na sinapse, e assim rapidamente libertados destes, o que
explicaria sua menor propensão para induzir efeitos extrapiramidais e
hiperprolactinemia, os quais seriam consequências de bloqueio prolongado
destes receptores (Kapur e Seeman, 2000).
Assim sendo, podemos ver que este conceito pode mudar um dos
paradigmas da avaliação de novos compostos dentro do processo de
descoberta de novos fármacos, tradicionalmente baseada em medidas de
afinidade de ligação em condições de equilíbrio termodinâmico, condições que
não são inteiramente válidas no contexto de um sistema aberta, onde as
concentrações do fármaco na biofase mudam de acordo com processos
farmacocinéticos (Copeland, 2016; Swinney e cols., 2015). Nota-se que desde
as primeiras descrições deste modelo, numerosos compostos avançaram para
ensaios clínicos com base nos esforços para incorporar o conceito de tempo
de residência do fármaco no alvo, como um fator-chave para a otimização de
compostos-protótipos (Copeland, 2016).
Por fim, é importante salientar que este parâmetro farmacodinâmico
“tempo de residência” (do fármaco no receptor), não tem nada a ver com o um
parâmetro farmacocinético “tempo de residência médio” (“mean residence
time”), que estima o tempo médio que um fármaco permanece no organismo.
Referências
Copeland RA. The drug–target residence time model: a 10-year retrospective. Nat. Rev.
Drug Discov. 15:87–95, 2016.
Copeland RA, Pompliano DL,Meek TD. Drug-target residence time and its implications
for lead optimization. Nat. Rev. Drug Discov. 9:730–739, 2006.
14
Guo D, Mulder-Krieger T, Ijzerman AP, Heitman LH. Functional efficacy of adenosine
A2A receptor agonists is positively correlated to their receptor residence time. Br. J.
Pharmacol. 166:1846–1859, 2012.
Kapur S, Seeman P. Antipsychotic agents differ in how fast they come off the
dopamine D2 receptors. Implications for atypical antipsychotic action. J. Psychiatry
Neurosci.
25(2):161–166, 2000.
Swinney DC, Haubrich BA, Van Liefde I, Vauquelin G. The Role of Binding Kinetics in
GPCR Drug Discovery. Curr. Top. Med. Chem. 15:1-19, 2015.
9. Alosterismo, sítio ortostérico, sítio alostérico, modulador alosterico e
ligante bitópico - Julho 2016
O termo “alostérico” foi inicialmente lançado por Monod e Jacob em
1962
para
descrever
o
fenômeno
de
interação
entre
dois
sítios
topograficamente distintos de uma mesma enzima, através da transmissão de
modificação conformacional. Em 1980, De Lean, Stadel e Lefkowitz aplicaram
este conceito de interação alostérica para explicar a transdução de sinal no
caso dos receptores metabotrópicos, dentro do chamado “Modelo de complexo
ternário” (agonista-receptor-proteína G).
Atualmente, o alosterismo se tornou foco de muitos estudos
farmacológicos, na academia e nas empresas farmacêuticas, por causa do
grande potencial em se desenvolver fármacos mais seletivos e/ou mais
seguros. De fato, haveria mais chance de se conseguir compostos seletivos
atuando em sítios alostéricos do que em sítios ortostéricos, cujas estruturas
são geralmente muito conservadas entre diferentes subtipos de um mesmo
receptor, como já bem ilustrado no caso dos receptores muscarínicos. Nota-se
que o maravinoc foi o primeiro fármaco alostérico aprovado para uso clínico
sendo um modulador alostérico neutro, “antagonista”, do receptor CCR5 para
quimiocinas. Por outro lado, um perfil mais seguro poderia decorrer do fato de
um modulador alostérico ter um efeito mais fisiológico (por manter o padrão
temporal e espacial associado à liberação do neurotransmissor) e limitado a
15
um determinado nível, independentemente do aumento da dose (Efeito de
teto).
Em função do exposto, nos pareceu oportuno lembrar algumas
definições relacionadas a este tema tão importante que mereceu uma
recomendação da IUPHAR quanto a sua nomenclatura (Christopoulos et al.,
2014). Outra motivação para esta escolha baseia-se no papel importante do
Arthur Christopoulos neste artigo da IUPHAR e na pesquisa por novos
fármacos atuando alostericamente, já que ele será um dos três conferencistas
de destaque do nosso próximo congresso da SBFTE celebrando os 50 anos
da nossa Sociedade.
Definições:
Sítio ortostérico: o sítio de ligação, no receptor, que é reconhecido pelo
agonista endógeno deste receptor.
Sítio alostérico: um sítio de ligação, no receptor, que não tem sobreposição, é
espacialmente distinta, mas conformacionalmente ligado ao sítio ortostérico.
Modulador alostérico: um ligante que modifica a ação de um agonista
ortostérico, um ativador endógena ou um antagonista, ao se ligar a um sítio
alostérico no receptor. Um modulador alostérico positivo aumenta a ação
(afinidade e/ou eficácia) de um agonista, ativador ou antagonista ortostérico.
Um modulador alostérico negativo diminui a ação (afinidade e/ou eficácia) de
um agonista, ativador ou antagonista ortostérico.
Ligante bitópico: uma molécula híbrida que, concomitantemente, ocupe um
sítio ortostérico e um sítio alostérico num receptor através de dois
grupamentos farmacofóricos (um tendo o papel de um ligante ortostérico e o
outro de um ligante alostérico).
Referências
Christopoulos A, Changeux J-P, Catterall WA, Fabbro D, Burris TP, Cidlowski JA,
Olsen RW, Peters JA, Neubig RR, Pin J-P, Sexton PM, Kenakin TP, Ehlert FJ,
Spedding M, Langmead CJ. (2014) International Union of Basic and Clinical
Pharmacology. XC. Multisite Pharmacology: Recommendations for the Nomenclature
of Receptor Allosterism and Allosteric Ligands. Pharmacol. Rev. 66:918-947.
16
Kenakin T. (2014) A Pharmacology primer. Techniques for more effective and strategic
drug discovery. 4ª edição, Elsevier.
Wootten D, Christopoulos A, Sexton PM. (2013) Emerging paradigms in GPCR
allostery: implications for drug Discovery”. Nature Rev. Drug Discov. 12:630-641.
17