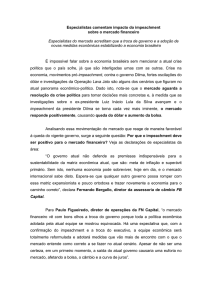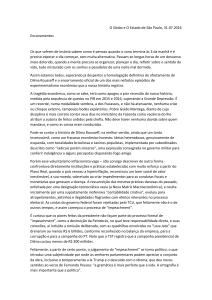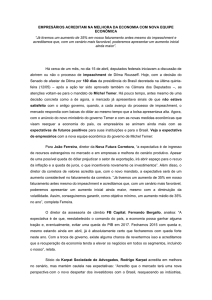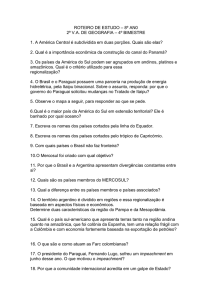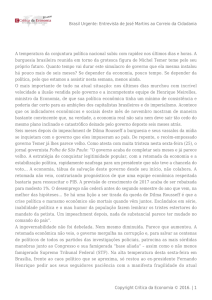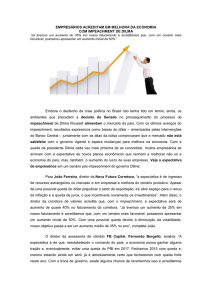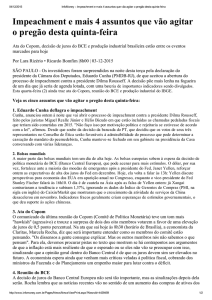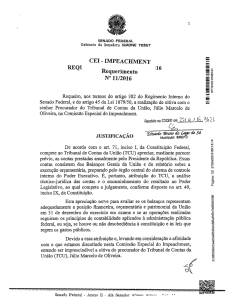Eletricidade no Brasil
Olga Côrtes Rabelo Leão Simbalista
Dezembro 2015
Zonas de comércio,
zonas monetárias e o caso da Grécia:
lições da teoria econômica
Rubem de Freitas Novaes
Considerações sobre o impeachment
Marcus Faver
Número 729
Síntese da Conjuntura
Conjuntura econômica
Ernane Galvêas
Dezembro
2015
729
Dezembro
2015
729
Conferências proferidas nas reuniões
semanais do Conselho Técnico da
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
Sumário
Eletricidade no Brasil ............................................... 4
Olga Côrtes Rabelo Leão Simbalista
Zonas de comércio, zonas monetárias e
o caso da Grécia: lições da teoria econômica ........... 34
Rubem de Freitas Novaes
Considerações sobre o impeachment ....................... 52
Marcus Faver
Síntese da Conjuntura
Conjuntura econômica ........................................... 86
Ernane Galvêas
São de responsabilidade de seus autores os conceitos emitidos
nas conferências aqui publicadas.
Solicita-se aos assinantes comunicarem qualquer alteração de endereço.
As matérias podem ser livremente reproduzidas integral ou parcialmente, desde que
citada a fonte.
A íntegra das duas últimas edições desta publicação está disponível no endereço
www.cnc.org.br.
Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
Dezembro 2015, n. 729
Brasília
SBN Quadra 1, Bloco B, no 14, do 15o ao 18o andar
Edifício CNC
CEP: 70041-902
PABX: (61) 3329-9500 | 3329-9501
[email protected]
Rio de Janeiro
Avenida General Justo, 307
CEP: 20021-130
Tel.: (21) 3804-9241
Fax: (21) 2544-9279
[email protected]
www.cnc.org.br
Publicação Mensal
Editor Responsável: Cristina Calmon
Projeto Gráfico: Assessoria de Comunicação/Programação Visual
Revisão: Elisa Sankuevitz, Maria Luiza e Marília Pinto de Oliveira
Impressão: Gráfica Ultraset
Carta Mensal |Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo – v. 1, n. 1 (1955) – Rio de Janeiro: CNC, 1955100 p.
Mensal
ISSN 0101-4315
1. Problemas Brasileiros – Periódicos. I. Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Conselho Técnico.
Conselho Técnico
Presidente
Antonio Oliveira Santos
Conselheiros
Antonio Celso Alves Pereira
Antonio Chagas Meirelles
Antonio Paim
Ari Cordeiro Filho
Arnaldo Niskier
Arno Wehling
Arnoldo Wald
Aspásia Camargo
Carlos Afonso Pierantoni Gambôa
Carlos Antonio Bettencourt Bueno
Célio Borja
Cid Heraclito de Queiroz
Claudio R. Contador
Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Eduardo da Silveira Gomes Júnior
Eliseu Álvares Pujol
Ellen Gracie Northfleet
Ernane Galvêas
Ernesto Albrecht
Evaristo de Moraes Filho
Geraldo Holanda Cavalcanti
Harry Adler
Ives Gandra da Silva Martins
Jaime Rotstein
Jarbas Passarinho
J. Bernardo Cabral
João Clemente Baena Soares
João Havelange
João Paulo dos Reis Velloso
João Ricardo Carneiro Moderno
Joel Mendes Rennó
José Arthur Rios
José Botafogo Gonçalves
José Carlos Barbosa Moreira
José Carlos Fragoso Pires
José Carlos Soares Freire
José Luiz S. Miranda
José Osvaldo de Meira Penna
Julian Chacel
Léa Maria Sussekind Viveiros de Castro
Leonidas Pires Gonçalves
Leopoldo Garcia Brandão
Luiz Augusto de Castro Neves
Luiz Felipe Lampreia
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Luiz Roberto A. Cunha
Manoel Pio Corrêa Júnior
Marco Cesar Meira Naslausky
Marcos de Azambuja
Marcus Faver
Maria Beltrão
Mary del Priore
Mauro Gandra
Meton Soares Junior
Nelson M. de Mello e Souza
Ney E. Prado
Olga Côrtes Leão Simbalista
Oswaldo Trigueiros Júnior
Paulo Bonavides
Paulo Mercadante
Ricardo Vélez Rodríguez
Roberto Abdenur
Roberto Cavalcanti de Albuquerque
Roberto Fendt
Roberto P. de Lima Netto
Roberto Rosas
Rosiska Darcy de Oliveira
Rubem de Freitas Novaes
Samuel Auday Buzaglo
Sergio F. Quintella
Theophilo de Azeredo Santos
Vasco Mariz
Eletricidade no Brasil
Olga Côrtes Rabelo Leão Simbalista
Engenheira Nuclear.
E
m 2015, comemoramos o Ano Internacional da Luz, a despeito de
1,5 bilhão de pessoas no mundo ainda viver no escuro. Esse fato,
bem como a situação atual caótica do abastecimento de eletricidade no
Brasil, motivou-nos a escolher esse tema para as discussões desta tarde.
A eletricidade é uma das partes da física que possui maior campo de
investigação ainda existente. Os diversos usos da eletricidade ainda
não foram esgotados. Diariamente, somos bombardeados por uma
quantidade enorme de novas aplicações da eletricidade.
Alguns séculos antes de Cristo, os gregos já conheciam o efeito elétrico
que se manifestava, quando um pedaço de âmbar friccionado atraía
pedaços de palha e outros corpos leves. Os gregos conheciam, também,
o efeito magnético resultante da propriedade de materiais como a magnetita, que atrai pedaços de ferro. Contudo, antes do descobrimento
da eletricidade e, mais especificamente, de como manter uma corrente
4
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
elétrica regular, há pouco mais de um século, era preciso queimar alguma
coisa, seja madeira, óleo, gás ou cera, para se obter a luz.
A lâmpada elétrica incandescente foi uma forma de produzir luminosidade aquecendo um objeto, com o uso de uma corrente elétrica
passando por um filamento, até que ele emitisse luz visível, a qual,
todavia, em contato com o ar, entrava em combustão. Thomas Edison
(1847-1931) resolveu o problema, em 1879, colocando um filamento
feito com fibras de bambu carbonizado no interior de um bulbo de
vidro, onde fez-se um vácuo, a lâmpada acendeu, desprendendo uma
luz suave durante vários dias.
Tínhamos uma nova fonte de luz, o nosso sol particular: a luz elétrica. O fogo não era mais tão necessário, a eletricidade podia aquecer,
transformar e iluminar.
O domínio da eletricidade acelerou o processo de desenvolvimento
mais do que a habilidade em produzir fogo. É interessante comparar os efeitos na civilização, nos dez mil anos passados, a partir do
controle do fogo pelos nossos ancestrais, com os cerca de cem anos
após o controle da eletricidade pelos nossos quase avós. Enquanto
levamos em torno de dois mil anos desde a fundição do bronze
até a moldagem do ferro, em pouco mais de um século passamos
do lampião ao computador, e a maior parte das pessoas em todo o
mundo ficou quase que totalmente vinculada aos diferentes usos da
eletricidade. Nas grandes cidades, os sistemas coletivos de iluminação, comunicação, transporte, segurança, medicina, entretenimento,
alimentação e, principalmente, suprimento de água demandam eletricidade. Em nossas casas, os sistemas familiares de refrigeração,
iluminação, controle, comunicação e cocção também funcionam com
base na eletricidade, que contribuiu enormemente no processo de
emancipação da mulher e sua ida ao mercado de trabalho.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
5
A denominada Segunda Revolução Industrial caracterizou-se pelo
uso de novos materiais, novas fontes de energia e aplicação do conhecimento científico na indústria. Se na Inglaterra havia surgido a
Primeira Revolução Industrial, a Alemanha, unificada por Bismarck,
foi a liderança fundamental que determinou o ritmo da corrida industrial da Segunda Revolução. Se o carvão e ferro foram a base da
primeira, o aço e a eletricidade determinaram o sucesso da segunda.
Essa revolução se espalhou pelo mundo, sendo o ponto de partida
para a economia globalizada, aquela, saindo da Grã-Bretanha, pouco
ultrapassou os limites da Europa Ocidental. O Electric Lightning Act,
assinado pela Rainha Vitória, é reconhecido como o primeiro instrumento regulatório sobre eletricidade.
E o progresso oriundo dessa Segunda Revolução trouxe, como reflexo
da superprodução e da competição, profundas mudanças empresariais,
com o desaparecimento de pequenas indústrias e o fortalecimento
de grandes conglomerados empresariais. No campo da eletricidade,
são dessa época a Siemens da Alemanha, a Brown Boveri da Suíça, a
ASEA da Suécia, a GE norte-americana e a Philips holandesa, nomes
que chegaram aos dias de hoje.
O Brasil, no meio do reinado de Dom Pedro II, consolidou sua
vocação básica de exportador agrícola: café, cacau, algodão, açúcar,
fumo, mais a borracha, ao final do século. Os anos 1880 do século
XIX marcaram o começo da economia industrial no Brasil, com
trabalhadores assalariados e empresas organizadas.
No auge do debate abolicionista, Dom Pedro II, homem de grande curiosidade científica, foi assistir à Exposição de Filadélfia, nos
Estados Unidos, onde conheceu Thomas Edison, seus aparelhos e
lâmpadas elétricas. Fascinado pelo novo invento, o imperador encomendou uma demonstração no Rio de Janeiro. Assim, em 1879,
6
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
a eletricidade apareceu no Brasil, quando seis lâmpadas elétricas,
acionadas por dois dínamos, substituíram 46 lampiões de gás da
Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A partir daí, o uso da
eletricidade foi se espalhando:
•
Em 1881, em exposição na Escola de Minas em Ouro Preto.
•
Em 1883, um minerador constrói uma usina hidrelétrica no
Ribeirão do Inferno, em Diamantina, a fim de movimentar
bombas de desmonte hidráulico para revolver o terreno com
água, na busca de diamantes. No mesmo ano, os primeiros
bondes elétricos começam a circular em Niterói e em Campos,
cidade esta, onde também inaugura-se o primeiro sistema de
iluminação pública, que, com 39 lâmpadas, ilumina, pela primeira vez, uma cidade da América do Sul.
•
Em 1887, em Nova Lima, Minas Gerais, uma pequena hidrelétrica, associada a uma linha de transmissão, leva energia às
casas de trabalhadores e funcionários da Compagnie des Mines d’Or
Du Faria. Também nesse ano, Porto Alegre torna-se a primeira
capital a contar com o serviço público de iluminação elétrica.
•
Em 1889, é construída, em Juiz de Fora, a primeira hidrelétrica
brasileira com a finalidade de serviço público: a Usina Marmelos, no rio Paraibuna, de propriedade do industrial Bernardo
Mascarenhas, com a “extraordinária” potência de 0,25 MW.
•
A partir da década de 1890, a energia elétrica passa a ser explorada
com objetivo industrial, quando pequenas indústrias começam a
se instalar próximas a quedas d’água para, daí, tirarem sua energia.
•
Em 1899, a São Paulo Light and Power recebe a primeira concessão de energia elétrica no país, por meio de decreto de
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
7
Campos Sales, e, no ano seguinte, é inaugurada a primeira linha
de bondes na cidade de São Paulo, ligando a Barra Funda ao
Centro, e suprida por uma termelétrica de 1 MW. A partir de
1904, recebe concessão para atuar também no Rio de Janeiro.
•
Em 1927, a American & Foreign Power Company (AMFORP),
pertencente ao grupo americano Electric Bond and Share Corporation, abre uma concessionária no Brasil, a Empresas Elétricas
Brasileiras (EEB), posteriormente denominada Caeeb, e passa a
atuar, principalmente, em distribuição em várias capitais.
No final do século XIX, a potência instalada no Brasil é de cerca de
12MW, com uma população de 17 milhões de habitantes. A partir de
então, a evolução do setor de energia elétrica mostra que, de tempos
em tempos, condicionantes de diversas naturezas, porém, com um
forte componente político, levam à necessidade de reformulações
institucionais do modelo setorial, sendo que, até quase o final do
século, em intervalos de cerca de vinte anos e, a partir daí, com uma
frequência inferior a dez anos.
Em 1930, 80% do mercado de distribuição brasileiro era atendido
pela Light e Caeeb, posição que se manteve até 1960.
No início do século XX, a produção e o uso da eletricidade restringiam-se a indústrias que dispunham de seus próprios geradores
para autoprodução, ou ao setor de serviços públicos de iluminação,
abastecimento de água ou bondes, nas grandes cidades, uma vez que
o país ainda apresentava uma economia essencialmente agrícola.
A presença do Estado no setor limitava-se à concessão de âmbito
municipal, fiscalização dos contratos e seus aditamentos e na edição
de leis que fixavam as tarifas, muitas vezes por meio de contratos
lastreados em “cláusula ouro”.
8
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
Um novo ciclo, marcado pelo crescente consumo de eletricidade e
pelo início da industrialização do país, tem como marco a edição do
Decreto 24.643, de 1934, que instituiu o Código de Águas. Produto
do professor Alfredo Valadão, que na verdade fora iniciado na década de 1910, este código, além de regulamentar todos os aspectos
envolvidos no uso dos cursos d’água, como a propriedade daquelas
de uso comum pela União e pelos estados e municípios e o princípio
da desapropriação, antevia o importante papel destes na emergente
indústria da eletricidade e a necessidade de sua regulamentação como
caminho para a socialização do seu uso e propriedade. Antevia-se a
possibilidade de obras de engenharia civil de elevados custos, com
barragens de grandes volumes de acumulação e a regularização de
descargas, barragens estas, muitas vezes, situadas longe dos grandes
centros de consumo e obrigando à construção de caríssimas linhas de
alta tensão. Nessas condições, e, principalmente, quando “o conjunto
dessas obras fosse para atender a elevados interesses relativamente ao
abastecimento das populações, à defesa contra inundações, à higiene geral, à navegação, à irrigação, deveria o próprio Estado realizar
o empreendimento, ou subvencionar as empresas, de modo que o
consumidor possa obter energia por preço cômodo”.
Fundiam-se já as sementes doutrinárias do Estado Empresário e
do Estado Providência, no âmbito da indústria da eletricidade. Essa
legislação inibiu o desenvolvimento e o investimento de empresas
privadas, em particular das estrangeiras, à época os grupos Light,
concentrado no Rio e em São Paulo, e o Amforp, concentrado em
distribuidoras estaduais, o que foi ficando patente na crescente dificuldade de atendimento ao mercado, especialmente no pós-guerra.
Em 1954, vinte anos após a edição do Código de Águas, iniciou-se
um novo ciclo institucional no setor, agora motivado pelo grande
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
9
surto de desenvolvimento industrial e que iria alterar profundamente
a estrutura produtiva do país. Para tanto, foi promulgada a Lei 2.308,
instituindo o Fundo Federal de Eletrificação, destinado a “prover
e financiar instalações de produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica, assim como a indústria de material elétrico”. Criou-se, também, o Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), a ser
cobrado pela União ao consumidor. Teve início o período de fortalecimento das empresas estatais, federais e estaduais, fomentadas
por capital da União, por intermédio do BNDE e, posteriormente,
a partir de 1962, da Eletrobras, já mencionada na carta-testamento
de Getúlio Vargas, e, em contrapartida, o declínio das empresas de
capital estrangeiro. Adicionalmente, regulamentaram-se os serviços
de energia elétrica, por meio do Decreto 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, mantendo-se junto ao governo federal o poder de conceder
e autorizar a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, bem
como o de fixar as tarifas pelo regime do serviço pelo custo, que inclui
a remuneração dos ativos operacionais. O órgão regulador passou a
ser o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE),
ligado ao Ministério das Minas e Energia (MME), desde sua criação em
1961. Tratou-se de período com grandes concentrações no processo
decisório e no capital das empresas federais, refletindo os preceitos
centralizadores que se consolidariam na Constituição de 1967.
Em 1964, a Eletrobras adquiriu as empresas do Grupo Amforp e,
pouco depois, ao permitir o reajuste dos valores dos ativos, implantou
uma política de realismo tarifário, que favoreceu a capitalização das
empresas e seus desenvolvimentos.
A partir de 1971, a Lei 5.655 definiu como remuneração para os concessionários o valor mínimo de 10% ao ano e máximo de 12%, representativa do custo de capital aplicado na formação dos ativos operacionais,
e a ser obtida via receita tarifária. Eventuais insuficiências ou excessos
10
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
de remuneração, apurados pelo poder concedente junto a cada
concessionário, em sua prestação de contas anual, eram registrados
contabilmente na Conta de Resultados a Compensar (CRC), com
vistas à sua correção no exercício financeiro subsequente, quando
da fixação da nova tarifa.
Em 1974, inicia-se um novo ciclo no setor, por meio do Decreto-Lei
1.383, de 26 de dezembro de 1974, que estabeleceu a equalização
das tarifas de energia elétrica em todo o território nacional. Nessa mesma ocasião, consolida-se a tendência de construir grandes
empreendimentos governamentais na área de geração, tendo como
principal marco a constituição da Itaipu Binacional. A estrutura
setorial se define com a constituição formal de empresas geradoras
regionais, a saber: Chesf, no Nordeste; Eletronorte na Região Norte; Eletrosul, na Sul; e Furnas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Quanto às empresas distribuidoras, estas foram transferidas, em
sua maioria, para os governos estaduais.
Portanto, cerca de quarenta anos após a promulgação do Código de
Águas, o setor elétrico se encontra quase totalmente estatizado. O próximo movimento seria ainda na linha de concentração da sua organização.
A introdução do conceito de preços únicos dos serviços de energia
elétrica ao consumidor final fora concebida como uma estratégia
de governo para diminuir as desigualdades regionais e propiciar a
atração de investimentos para as regiões Norte e Nordeste, de modo
que desconcentrasse industrialmente o país. Entretanto, como cada
concessionária apresentava uma diferente estrutura de custos e de
mercado, a equalização tarifária propiciava, num primeiro momento,
um desequilíbrio financeiro, gerando déficit para aquelas que tinham
seus níveis de custo unitário acima da média nacional e superávit para
aquelas que estivessem abaixo da referida média.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
11
O equacionamento desses desníveis processava-se por meio de mecanismos de transferências intrassetoriais, mediante recolhimento,
pelas superavitárias, das parcelas excedentes à taxa de remuneração
legal de 12% a.a., destinadas a cobrir insuficiências das concessionárias menos rentáveis, até o limite da taxa mínima de remuneração
legal de 10% a.a.
A partir do final da década de 1970, o setor elétrico passou a ser fortemente dependente da política macroeconômica e, assim, passou a
ser utilizado para captar recursos no exterior, para ajuste do balanço
de pagamentos, para o desenvolvimento de programas considerados
estratégicos, mas fora da sequência de menor custo, como nos casos
de Itaipu, Programa Nuclear e Tucuruí, bem como para o controle
da inflação, por meio da contenção tarifária. Assim, deixou-se de
conseguir, a partir de 1978, níveis tarifários capazes de garantir a
remuneração legal de 10% a.a. sobre os ativos em serviço.
Por outro lado, a política de equalização tarifária foi induzindo, gradativamente, a um desestímulo à eficiência operacional.
Nesse contexto, a crise da economia começa a arrastar o setor elétrico, que já se tornara totalmente dependente do Estado. O processo
se inicia pela redução dos recursos para investimentos, os quais,
inacabados, são onerados pelo serviço da dívida. Simultaneamente,
ocorrem retrações da arrecadação tarifária e bloqueio ao acesso aos
mercados de capital externos.
Nos anos 1982 e 1983, a situação das concessionárias começou
a ficar caótica. A inadimplência entre empresas se propagava. As
poucas concessionárias que ainda obtinham remuneração superior
a 12% a.a. já não atendiam à determinação do governo federal de
transferir o excedente, sob a alegação que tal efeito não resultava de
12
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
tarifa adequada, mas do esforço na administração dos seus custos,
em busca da melhor qualidade do serviço.
Em 1988, o governo federal editou o Decreto-Lei 2.432, prevendo a
compensação das Contas de Resultados a Compensar (CRCs), apuradas até 31 de dezembro de 1987, com ativos da União, estabelecendo
a possibilidade de ajuste de pendências passadas, sem comprometer
os fluxos financeiros futuros. De um montante de CRCs de US$ 7,7
bilhões, foi possível resgatar US$ 5,5 bilhões, prevendo-se que o restante seria objeto de entendimentos entre os ministérios da Fazenda
e das Minas e Energia. Um dos fatores mais relevantes para o ordenamento do setor foi a Constituição Federal de 1988, que, em seu
Artigo 21, inciso XII, ratifica a competência da União para explorar,
diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético
dos cursos d’água, em articulação com os Estados em que se situam
os potenciais hidroenergéticos. Adicionalmente, o Artigo 175 estabelece que cabe ao Poder Público, “na forma da lei, diretamente ou
sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação do serviço público”.
Entretanto, no contexto macroeconômico vigente, as tarifas voltaram
a ser usadas como mecanismo de controle da inflação e, em 1990,
as concessionárias já acumulavam enormes créditos devidos à insuficiência de remuneração. Iniciou-se um processo de inadimplência
entre as empresas geradoras e distribuidoras, bem como de geradoras
que se recusavam a pagar a energia oriunda de Itaipu, que tinha sua
tarifa dolarizada e estava fora do controle da retenção tarifária. As
dívidas intrassetoriais atingiam US$ 5 bilhões e os créditos contra a
União (CRCs) US$ 24 bilhões. Adicionalmente, a paralisação do programa de obras, da ordem de 10 mil MW e milhares de quilômetros
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
13
de linhas de transmissão, onerava o custo financeiro das obras em
mais de US$ 1,2 bilhão, ao ano. Iniciou-se também um processo de
dificuldades para a execução de obras de manutenção e conservação,
contribuindo para a elevação dos riscos de atendimento e do nível de
perdas. Em 1991 e 1992, ocorreram 150 perturbações de porte nos
sistemas interligados, completamente fora dos padrões.
A situação tornara-se insustentável e iniciou-se uma grande reformulação do setor, a partir de novembro de 1992, comandada pelo ministro
Eliseu Resende, então presidente da Eletrobras, e que resultou na
elaboração da Lei 8.631, promulgada em 4 de março de 1993, após
a realização de consultas a todos os segmentos representativos do
setor e inúmeras reuniões com governadores de estados, dirigentes de
empresas e secretários estaduais de energia. Após essa fase, o projeto
de lei foi enviado ao Congresso Nacional, visando a sua consolidação
dentro de um processo democrático, tendo sido aprovado na Câmara
e no Senado nos dias 2 e 9 de fevereiro, respectivamente. Suas principais características resumem-se nos seguintes tópicos:
14
•
Fim da equalização tarifária: cada concessionário propõe ao
Dnaee sua tarifa em função do seu custo.
•
Mantido o valor médio da tarifa, o concessionário pode promover
alterações compensatórias entre classes de consumidores finais.
•
Obrigatoriedade de celebração de contratos entre concessionários supridores e supridos, tendo como garantia as receitas
em conta bancária do concessionário suprido.
•
Estabelecimento de fórmula paramétrica para o reajuste automático das tarifas, específica para cada concessionário.
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
•
Extinção da remuneração garantida e da CRC.
•
Realização de encontro de contas entra créditos de CRC e débitos de energia e outros ativos da Eletrobras e da União, que
atingiu cerca de US$ 26 bilhões.
•
Extensão da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis
(CCC) a todo o território Nacional.
•
Estabelecimento de sistemática para recolhimento e utilização
da Reserva Global de Reversão (fundo criado anteriormente
para indenizar empresas por ativos não depreciados ao fim
da concessão), que passa a cobrir projetos de conservação de
energia Procel e a eletrificação rural.
•
Criação de Conselhos de Consumidores, junto às empresas
distribuidoras.
Também, em 1993, o Decreto 915, objetivando o aumento da capacidade instalada no país, permitia a formação de consórcios para a
construção de hidrelétricas, sendo que a energia produzida devia ser
utilizada para consumo próprio e eventual excesso negociado com
a respectiva concessionária. Daí, surgiram obras como Itá e Machadinho, no rio Uruguai.
Em 1995, a Lei 8.987 regulamenta os preceitos de licitação para
concessões, previstos na Constituição de 1988 (lei proposta pelos
senadores Fernando Henrique Cardoso e Nelson Jobim). Essa lei
acabou com o princípio da concessão cativa de novas instalações para
o dono da área de concessão. De alguma forma, começava-se a falar
em competição no setor elétrico. Ainda em 1995, a Lei 9.074 implantava a figura do Produtor Independente de Energia, introduzindo um
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
15
novo agente no arcabouço setorial. Essa lei definiu também questões
referentes às condições para novas concessões e prorrogação de concessões existentes, inclusive prevendo a possibilidade (Artigo 19) de
a União prorrogar concessões de geração vencidas e alcançadas pela
Lei 8.987, pelo prazo de vinte anos, visando garantir a qualidade do
atendimento ao consumidor, e estipulou critérios de definição para
instalações de transmissão.
Esses quatro instrumentos (Lei 8.631, Decreto 915, Lei 8.987 e Lei
9.074) representaram o despertar do setor para uma nova realidade e
prepararam o terreno para uma grande reestruturação que se seguiu,
denominada Projeto Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro
(RESEB), proposta em 1995, a ser implementada com recursos do
Banco Mundial e a ser conduzida por uma consultoria internacional,
no caso a Coopers & Lybrand da Inglaterra, que venceu concorrência
internacional, consorciada com empresas brasileiras, Ulhoa Canto,
Engevix e Main Engenharia. Os documentos licitatórios incluíam
um termo de referência, de modo que os seguintes objetivos da reestruturação fossem alcançados:
16
•
Assegurar a oferta de energia.
•
Estimular o investimento no setor.
•
Reduzir os riscos para os investidores, ao mesmo tempo garantindo a modicidade tarifária.
•
Maximizar a competição.
•
Garantir o livre acesso aos sistemas de transmissão pelos produtores independentes.
•
Incentivar a eficiência.
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
•
Fortalecer o órgão regulador.
•
Assegurar a expansão hidrelétrica.
•
Manter a otimização operacional.
•
Definir novas funções para a Eletrobras.
•
Adequar a qualidade do fornecimento à necessidade do mercado e à modicidade tarifária.
Uma característica brasileira, fruto de sua geografia de planaltos e
planícies, é que seu rios percorrem grandes extensões antes de alcançar
o mar, como os rios Paraná, com 3.942 quilômetros, o São Francisco, com 2.800 quilômetros, o Madeira, com 3.315 quilômetros, e o
Tocantins, com 2.700 quilômetros. Assim, é comum encontrar várias
usinas em sequência no mesmo rio. No Paraná e em seus afluentes,
encontram-se mais de trinta importantes usinas do sistema. Para que
haja uma otimização no uso da água, elas precisam funcionar em um
regime de condomínio, em que cada uma produz a quantidade ideal
para otimizar o conjunto, isto aliado a um sistema de transmissão de
dimensões continentais que consegue transmitir energia de regiões
com sobras para outras com escassez, permitindo uma economia em
termos de potência instalada de cerca de 25%, portanto, funcionando
como um conjunto de reservatórios equivalentes, ou caixas d’águas
interligadas por vasos comunicantes.
Esse resultado é conseguido por meio do denominado Mecanismo
de Realocação de Energia (MRE), que tem por objetivo compartilhar
os riscos hidrológicos associados ao despacho centralizado (NOS) e a
otimização do sistema hidrotérmico. Assim, todas as usinas hidráulicas recebem seus níveis de Energia Assegurada, medida por cálculos
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
17
complexos realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), independentemente de suas reais produções. Trata-se de
característica específica do sistema brasileiro (uma espécie de jabuticaba), e que os consultores ingleses tiveram grande dificuldade para
compreender, já que, em um primeiro momento, julgavam que cada
usina deveria produzir de acordo com o nível de seu reservatório.
O modelo implantado no Brasil no período 1995/1998 tomou como
referência o modelo de reestruturação implantado na Inglaterra, na
década de 1980, e que resultou em uma empresa de transmissão e 12
de distribuição. A geração, entendida como uma atividade competitiva,
seria regulada pelas leis de mercado, mediante um pool que realizava
leilões a cada meia hora de cada dia (48 leilões diários). Entretanto,
apesar de buscar baixar os preços do mercado, estes aumentaram,
devido à insegurança dos geradores em ampliar a produção. A reestruturação do período 1995/1998 deu-se por meio de várias MPs e da
Lei 9.427/96, que cria a Aneel, e da Lei 9.648 que define, basicamente:
18
•
A competição nos segmentos de geração e comercialização.
•
A desverticalização das empresas em G, T e D, para evitar o
self dealing.
•
Garantia de livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição.
•
Liberdade de escolha do gerador para consumidores livres
(aqueles com carga superior a 10 MW e conectados à rede em
tensão superior a 69 Kv).
•
Criação do Mercado Atacadista de Energia (MAE) para o registro
de todas as compras e vendas de energia no sistema interligado,
por meio de contratos, após a adesão de um acordo de mercado.
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
•
Criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com
objetivo de definir quanto cada usina irá gerar e os trechos do
sistema de transmissão que serão usados e em qual direção, bem
como propor ampliações da rede de transmissão e distribuição.
•
Reforma da Eletrobras, com a retirada gradual do Estado no
negócio de energia, extingue o Grupo Coordenador para Operação Interligada (GCOI) e o Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), sob sua coordenação,
o primeiro substituído pelo ONS, e o segundo, com a extinção
do planejamento determinativo de obras, passando este a ser
apenas indicativo, ficando a expansão da oferta a cargo das
distribuidoras, que teriam interesse em contratar energia de
longo prazo por meio de PPA (Power Purchase Agreement), para
suprir a demanda de seus consumidores.
•
Autorização para a Eletrobras deter participações nas empresas
de geração e transmissão que seriam criadas a partir das cisões
de Furnas (duas ou três geradoras e uma transmissora; Chesf,
duas geradoras e uma transmissora; Eletrosul, uma geradora e
uma transmissora, única realizada; e Eletronorte, duas geradoras
e uma transmissora), entre outras.
Entretanto, o modelo partiu de uma premissa que não se concretizou,
pois previa-se que seria possível atrair capitais tanto para adquirir ativos já existentes, provenientes do programa de privatizações, quanto
para construir novas usinas, por meio de processo de licitação onerosa, que trouxe aumento das tarifas. O mercado, na prática, preferiu
investir em ativos existentes a arriscar-se em novos empreendimentos,
em um quadro institucional incompleto e mutante.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
19
Tratava-se de uma receita neoliberal que introduziu, no âmbito das
reformas, um intenso programa de desestatização, que contemplou
as seguintes empresas do setor elétrico:
•
Ecelsa; Light; CERJ; Coelba; CELG; Cemat; CPFL; Energipe; Celpe; Coelce; Cosern; Cemig parcialmente; Eletropaulo;
Elektro; Celpa; CCPE; Cemar; e Gerasul.
Entretanto, o remédio aplicado ao setor matou o paciente, pois levou
a um programa de racionamento de proporções extraordinárias, de
20%, superior ao ocorrido na Inglaterra, durante a Segunda Guerra.
O relatório mensal do ONS de abril de 2000 previa o racionamento
como uma medida muito provável (14%). No segundo semestre daquele
ano, o risco crescera e as térmicas deveriam ter sido despachadas, mas,
com chuvas fortes no início de dezembro, nada foi feito, e as chuvas do
início do ano não ocorreram, agravando-se a situação do suprimento,
até que, em 15 de maio de 2001, o governo federal promulgou a MP
2.147, criando Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, e em
22 de maio de 2001, fazendo uso do Artigo 62 da Constituição (uso
de MPs em casos de relevância e urgência), impôs um programa de
racionamento ao consumo de eletricidade com as seguintes principais
características:
•
20
Os consumidores residenciais com consumo superior a 100
kWh/mês deveriam passar a consumir o equivalente a 80%
da média dos consumos dos meses de maio, junho e julho
de 2000. Para consumos entre 200 e 500 MWh, acréscimo de
50% na tarifa, e para consumo superior a 500 MWh, acréscimo de 200%. Quem não cumprisse a meta estaria sujeito a
corte no suprimento.
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
•
Para os consumidores comerciais e industriais, a mesma redução
de 80% e o excedente cobrado ao preço do Mercado Atacadista
de Energia (MAE).
O racionamento terminou em 28 de fevereiro de 2002, mas trouxe
um reajuste tarifário excepcional e a cobrança do “Seguro Apagão”;
e, a despeito de seu fim, o consumo de eletricidade não voltou aos
patamares anteriores à sua decretação, mantendo uma redução residual de 5%. Esse fato, aliado à realização de uma desvalorização
cambial, foi mortal para algumas concessionárias recém-privatizadas
e lastreadas com empréstimos em dólar. A queda de receita e o crescimento dos custos financeiros foram responsáveis pelo retorno de
alguns investidores estrangeiros para seus países.
Na ocasião do racionamento, foi elaborado, a pedido do governo
federal, um relatório sobre as suas causas, denominado Relatório
Kelman, ficando constatado que sua principal causa teria sido a falta
de investimentos na expansão da geração. As outras duas, que foram
consideradas de menor importância, seriam a baixa hidraulicidade e o
não despacho de térmicas, em 2000, conforme orientação do ONS.
Os investimentos setoriais, entre 1997 e 2001, caíram mais de R$ 3
bilhões, para um aumento do consumo, no mesmo período, de
276 GWh para 322 GWh, ou sejam, 17%, dramático para um setor
capital intensivo.
O racionamento de energia elétrica no período de dez meses
deixou marcas profundas na sociedade brasileira, ajudou-a a se
conscientizar sobre o uso perdulário de energia, muito mais do que
qualquer programa de conservação e, provavelmente, teve impacto
nas eleições de 2002.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
21
O desgaste do modelo no final da década de 1990 e a presença de
um novo governo federal, a partir de 2003, ensejaram o que se denominou a Reforma da Reforma, e o governo Lula editou a MP 144,
transformada na Lei 10.848/2004 que, com 31 artigos, alterou oito
leis, pilares do modelo anterior e interveio em três peças básicas: o
MAE, o ONS e a Aneel e estabeleceu, entre outros itens:
22
•
A criação de dois ambientes de contratação: o Ambiente de
Contratação Regulada (ACR), para o atendimento dos consumidores cativos; e o Ambiente de Contratação Livre (ACL),
para o atendimento dos consumidores livres.
•
A criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
(CMSE), para acompanhar e avaliar permanentemente a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional.
•
A criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE), em substituição ao MAE (sociedade privada sem fins
lucrativos), fiscalizada pela Aneel, para exercer as funções de
contabilização dos mercados regulado e livre. O presidente de
seu Conselho de Administração é indicado pelo MME, enquanto
no caso do MAE, era gerido pelas concessionárias de G, T e D.
•
O mercado cativo passou a ter 100% de sua demanda contratada, pois, no modelo anterior, eram apenas 85%.
•
Adotado o conceito de pool de distribuidoras que passa a contratar
suas necessidades de energia por meio de licitação pública, por
meio de contratos de longo prazo para início de suprimento
em 5, 3, 1 ou para o próprio ano (leilões A-5, A-3, A-1 e A-0).
•
Adoção de licitações pela menor tarifa para os novos empreendimentos de geração, em lugar das licitações pelo uso
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
do bem público, nas quais os vencedores eram aqueles que
pagavam o maior valor pela energia. Essa medida teve como
consequência o crescimento da oferta de energia, com redução
das tarifas, e incluiu um enorme número de empreendimentos
eólicos (hoje, responsáveis por quase 4% da geração elétrica
do país), complexos sistemas de transmissão, inclusive dois em
corrente contínua (dois dos aproveitamentos do rio Madeira
em aproximadamente 600 Kv, e o de Belo Monte, em 800
Kv), grande aproveitamento hidrelétrico, como as usinas de
Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, as usinas do rio Teles
Pires (Sinop, Teles Pires e São Manoel), e Belo Monte, no rio
Xingu, sendo o principal pilar da consecução desses projetos
os financiamentos em condições especiais do BNDES.
•
Retomada do planejamento de obras de G e T, com a criação da
Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), vinculada ao MME,
com os empreendimentos sendo licitados por leilões realizados
pela Aneel, sendo o vencedor quem apresentar a menor tarifa.
•
Definição de novas atribuições para a Aneel, destacando-se a
fixação de tarifas para contratos de G, T e D, gestão dos contratos de concessão ou permissão, implementação de políticas
para a exploração do potencial hidráulico e promoção de procedimentos licitatórios, por delegação do Poder Concedente.
•
Implantação do “Programa Luz para Todos”, sucedâneo do
“Programa Luz no Campo”, do governo anterior, que atingiu
a meta de atendimento a 99% dos domicílios e foi considerado
referência internacional, conforme secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon, que elogiou as conquistas já alcançadas da iniciativa brasileira “Luz para Todos”, “programa que, em dez
anos, atingiu 15 milhões de pessoas, fazendo com que quase
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
23
toda a população brasileira agora tenha acesso à eletricidade”.
Até maio de 2015, os investimentos no “Luz para Todos”
chegavam a R$ 22,7 bilhões.
Decorridos dez anos da implantação do novo modelo, seus resultados
podiam ser considerados muito bons, em termos da segurança do
abastecimento, da modicidade tarifária e do estabelecimento do novo
mercado; porém, com restrições relativas a atrasos de obras de geração
e de transmissão, devido, principalmente, a restrições no processo de
licenciamento ambiental e nas estimativas de custo dos projetos, pela
Aneel, em alguns caso, descolados da realidade. No caso dos atrasos das
obras de transmissão, eles tinham implicações em empreendimentos
de geração, que não conseguiam escoar sua energia, depois de concluídos, mas tinham sua remuneração assegurada por lei, onerando o
consumidor, sobretudo os projetos eólicos localizados no Nordeste.
Nessa ocasião, o governo federal, após adiar durante anos, a decisão
sobre as concessões vincendas, prevista na Constituição de 1988 e na
Lei 8.987/95, decidiu, de forma unilateral, impor às empresas afetadas
transmissoras e, principalmente, geradoras, sua definição quanto ao
processo de renovação de concessões.
Assim, em 11 de setembro de 2012 (segundo a lenda, não caíram apenas as duas torres de Nova York, mas todas as torres de transmissão
do Brasil), foi promulgada a MP 579, contemplando uma série de
inovações para o setor elétrico relativas a regras para a renovação das
concessões vincendas, no período 2015 a 2017, tendo como principal
objetivo a redução das tarifas ao consumidor final de, em média, 20%.
Essa redução seria proveniente de cortes em encargos setoriais e das
condições propostas para as renovações das concessões.
24
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
Sua justificativa baseava-se em reivindicação de consumidores, principalmente os industriais, que alegavam os altos custos das tarifas
brasileiras, prejudicando a competitividade do país no mercado
internacional. De acordo com dados da Firjan de 2012, a tarifa industrial brasileira (329 R$/MWh) era a quarta mais cara entre países
industrializados, ficando atrás apenas da República Tcheca (376 R$/
MWh), Turquia (419 R$/MWh) e Itália (458 R$/MWh), e uma média
internacional de 215 R$/MWh, menos da metade. A MP eliminou,
além de encargos e tributos, a cobrança de uma parcela da tarifa contemplando a amortização de ativos, em sua maioria, já amortizados
e, portanto, indevida, pois os consumidores estavam pagando duas
vezes pelo mesmo produto.
A MP 579, convertida na Lei 12.783, em janeiro de 2013, foi vista
pelo mercado como uma grande intervenção do Estado, com a
substituição da concorrência nos segmentos de geração e comercialização, propiciada pelos leilões, por um modelo de prestação de
serviços, uma vez que as concessionárias que optassem por renovar
as concessões passariam a ser remuneradas apenas pelas atividades de
operação e manutenção (O&M) e pelos novos ativos agregados, após
autorização da Aneel. As tarifas artificialmente baixas foram complementadas com indenizações de investimentos não amortizados,
em valores desprovidos de qualquer semelhança com seus valores
reais, nem os investimentos realizados em melhorias e, no caso dos
empreendimentos em transmissão, os investimentos realizados antes
de 2000, mesmo que não amortizados.
O principal resultado das medidas foi a forte redução do fluxo de
caixa das empresas, a partir de janeiro de 2013, sem que isso tivesse
sido planejado por elas. A redução média das tarifas de G e T foi da
ordem de 73%. O mercado livre foi fortemente prejudicado, pois o
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
25
processo de renovação das concessões de geração só alocou a energia
mais barata ao mercado cativo, impactando o setor industrial, maior
consumidor do mercado livre.
O impacto da redução das receitas das empresas que aderiram à proposta de renovação antecipada das concessões se fez sentir, de forma
expressiva, no balanço da Eletrobras. Seu resultado relativo ao ano
fiscal de 2012 registra um prejuízo de R$ 6,8 bilhões, sendo o do quarto
trimestre de R$ 10,5 milhões, comparativamente a um lucro de R$ 3,7
milhões, em 2011. O Ebitda (lucro antes do pagamento de juros,
impostos, depreciação e amortização) passou de R$ 6 bilhões positivos em, em 2011, para perdas de R$ 6,2 bilhões em 2012. A perda
contábil de 2012 foi de R$ 10 bilhões, o maior prejuízo registrado
em toda a história da empresa. O valor de mercado, em dezembro de
2011, era de R$ 22,2 bilhões e, em dezembro de 2012, R$ 8,6 bilhões.
A nova legislação trouxe também efeitos não desprezíveis no BNDES,
que detém 21,74% do capital da Eletrobras, além de enorme carteira
de empréstimos a esta holding e suas controladas, da ordem de R$ 30
bilhões. Esse conjunto de resultados continuou a se propagar nos
três anos seguintes e, atualmente, as empresas do sistema não mais
dispõem de condições para oferecer garantias a novos financiamentos, impedindo-as de participar de novos empreendimentos para a
expansão do sistema.
Entretanto, o corte real das tarifas junto ao consumidor final foi menor que o anunciado, pois o governo previa que todas as empresas
envolvidas iriam aderir às condições impostas para a renovação antecipada das concessões vincendas. O baixo nível das tarifas ofertadas
fez com que empresas como Cemig (São Simão, 1.700 MW; Jaguara,
424 MW; Miranda, 408 MW; Três Marias e dezenas de PCHs, CESP
26
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
Três Irmãos 807 MW, Jupiá, Ilha Solteira e outras de menor porte)
Copel, Celesc e outras menores, não renovassem suas concessões
antecipadamente e deverão ser licitadas, na modalidade de leilão
previsto para o final de novembro de 2015, após dois adiamentos,
até a presente data.
Um fato importante que ocorreu em paralelo com o processo de
renovação das concessões foi a forte redução de chuvas, com uma
grande redução do nível dos reservatórios. Para garantir a segurança
do abastecimento, as usinas térmicas de elevados custos de produção
passaram a ser despachadas (822 R$/MWh), iniciando uma trajetória
de aumentos tarifários que culminariam com a anulação dos descontos
e a implantação de um tarifaço.
O acionamento das termelétricas em caráter emergencial, fora da
ordem de mérito e sem decretação de racionamento, resultou na
absorção do risco hidrológico pelas distribuidoras, que passaram a
arcar com os custos elevados, só podendo repassar aos consumidores no futuro, quando dos reajustes tarifários anuais, por meio
dos denominados Encargos de Serviços do Sistema, praticados em
diferentes épocas para cada distribuidor, ao longo do próximo ano.
Essa também foi uma inovação da Lei 12.783/2013.
E, a partir de então, foi iniciada uma sequência satírica, bastante
conhecida na área de gestão empresarial, tanto governamental como
privada, chamada de seis fases de empreendimentos audaciosos:
•
Entusiasmo;
•
Desilusão;
•
Pânico;
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
27
•
Busca dos culpados;
•
Punição dos inocentes; e
•
Recompensa aos que não se envolveram.
Assim, a fase de “entusiasmo” foi de 2004 a 2012, quando os
leilões ganharam credibilidade e o custo da energia foi sendo
gradualmente reduzido.
O marco zero da fase seguinte, “desilusão”, foi a implantação
confusa e controversa da MP 579, ao final de 2012.
Em 2013, o governo, em vez de parar de aumentar o buraco,
implantando programa de redução de consumo (sem falar
em racionamento), em estado de “pânico”, piorou a situação,
com mudanças regulatórias bruscas e contraproducentes, tais
como a resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – 03, transferindo parte dos custos imputados
aos distribuidores para os geradores, o que empurrou o setor
para a judicialização. Em 2014, constatou-se que as medidas
operativas extremas, como o acionamento permanente de
todas as térmicas e o não atendimento das metas de uso da
água para a irrigação, transporte hidroviário, entre outros, não
conseguiam evitar o acentuado esvaziamento dos reservatórios.
Mas estávamos em ano de complicadas eleições.
Na fase de “busca dos culpados”, iniciada em 2015, declarações
do governo sobre a pior seca do século deixaram claro que São
Pedro tinha sido escolhido como réu, ignorando o fato de que
números sobre as vazões históricas inocentavam o santo.
28
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
Na fase da “punição dos inocentes”, as vítimas escolhidas fomos nós consumidores, que estamos pagando o pato tarifário.
Não que os consumidores não devam pagar, já que não existe
almoço de graça, pois em última palavra as decisões foram
tomadas em nosso nome.
A evolução das tarifas residenciais, de uma média de trinta empresas
distribuidoras, sem incluir ICMS e PIS/Cofins, pode ser acompanhada
e mostra o que se passou entre 2012 e 2015:
•
Em dezembro de 2012, esse valor era de 338 R$/MWh.
•
Em março de 2013, ocorreu a redução prometida pelo
governo na MP 579, de 20% em média, sendo para os consumidores residenciais de 18%, chegando a 276 R$/MWh,
como previsto. No entanto, essa redução foi obtida graças
a dois grandes aportes governamentais: 1) empréstimos de
R$ 10 bilhões, sem juros, às distribuidoras, que serão pagos
em quatro anos, a partir de 2015, por meio de aumentos de
tarifas; e 2) subsídio, a fundo perdido, de R$ 9 bilhões à Conta
de Desenvolvimento Energético.
•
Embora a intenção do governo fosse manter as tarifas estáveis,
em 2014, isto não foi possível por dois motivos: 1) restrições
nos recursos governamentais por questões fiscais e pressões
inflacionárias; e 2) a necessidade de empréstimos e subsídios
foi maior, da ordem de R$ 40 bilhões. A solução foi fazer
subsídio parcial de R$ 25 bilhões e transferir R$ 15 bilhões
para as tarifas. No final de 2014, as tarifas voltaram ao nível
de dezembro de 2012, 335 R$/MWh, e os benefícios da MP
579 foram anulados.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
29
•
Em 2015, tivemos dois aumentos tarifários: o primeiro em
janeiro, de 15%, e o segundo, em março, de 23%, os quais
aplicados sequencialmente resultaram em um aumento para os
consumidores residenciais de 41,5%, trazendo vultosos efeitos
sobre a taxa de inflação, em um momento que já exibia sintomas
de recessão. Tais aumentos visaram cobrir custos incorridos
no ano anterior e represados.
Mas os aumentos tarifários de janeiro e março provavelmente não
foram suficientes para cobrir todos os déficits represados e oriundos
da MP 579, como por exemplo:
30
•
A insuficiência de recursos recolhidos da bandeira tarifária,
no período de março a dezembro de 2015, que devem atingir
R$ 6,1 bilhões.
•
Pagamento de indenizações referentes ao final das concessões
de geradoras que aderiram à MP 579 e que não foram previstos
originalmente, de cerca R$ 4,5 bilhões, bem como aqueles das
indenizações das concessões que expiraram em julho de 2015
(Cemig, CESP, Copel, como principais) e que não aderiram
à MP 579, bem como valores não reconhecidos de Chesf e
Furnas, da ordem de R$ 10 bilhões.
•
Ativos de transmissão existentes em 2000 de concessões que
foram prorrogadas, mas cujos ativos não amortizados não
foram cobertos, da ordem de R$ 27 bilhões.
•
Parcelamento da dívida da Eletrobras com a Petrobras, relativa
ao uso de combustíveis fósseis dos chamados sistemas isolados
na Amazônia, pago através da denominada Conta de Consumo
de Combustíveis (CCC), gerenciada pela Eletrobras. Porém, há
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
alguns anos, a Aneel vem autorizando pagamentos de apenas
parte dos valores, pois argumenta que estes estariam demasiadamente altos. A pendência chegou a R$ 8,1 bilhões, e, de acordo
com entendimentos entre MME e MF, deverá ser paga em
dez anos, pelo consumidor, sem estar prevista originalmente.
Entretanto, de acordo com o balanço da Petrobras relativo ao
exercício de 2014, esse valor seria de R$ 12,8 bilhões.
•
Auxílio às empresas geradoras hidrelétricas devido à menor
geração que a prevista, conforme a resolução CNPE 03, de
cerca de R$ 20 bilhões, em 2014, e de R$ 10,5 bilhões previstos para 2015. Este último valor, na verdade deveria ser mais
do que o dobro, mas, por meio de mudança intempestivas
da regra do jogo, o PLD de 822 R$/MWh foi reduzido para
388 R$/MWh.
•
Medidas do governo para reforçar a oferta de energia, contratando de entidades que tenham capacidade de colocar no
sistema energia proveniente de geradores diesel de propriedade
de shoppings, indústrias, etc., a custos astronômicos, mantendo
as térmicas a óleo de base, em Manaus, a um custo de R$ 1,1
bilhão e importação da Argentina e do Uruguai, a um custo
de R$ 1,4 bilhão, por ano.
Somando os custos adicionais, temos uma fatura vencida e não paga
de R$ 63,8 bilhões que, caso fossem agregados imediatamente às
tarifas de 2015, significariam um acréscimo de 33%.
E, para concluir, gostaria de me arriscar a prever quem será o representante da sexta fase dos empreendimentos audaciosos, a saber, a
“recompensa aos que não se envolveram”, que, provavelmente, recairá
sobre grandes empresas estrangeiras (chinesas, francesas, italianas,
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
31
espanholas, canadenses, entre outras), as quais, provavelmente, se
sagrarão vencedoras do próximo leilão de concessões de geração
de concessões vincendas de usinas de Cemig, CESP, Copel, Celesc
e outras que não aderiram à MP 579, a realizar-se em dezembro
próximo, uma vez que as empresas brasileiras estão com as finanças
comprometidas, e as recentes desvalorizações cambiais transformaram nossos ativos em pechincha para investidores estrangeiros.
Bibliografia
D’ARAUJO, Roberto Pereira. Setor elétrico brasileiro: uma aventura
mercantil. Rio de Janeiro: Pensar Brasil, 2009.
ENERGY REPORT – PSR, mar. 2015. Disponível em: <http://www.
psr-inc.com/publicacoes/energy-report/edicoes/?current=p7220>.
Acesso em: 7 jan. 2016.
LEITE, Antônio Dias. A Energia do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lexikon Editora, 2014.
PAIXÃO, Lindolfo Ernesto. Memórias do Projeto RE-SEB: A história
de concepção da nova ordem institucional do setor elétrico brasileiro.
São Paulo: Massao Ohno Editora, 2000.
RESENDE, Eliseu; ALQUÉRES, José L. Panorama do setor de
energia elétrica e sua nova legislação. Revista Brasileira de Energia, v. 3,
n. 1, Rio de Janeiro, 1993.
SELVETTI, Alfredo Roque. A história da luz. 2. ed. São Paulo: Livraria
da Física, 2008.
32
C a r t a M en sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
SOUZA, Alan Pereira de. Análise de risco e retorno para empreendimentos de
geração pós marco regulatório de 2004. Rio de Janeiro: Instituto Coppead
de Administração, 2011.
VOLPE FILHO, Clóvis A.; ALVARENGA, Maria Amália F. P. Setor
elétrico: estrutura legal, fundamentos legislativos, direitos e deveres do
usuário, questões jurídicas decorrentes do fornecimento e do uso,
taxas e impostos e fontes alternativas. Curitiba: Juruá, 2004.
Palestra pronunciada em 10 de novembro de 2015
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 4-33, dez. 2015
33
Zonas de comércio, zonas
monetárias e o caso da Grécia:
lições da teoria econômica
Rubem de Freitas Novaes
Economista, formado pela UFRJ,
com doutorado pela Universidade de Chicago.
I – Introdução
A
economia é chamada por alguns de dismal science (“ciência
lúgubre”), por lidar com a escassez, ou seja, com a confrontação de desejos ilimitados, de um lado, e recursos finitos, de outro.
A insatisfação, a frustração de desejos, é a regra. Outros a chamam
de “rainha das ciências sociais”, pelo privilégio de se assentar em
“leis”, construídas logicamente, e que formam um corpo interligado
e compreensivo, sujeito à formatação matemática e ao teste empírico.
Hoje, a economia ganha o status de uma Teoria Geral da Decisão,
aplicável aos mais diversos campos do conhecimento, mesmo
àqueles distantes do universo meramente econômico. O escopo
estudado ampliou-se de tal forma, que Gary Becker, de Chicago,
até ousou pretender criar uma Teoria Social Unificada, calcada nos
fundamentos da Teoria Econômica.
34
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
Até inícios do século passado, os economistas confundiam-se com
filósofos. Falava-se de economia política e não de ciência econômica,
e os expoentes da profissão tinham formação multidisciplinar. A partir
principalmente da formulação walrasiana para o equilíbrio geral, da
revolução marginalista, do uso ampliado da modelagem econômica e
do desenvolvimento dos métodos estatísticos, diversos profissionais
das ciências exatas passaram a se interessar pela economia e a ocupar
espaços na academia. Nesta, cresciam de importância as cadeiras de
Economia Matemática e Econometria.
A esse respeito, é de Robert Solow, economista de formação matemática, o seguinte comentário:
“A economia não é mais uma conversa agradável entre damas e cavalheiros. Ela se tornou um assunto técnico. Assim
como qualquer assunto técnico, ela atrai algumas pessoas
que estão mais interessadas na técnica do que propriamente
no assunto. Isso é muito mau, mas pode ser inevitável. Em
qualquer caso, não se engane: o núcleo técnico da economia
é uma ferramenta indispensável para a economia política.”
Vamos, então, na esteira de Solow, para a técnica, procurando definir
princípios balizadores para a nossa análise das zonas de comércio e
monetárias, sem, contudo, perder de vista a economia política.
II – Vantagens comparativas e seus desdobramentos
Nós economistas somos regidos pela lei maior da escassez, segundo a
qual “não há almoço grátis”, já que, para cada decisão, existe sempre
um custo de oportunidade. Do lado do consumo, trabalhamos com
a hipótese comportamental da maximização subjetiva de utilidade.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
35
Para a produção, a hipótese comportamental é a da maximização
dos lucros ou, em formulação mais moderna, a da maximização do
valor de mercado da firma. Aceitamos o Princípio das Vantagens
Comparativas e a Lei da Demanda Negativamente Inclinada. Por
fim, estamos todos sujeitos à Lei dos Retornos Marginais Decrescentes, que se desdobra em duas leis: a da Utilidade Marginal Decrescente, na Teoria do Consumo, e a da Produtividade Marginal
Decrescente, na Teoria da Produção.
Para efeito de nossa palestra, convém elaborar mais sobre o conceito
de vantagens comparativas. Foi David Ricardo quem primeiro percebeu
que não eram as vantagens absolutas as determinantes do comércio,
como imaginava Adam Smith. Usando um modelo de um só fator de
produção – mão de obra – Ricardo demonstrou que é a relação entre
os bens potencialmente produzidos em cada país, e não a eficiência
absoluta na produção de cada bem, que determina o comércio. Assim,
todos os países se beneficiariam do comércio, mesmo que alguns fossem menos eficientes absolutamente, desde que se especializassem na
produção para exportação dos bens para os quais apresentam vantagens
relativas. Tomados em conjunto, os países, por meio do comércio, alcançariam uma superior fronteira de possibilidades de produção. E os
ganhos decorrentes do comércio seriam tanto maiores quanto maior
fosse a divergência de aptidões entre países.
A Teoria de Ricardo, para um só fator de produção, foi ampliada
pelos suecos Eli Heckscher e Bertil Ohlin para admitir diferentes
fatores de produção. Com isso, a teoria das vantagens comparativas
passou a postular que os países tenderiam a produzir e exportar
os bens intensivos em seus fatores mais abundantes e a importar
aqueles bens intensivos em seus fatores mais escassos.
36
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
Como decorrência do Teorema de Heckscher e Ohlin, conclui-se que
o comércio internacional livre tende a equalizar os preços de fatores
entre países, servindo de substituto ao livre movimento de fatores.
Ainda na mesma esteira, surgiu o Teorema de Stolper-Samuelson, segundo o qual um aumento no preço relativo de um bem faz aumentar
a remuneração real do fator usado intensivamente na produção desse
bem e reduz a remuneração real do outro fator.
De toda essa teorização sobre as vantagens comparativas e os
efeitos do comércio, o que se extrai de mais substantivo é que o
comércio livre, em princípio, beneficiaria a todos. Economistas
caracterizam uma situação de “ótimo de Pareto”, em homenagem
ao seu formulador, o italiano Vilfredo Pareto, quando não é mais
possível melhorar a situação de um agente econômico sem que seja
prejudicada a situação de outro agente. Numa conceituação mais
flexível do “ótimo”, admite-se que nem todos os agentes ganhem
com as trocas, mas que os benefícios excedam as perdas, de modo
que um hipotético esquema de compensações de ganhadores para
perdedores possa satisfazer a todos. Visto dessa forma, o comércio
livre entre as nações conduziria a um ótimo de Pareto, e negociações
multilaterais, como as da OMC, deveriam ser favorecidas.
No mundo real, entretanto, o comércio pode gerar perdedores, e nem
sempre as compensações “paretianas” ocorrem. A imigração de mão
de obra barata, por exemplo, ou a importação de bens intensivos em
mão de obra pouco qualificada, será benéfica para um país, como
um todo, em princípio, mas baixará a remuneração dos trabalhadores
que tenham qualificação semelhante à dos imigrantes. Os sindicatos
dos setores prejudicados certamente lutarão por medidas restritivas
à imigração ou ao livre comércio.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
37
Casos existem também em que, detendo poder monopolístico ou
monopsônico, países isoladamente, ou reunidos em cartel, possam se
beneficiar de restrições ao comércio, restrições estas que, avaliadas no
âmbito global, têm efeitos perversos. Lembremos aqui a queima de
estoques para exportação de café no Brasil da década de 1930 (que
poderia ter sido substituída por um imposto sobre as vendas para o
exterior). Como nos deparávamos com demanda mundial inelástica
pelo café brasileiro, a redução dos estoques significava aumento da
receita de exportações. Vendíamos menos e recebíamos mais. Ganhávamos, mas perdia o mundo. Afinal, até intuitivamente, dá para
perceber que a destruição de um bem, com valor positivo, só pode
prejudicar o conjunto de nações.
Outro exemplo de divergência entre o interesse nacional imediato
e o interesse global ocorre na imposição de tarifas quando um país
tem forte influência sobre o preço de venda dos parceiros comerciais.
Ou seja, o país teria poder monopsônico. Neste caso, a arrecadação
de recursos via tarifa de importação mais os ganhos de produtores
locais podem ser mais que suficientes para compensar a perda para
os consumidores locais decorrente da restrição da oferta externa.
Governantes, neste caso, seriam tentados a agir onerando o comércio
e engordando seus cofres.
Outra ressalva que se deve fazer ao conceito de vantagens comparativas
diz respeito ao argumento da “indústria nascente”. Muitos economistas,
e Raul Prebish e Celso Furtado estão entre eles, defendem medidas
restritivas ao comércio e favoráveis à substituição de importações, sob
o argumento de que, na dinâmica do crescimento, a teoria estática das
vantagens comparativas nem sempre se aplicaria. No caso, haveria vantagens evidentes para quem se estabeleceu primeiro para produzir nos
países maduros e, desde que proteção fosse dada à indústria nascente
38
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
de um país em desenvolvimento, este estaria, passados alguns anos,
apto a concorrer com seus parceiros mais desenvolvidos. Mudanças
históricas na relação de preços entre matérias-primas e produtos industrializados também poderiam justificar algum grau de proteção à
indústria nascente em países em desenvolvimento.
Notem aqui que qualquer tipo de subsídio ou proteção a um determinado setor só se justifica se no futuro a produção local vier a ser
mais competitiva que a dos concorrentes externos. Afinal, custos
iniciais da proteção precisarão ser compensados por benefícios líquidos futuros. Outro ponto a ser considerado é que, numa análise
de equilíbrio geral, não há como proteger um setor sem desproteger
outro. Tarifas impostas sobre importações, por exemplo, mudam
a taxa de câmbio de equilíbrio, prejudicando exportações. Não há
almoço grátis, como já vimos anteriormente.
A experiência tem mostrado que o argumento da indústria nascente
tem mascarado outros interesses e que tarifas ou subsídios protetores de setores industriais, criados para serem temporários, acabam
se eternizando. Milton Friedman tinha razão quando afirmava que
“nada mais permanente que um programa temporário de governo”.
III – Zonas de comércio e integração econômica
Podemos tratar aqui indistintamente de uniões aduaneiras ou de zonas
de livre comércio. Nas zonas de livre comércio, os países participantes
rebaixam gravames comerciais dentro da zona, mas cada país mantém
política própria tarifária para fora da zona. Nas uniões aduaneiras, os
gravames extrazona são comuns a todos os participantes, dando ao
grupo um grau de coesão mais forte.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
39
De início, argumentava-se que qualquer zona de livre comércio, ao
baixar gravames entre países e favorecer o comércio, teria efeitos positivos sobre o bem-estar das nações. Foi Jacob Viner quem chamou
atenção para o fato de que o funcionamento dessas zonas de comércio, na verdade, tem como efeito a expansão do comércio intrazona,
de um lado, mas, de outro, causa redução do comércio extrazona.
Para sabermos se o resultado final é positivo, vamos ter de sopesar
os impactos positivos da trade creation contra os impactos negativos
da trade diversion, procedendo a um cálculo complexo, dependente de
várias elasticidades de oferta e demanda.
Com efeito, num modelo estático de equilíbrio parcial para um só
produto, e considerados o país local, seu parceiro e o mundo, pode-se demonstrar que os ganhos da trade creation serão tanto maiores
quanto maiores forem as elasticidades de demanda e oferta no país
local, mais amplas as diferenças de custo entre o país local e seu
parceiro, e mais reduzidas essas diferenças entre o país parceiro e
o mundo. Por outro lado, as perdas com a trade diversion serão tanto
maiores quanto menores forem as elasticidades de demanda e oferta
no país local, mais reduzidas forem as diferenças de custo entre o
país local e seu parceiro, e mais amplas essas diferenças entre o país
parceiro e o mundo.
Parece admitido pela teoria que, desde que não existam problemas
políticos sérios entre países, será ruim para qualquer país ficar excluído de uma zona regional de comércio. Acontece que, no mundo
real, a industrialização parece ter um valor subjetivo intrínseco. Há
um elemento de orgulho nacional no made in my country que deve ser
considerado. Esse fato pode dilatar os benefícios da trade creation, na
medida em que os países mais desenvolvidos da zona fiquem capazes
de ampliar a produção industrial pela substituição de importações e
40
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
pelo ganho de escala, mas pode também gerar resistências na adesão à zona por parte de países retardatários que veem, na rebaixa de
gravames dentro da zona, obstáculo ainda maior ao seu anseio de
desenvolver alguns setores industriais. Do ponto de vista do desenvolvimento industrial, desigualdades, dentro da região, estariam sendo
ampliadas, e não minoradas.
É interessante notar que economistas criaram uma nomenclatura
própria para descrever diferentes graus de integração entre países. Em
escala ascendente, começamos com as zonas de livre comércio e as
uniões alfandegárias e, em passos seguintes, passamos para o mercado comum, para a união econômica e, finalmente, para a integração
econômica completa. O mercado comum pressupõe, além da união
alfandegária, a remoção de todas as restrições ao livre trânsito dos
fatores de produção: capital e trabalho. A união econômica vai um
passo além e promove a harmonização da política econômica entre
países participantes. Por fim, a integração econômica completa requer
até mesmo que se compartilhem instrumentos anticíclicos nas áreas
de política monetária e fiscal.
Dito isso, passemos a tratar das taxas de câmbio fixas e flexíveis, assunto essencial para quem vai discutir a questão das zonas monetárias.
IV – Taxas fixas e flexíveis de câmbio e
o ajustamento macroeconômico
Taxas fixas e flexíveis certamente não esgotam o rol de alternativas
para os regimes cambiais, já que existe uma variedade de formas híbridas no mundo real. Mas, para efeito didático e para a compreensão da
maioria dos problemas, a análise dessas formas extremas é suficiente.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
41
Num regime de taxas fixas, o Banco Central entra no mercado
comprando ou vendendo reservas externas de modo que garanta a
manutenção da taxa de câmbio. Num regime de taxas flexíveis, é o
mercado que determina a cotação das moedas. Por definição, o balanço de pagamentos, neste último caso, estaria sempre em equilíbrio.
De início, convém destacar diferentes recomendações para a política
compensatória de curto prazo, conforme estejamos sujeitos a um
regime de câmbio fixo ou flexível. Nossa teoria demonstra que, num
mundo de alta mobilidade de capitais e taxas de câmbio flexíveis, a
política monetária compensatória tem fortes poderes, diferentemente
do que ocorre num mundo de taxas fixas, quando perde ela efetividade
por não conseguir influenciar as taxas de juros e alterar o estoque de
moeda. Para a política fiscal, ocorreria justamente o inverso. Ela seria
poderosa no câmbio fixo, mas ineficaz no câmbio flexível.
Questão relevante, também, é examinar como se dá o ajustamento
interno em resposta a distúrbios econômicos de diversas naturezas, seja
sob o regime de taxa de câmbio fixa ou sob o regime de taxa flexível.
Tomemos como exemplo uma forte queda nos preços dos produtos
de exportação de um determinado país sujeito ao regime de câmbio
fixo. Haverá déficit da balança comercial, perda de reservas e contração
monetária. Para que os desequilíbrios sejam corrigidos, será necessário
que alguma contração da economia produza queda de preços e salários.
Somente com o ajuste desses preços, o que não ocorre facilmente,
equilibraremos a balança comercial e voltaremos a crescer.
Já, se o país estivesse sob o regime de taxa flexível, o ajustamento
seria bem mais simples e imediato. A desvalorização do câmbio faria o serviço de reequilibrar a área externa, impedindo muitos dos
efeitos maléficos sobre a renda e o emprego. É como se o pianista,
42
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
ao preparar-se para tocar, ajustasse o banquinho para a frente, em
lugar de puxar o piano para si, como faz o português da piada. Bem
melhor, não é mesmo?
Mas, ora, se a taxa flexível de câmbio tem essa vantagem, o que levaria um país, ou uma região, a abrir mão de flexibilidade quanto à
determinação do valor relativo de sua moeda? Que predicados ainda
não citados poderiam conferir atratividade a regimes tradicionais
de taxas fixas, ao padrão-ouro, à adoção de moedas dolarizadas ou
à criação de zonas monetárias, casos em que a soberania nacional
estaria comprometida?
Convém neste ponto, em lugar do problema com as contas externas,
usar, como exemplo do desequilíbrio inicial, o surgimento de inflação
em determinado país. Com taxas fixas de câmbio, a subida dos preços internos retirará competitividade do país que, em consequência,
perderá reservas e contrairá a sua oferta monetária. A disciplina
anti-inflacionária, pelo lado das reservas, estará garantida. Já, num
regime de taxas flexíveis, a depreciação do câmbio deverá vir em
sequência ao aumento dos preços internos, colocando ainda mais
lenha na fogueira da inflação. Para países descuidados no combate
à inflação, o regime de taxas fixas pode, portanto, ter certo appeal,
muito embora seja também verdade que uma irresponsabilidade em
alto grau na gestão das contas públicas pode impor um padrão de
inflação causador de especulação contra a moeda e detonador de
maxidesvalorizações periódicas.
Outras características podem contribuir para que países ou regiões se
submetam ao regime de taxas fixas ou à adoção de uma mesma moeda
intrazona. Por conveniência didática, raciocinemos com os estados
federados norte-americanos, onde reina uma só moeda: o dólar. Se
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
43
subitamente aumenta no Sul a demanda por produtos do Norte, haverá tendência ao desemprego no Sul e ao crescimento de salários no
Norte. Como são baixos os custos de locomoção, e todos comungam
da mesma língua e cultura, facilmente a mão de obra migraria do Sul
para o Norte, e o ajustamento se daria sem grandes problemas.
Vê-se aqui que não só a redução dos custos de transação deve ser
ponderada, ao avaliarmos as vantagens do uso de uma só moeda
por diferentes regiões ou países. Também a mobilidade dos fatores
de produção é fator decisivo na determinação da conveniência ou
não de criação de uma zona monetária. Afinal, quando existe alta
mobilidade de fatores, desaparecem os problemas de ajustamento
macroeconômico inerentes ao regime de taxas fixas de câmbio ou
ao seu quase equivalente regime de moeda única.
Postas essas observações, estamos agora em condições de discutir
a Zona do Euro (Eurozone) e os problemas que afligem a Grécia.
V – Optimum currency areas e o euro
Em 1961, Robert Mundell escreveu uma nota para a American Economic
Review, em que chamava a atenção da profissão para a necessidade
de definir o que seria uma “zona monetária ótima”, onde países,
ou regiões, adotariam uma mesma moeda. A partir daí, toda uma
discussão técnica surgiu e foi ampliada, quando das tratativas para a
formação da Zona do Euro, na Europa.
Como já podemos intuir dos comentários anteriores, se levarmos
em conta apenas aspectos relacionados ao ajustamento macroeconômico, a plena mobilidade de fatores seria o fator de delimitação
da “zona monetária ótima”. Pouco importariam aqui as fronteiras
44
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
entre países. A zona monetária poderia ser um pedaço de um país, a
união de diferentes países, ou mesmo a reunião de diferentes áreas de
diferentes países. Fatores como baixo custo de transporte, unidade
linguística e de costumes etc., de forte influência na mobilidade, é
que deveriam ser ponderados.
No mundo real, no entanto, não cabe desconsiderar as fronteiras entre
países, já que a perda de soberania nacional, implícita na adoção de uma
moeda comum, tem um peso considerável. O próprio Mundell, em seus
primeiros escritos sobre o assunto, mesmo reconhecendo problemas
no movimento da mão de obra entre países, via a perda de soberania
como o maior fator impeditivo da criação de uma moeda europeia.
Nisso, seguia a posição do Professor James Meade. Contra a posição
de Meade, Tibor Scitovsky argumentava que uma moeda comum para a
Europa Ocidental incrementaria fluxos de capital e estimularia medidas
que promovessem a melhor coordenação econômica e a integração do
mercado de trabalho. Tudo isso compensaria a perda de soberania. Com
o tempo, reconhecendo o papel indutor de melhor governança para a
região da moeda única, Mundell caminhou na direção de Scitovsky e
foi o grande nome da academia na defesa da criação do euro.
Na discussão técnica, outro forte argumento de defesa do euro está na já
mencionada redução dos custos de transação. As funções que a moeda
tem de unidade de conta e meio de pagamento seriam obviamente mais
bem desempenhadas, e os custos de transação seriam reduzidos com
o uso de uma só moeda. O argumento da conveniência, se levado às
últimas consequências, poderia até justificar uma moeda única para o
mundo todo, como, inclusive, propunha John Stuart Mill, colocando
em segundo plano os custos de ajustamento macroeconômico.
Cabe reconhecer, embora ressaltando argumentos técnicos que
envolvem a matéria, que razões puramente políticas pesaram muito
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
45
nas decisões do bloco europeu para a criação da Eurozone. O sonho
de uma Europa grande, unida, contrapondo-se ao peso dos Estados
Unidos e, mais tarde, da China, teve o condão de unir principalmente
a Alemanha e a França em torno do projeto de integração econômica
completa para a União Europeia (UE).
Mas isso não se deu sem fortes argumentos contrários. Países periféricos da Europa tiveram de ser atraídos com vantagens para aderirem
ao projeto do euro. A população dos países mais ricos, sobretudo da
Alemanha, reagiu quando se viu instada a pagar contas de terceiros
países. E Milton Friedman, em influente artigo, argumentava que
apenas a Alemanha, a Áustria e mais alguns poucos países do Norte
da Europa (Benelux) estariam qualificados para um regime de moeda
única. Dificuldades na compreensão linguística, diferenças culturais e
divergências quanto à necessária austeridade fiscal afastariam os demais
países de um conceito de optimum currency area. Segundo Friedman,
o projeto do euro, que tem como principal objetivo a união e a paz
da Europa, poderia ter efeitos contrários aos pretendidos. Em suas
palavras: “Unidade política pode aplainar o caminho para a unidade
monetária. Mas unidade monetária, imposta sob condições desfavoráveis, representará uma barreira para a conquista da unidade política”.
Postos esses pontos, estamos agora aptos a examinar a situação atual
da Zona do Euro e o problemático caso da Grécia.
VI – A zona do euro e a Grécia
A Zona do Euro foi oficialmente criada em 1o de janeiro de 1999 por
11 Estados-membros da União Europeia, a saber: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Países Baixos e
Portugal. Após período de cunhagem e adaptações institucionais, a
46
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
nova moeda passou a circular a partir de janeiro de 2002. Hoje, dos
28 Estados-membros da União Europeia, 19 aderiram ao euro, sendo
que a Grécia decidiu aderir já em 2001. Dentro da União Europeia,
não aderiram ao euro: Bulgária, Croácia, Dinamarca, Hungria, Polônia,
Romênia, Reino Unido, República Tcheca e Suécia, mas espera-se
que Bulgária, Croácia, Hungria, Polônia e Romênia venham a aderir
brevemente. Em compensação, Mônaco, São Marino e o Vaticano, que
não fazem parte da UE, aderiram ao Euro. Cabe notar, finalmente,
que a Suíça, Liechtenstein e a Noruega não fazem parte da UE nem
utilizam o euro como moeda oficial.
Cabe ao Banco Central Europeu (BCE), por intermédio de sua diretoria executiva, a execução da política monetária para a Zona do
Euro. Essa política é definida por um conselho diretivo composto
de todos os presidentes dos bancos centrais da Zona, mais os seis
membros da diretoria executiva do BCE. O atual mandato imposto
ao banco determina absoluta prioridade no combate à inflação, que
não deverá ultrapassar 2% ao ano, ficando tão próxima quanto possível dessa marca.
Com relação à política fiscal, não há uma perfeita integração entre
os países da Zona, ficando resguardada a soberania de cada país. No
entanto, os países-membros sujeitam-se a um compromisso, pouco
respeitado, de não ultrapassar os limites de 3% do PIB para o déficit
orçamentário anual e de 60% do PIB para a dívida pública.
Note-se que um conselho (Eurogroup), formado pelos diversos
ministros da Fazenda dos países-membros, reúne-se periodicamente no esforço de harmonizar as políticas internas de cada país.
Mais recentemente, em função da crise econômica e da situação da
Grécia, os próprios chefes de Estado têm participado do Eurogroup,
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
47
procurando coordenar medidas “apaga-incêndio” em todos os
segmentos da política econômica.
Convém registrar, também, que a Zona do Euro tem uma população
de cerca de 335 milhões de habitantes e um PIB da ordem de 11
trilhões de euros. Seu PIB representa 14% do PIB mundial, o que
se compara com 21% para a União Europeia, 20% para os Estados
Unidos e 18% para a China.
Para qualificar-se como país-membro da Zona do Euro, a Grécia, que
nunca primou por austeridade fiscal, comprometeu-se a seguir as exigências do grupo. Afinal, para conquistar o selo de qualidade, valiam
alguns sacrifícios de soberania e o compromisso de ajustar déficits e
a evolução da dívida soberana para parâmetros mais restritos. Como
as taxas de juros deveriam baixar num país supervisionado pelo BCE
e a economia grega é extremamente dependente do turismo, muitos
benefícios decerto adviriam da adoção de uma moeda de aceitação
generalizada, em lugar da moeda local.
Acontece que as facilidades de financiamento encontradas pela Grécia
tiveram o efeito de estimular a gastança pública e a concessão de privilégios. Os salários pagos a funcionários públicos, por exemplo, cresceram
50% de 1999 a 2007. Os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, também
comprometeram bastante as contas públicas. Passa-se o tempo e, no
final de 2009, as autoridades gregas confessam que a verdadeira situação
fiscal do país é bem pior que aquela até então mostrada ao mundo. O
mercado fechou, então, suas portas, e o país teve de ser salvo em 2010
pela troika composta pelo FMI, pelo BCE e pela Comissão Europeia
(órgão executivo máximo da União Europeia, localizado em Bruxelas),
com um primeiro socorro de 240 bilhões de euros.
48
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
Com as medidas de austeridade impostas pelos credores, segue-se um
período de forte recessão, só atenuado em 2014. Em cinco anos, a
Grécia havia perdido um quarto do seu PIB, e o desemprego superava
os 25% da população ativa. Com a recessão e a decorrente queda das
receitas tributárias, as promessas feitas aos credores não puderam
ser cumpridas. Nesse clima, assume, em janeiro de 2015, o governo
Tsipras, de esquerda, prometendo libertar a Grécia dos grilhões dos
credores e implementar programas populares. A fuga de recursos
do país foi a resposta imediata do mercado, e a quebra era iminente.
As autoridades europeias mostravam-se dispostas a oferecer um
novo socorro, mas só se viesse sob condições ainda mais duras para
a Grécia. Tsipras resistia com o apoio da população, esperando que
os países líderes da Europa fossem amolecer, pelo receio de arranhar
o projeto da Eurozone com a perda de um país-membro. A França
parecia mais condescendente com a irresponsabilidade grega, mas
a Alemanha não arredava pé de suas exigências. A população grega
balançava entre objetivos mutuamente excludentes: queria escapar da
disciplina do ajuste, de um lado, mas queria também permanecer na
Zona do Euro. Após uma longa e desgastante negociação, entremeada
por um plebiscito e por novas eleições, Tsipras finalmente cedeu aos
credores, avaliando que a permanência na Zona do Euro era o bem
mais valioso para o seu país. Um novo acordo de ajuda foi assim
assinado com os países da Zona, em agosto último, agora no valor
de 195 bilhões de euros.
Com isso a situação do endividamento grego passou a ter a seguinte
configuração:
•
Dívida total: 320 bilhões de euros, equivalentes a 177% do PIB.
•
Credores: Alemanha, 57 bilhões de euros; França, 43 bilhões
de euros; Itália, 38 bilhões de euros; Espanha, 25 bilhões de
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
49
euros; outros países da Zona, 32 bilhões de euros; BCE, 27
bilhões de euros; FMI, 24 bilhões de euros; credores privados,
63 bilhões de euros; outros bancos centrais, 11 bilhões de euros.
VII – Conclusão
É difícil prever se a Grécia será capaz de honrar seus compromissos
daqui para o futuro. Mais difícil ainda é prever que consequências
teria um próximo default, dada a impaciência dos parceiros mais poderosos com o histórico de indisciplina do país. Muitos acham que
a presença da Grécia na Eurozone é artificial e que, mais dia, menos
dia, ela terá de retornar ao dracma. Existem também aqueles que
acham que artificial mesmo é a presença da ortodoxa e eficientíssima
Alemanha na Zona do Euro, entendendo que uma valorização do
marco em relação ao euro poderia resolver muitos dos problemas de
competitividade dentro da Europa. Finalmente, há os que, na linha
de Friedman, consideram artificial o desejo de unir monetariamente
regiões díspares como o Norte da Europa e a Europa Mediterrânea.
Em suma, há opiniões para todos os gostos.
Duas lições, entretanto, devem ser extraídas do drama grego. Uma é
que, na formação de uma zona monetária, a perda de soberania dos
países não se deve limitar ao abandono da moeda nacional. Cada
vez mais, o sucesso da integração monetária dependerá também da
integração das políticas fiscais, pois as populações de países austeros
não mais aceitarão cobrir os rombos de países indisciplinados. A
outra lição é que a economia só suporta pequenos desaforos. Para
os grandes, a punição dos mercados vem forte e tem consequências
políticas. Mesmo os governantes populistas têm de se submeter às
restrições econômicas, já que, no médio e longo prazos, não há salvação fora da obediência às leis do mercado.
50
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
Finalmente, cabe registrar a preocupação de que o atual fluxo de
refugiados para a Europa e o recrudescimento de ações terroristas
na região sejam capazes, não só de piorar a situação grega, como
também de esvaziar o sonho de uma Europa totalmente integrada.
Afinal, é imprescindível para a concretização desse sonho o livre
trânsito de pessoas por toda a região, e o que se nota no momento
é o fechamento de fronteiras e uma nova tendência à introversão e
à contestação de decisões multilaterais.
Palestra pronunciada em 17 de novembro de 2015
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 34-51, dez. 2015
51
Considerações sobre
o impeachment
Marcus Faver
Desembargador, Presidente do Colégio Permanente de
Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.
Sumário
•
I – Introdução: A relevância atual do tema.
•
II – Histórico: 1) O impeachment inglês e o americano;
2) O impeachment no Brasil;
2.1) A nomenclatura constitucional, a expressão inglesa e
o conceito atual;
2.2) As diferenças entre o impeachment americano e o brasileiro;
2.3) Conceitos jurídicos dos institutos afins;
2.3.1) Infrações penais e infrações não penais;
2.3.2) Ilícito penal e ilícito administrativo;
2.3.3) Crime de responsabilidade e infração
político-administrativa;
2.3.4) Crime funcional e “crime de responsabilidade”;
2.3.5) Consequências da imprecisão técnica;
•
52
III – Conclusões.
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
I – Introdução
N
o momento em que o país se defronta com grave crise política,
com possibilidade de evolução para uma séria crise institucional, parece-nos oportuno relembrar algumas considerações sobre o
impeachment, sua natureza jurídica, sua evolução histórica, retirando do
ostracismo antigas anotações acadêmicas sobre o tema, com sugestões
para a sua aplicação nos dias atuais.
Observe-se, por oportuno, que ao fazer a apresentação do volume
especial temático da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre impeachment, em 1996, o ministro Sepúlveda Pertence, então
seu presidente, assim se expressou:
“Na estrutura constitucional do presidencialismo, poucos
institutos terão sofrido condenação tão generalizada e inclemente quanto o impeachment do presidente da República.”
Autor da melhor obra sobre o tema em nossa literatura – cuja primeira
edição significativamente é de 1964 –, Paulo Brossard de Souza Pinto
lavrara o que a todos parecia irremovível veredicto condenatório:
“Incapaz de solucionar as crises institucionais, o impeachment,
paradoxalmente, contribui para o agravamento delas. O instituto, que, pela sua rigidez, não funciona a tempo e a hora,
chega a pôr em risco as instituições, e não poucas vezes elas se
estilhaçam. Representadas as forças em conflito, a dinâmica dos
fatos termina por fender as linhas do instituto envelhecido, e,
transbordando do leito constitucional, a revolução passa a ser
o rude sucedâneo do remédio tão minuciosa a cautelosamente
disciplinado na lei. Desta realidade, são testemunho as incursões
armadas que pontilham, aqui e ali, os pleitos institucionais.”
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
53
Daí, a concluir a tese com invocação do juízo de Ruy, de implacável
sarcasmo, que a Brossard pareceu definitivo:
“Ninguém mais enxergou na responsabilidade presidencial
senão um tigre de palha. Não é sequer um canhão de museu
que se pudesse recolher, entre as antigualhas históricas, à
secção arqueológica de uma armaria. É apenas um monstro
de pagode, um grifo oriental, medonho na carranca e nas
garras imóveis.”
Na América, em 1974, a solução da crise de Watergate – quando,
uma vez mais, a dinâmica dos fatos políticos atropelou a tentativa
de fazê-lo mover-se a tempo –, a esterilidade do impeachment pareceu
receber outra confirmação eloquente.
O resultado é que, na doutrina constitucional, os textos sobre o impeachment recendiam ao mofo das especulações ociosas, salvo quando
os animava o sabor polêmico dos que, a exemplo do trabalho de
Brossard, faziam, da dissecação do instituto, uma arma a mais para
a crítica do presidencialismo e a pregação da crença parlamentarista.
No Brasil, durante o vintênio do autoritarismo militar, seria risível a
simples ideia de responsabilização, perante o Congresso e sob controle
dos tribunais, de um presidente da República que tivesse nos quartéis
a fonte real do seu poder e só a eles devesse contas.
Tudo, assim, fazia imprevisível que, ainda na primeira década da
retomada do processo democrático e nos primeiros anos da Constituição de 1988, os juízes do Supremo Tribunal Federal se vissem
a braços com a tarefa de decidir questões cruciais sobre a natureza
e o processo por crime de responsabilidade contra o presidente da
República: primeiro, a respeito do ensaio, liminarmente repelido,
54
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
contra o presidente José Sarney (Mandado de Segurança no 20.941), e,
pouco tempo depois, a propósito dos sucessivos momentos do caso
Collor, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (Mandados
de Segurança no 21.564, no 21.623, no 21.628, no 21.633 e no 21.689).
Os acórdãos retratam dias particularmente dramáticos da história
do Supremo Tribunal, tais as circunstâncias que cercavam as sessões
em que as decisões foram tomadas, às vezes, literalmente, à vista da
nação excitada: não obstante, os votos – malgrado as divergências
– dão testemunho, todos eles, da seriedade jurídica e da serena imparcialidade com que se portou a Corte.
De outro lado, sob o prisma da dogmática constitucional, a singularidade da série de julgados do caso Collor – até aqui, ao que se sabe,
os únicos que retratam o exame jurisdicional das diversas fases de um
processo de impeachment presidencial que chegou ao seu termo – propiciou acumular nos anais do Supremo Tribunal uma inédita vivência
judicial do instituto, com páginas de inegável valor doutrinário.
O instituto duramente criticado durante anos, por ser considerado
incapaz de, no presidencialismo, solucionar as crises institucionais,
particularmente, no que se refere ao impeachment do presidente da
República, vem ultimamente e, em especial, após o “caso Collor” no
Brasil, o “Watergate” (1973) e “Clinton”, nos Estados Unidos, e a
crise na Argentina, ganhando maior relevância e estudos mais aprofundados, mesmo porque, se o instituto falhar, a fissura constitucional
(ou revolução) passa a ser um eventual sucedâneo como remédio para
os conflitos institucionais, como tem demonstrado a história, ao lado
de outras ocorrências trágicas (renúncia, suicídio, fuga, etc.).
Não se pode, todavia, pensar no impeachment como um veículo de
incrustação ou exacerbação de crise, ou instrumento de vendetas
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
55
políticas, mas, sim, como um remédio institucional e heroico para debelar
graves crises políticas, eventualmente ocorridas nos diversos entes
federativos. Só assim, e com essa filosofia, ele se justifica.
II – Histórico
1) O impeachment inglês e o americano
Parece fora de dúvida que o impeachment tenha nascido na Inglaterra
como uma instituição mediante a qual a Câmara dos Comuns formulava acusações contra os ministros do rei, e a Câmara dos Lordes as
julgava. A Câmara Baixa era assim, como ainda é hoje, o tribunal de
acusações, enquanto a Câmara dos Lordes funcionava, como ainda
hoje, como corte de julgamento.
A data exata do surgimento do impeachment é profundamente discutida.
Entendem alguns que ele “se desdobra do crepúsculo do século XIII
ou XIV à madrugada do século XIX” (Paulo Brossard, O Impeachment,
Editora Globo, 1965).
Alex Simpson, em A Treatise on Federal Impeachment, Filadélfia, 1916,
ao afirmar na página 5 que os autores discordam sobre a época do
surgimento do instituto, relaciona o impeachment de David, em 1282,
como o primeiro, seguindo-se o de Thomas, Conde de Lancaster, em
1322; o de Roger Mortiner e o de Simon de Beresford, em 1330; o de
Thomas de Barclay, em 1350; e o de Richard Lyons e o de William
Lord Latimer, em 1376.
No trabalho do professor Pinto Ferreira, citando Harold Laski, ele
afirma que o primeiro impeachment ocorreu em 1326, com Eduardo
III. Nessa época, teriam surgido os casos mais famosos de Latimer e
Neville, nos quais os tratadistas vão buscar a sua origem, vindo, depois,
56
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
o de Pole, em 1386; o do eminente filósofo e estadista Bacon; o de
Mompson, em 1621; o do Duque de Buckinghan, em 1627; o do Conde
de Stafford, em 1640; o de Warren Hastings, em 1787; e o do Lorde
Merville, em 1805 (Pinto Ferreira, Direito Constitucional, p. 350-351).
O fato é que, conforme menciona Paulo Brossard, não é fácil dissertar
a respeito do instituto inglês, precisando-lhe as características e as
épocas, pois elas mudaram ao longo do tempo, e o próprio instituto
sofreu um grande período de recesso.
“Após longo período de hibernação, durante o qual, e por
isso mesmo, prosperou o bill of attainder, que era uma condenação decretada por lei, uma lei-sentença, odiosamente
pessoal e retroativa, no juízo de Esmein, o impeachment
ressurgiu com pujança. Passou a ser admitido nos casos
de ofensa à Constituição inglesa por crimes muitas vezes
difíceis de definir na imprecisão dos textos.”
“Se, originariamente, o impeachment foi processo criminal que
ocorria perante o Parlamento, para que poderosas individualidades pudessem ser atingidas pela Justiça, e supunha
infração prevista em lei e com a pena em lei cominada, cedo
ficou estabelecido que, embora os lordes estivessem ligados
à lei quanto à determinação do delito, em se tratando de
crimes capitais, eram livres para escolher e fixar penas, que
podiam variar da destituição do cargo à prisão, ao confisco,
à desonra, ao exílio e à morte” (Paulo Brossard, obra citada).
“Expandindo-se, passou a ser livremente admitido em relação
a high crimes and misdemeanors, crimes e atos que não constituíam
crime, mas faltas consideradas prejudiciais ao país, independentemente de enunciação ou caracterização legais.”
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
57
“Desta forma, sem deixar de ser criminal a jurisdição, o
processo ganhou vastas dimensões políticas. Sofreu ele real
metamorfose, que é registrada pela generalidade dos autores,
não faltando quem sustente que há certo tempo o caráter
político sobrepujou o aspecto judiciário” (Idem).
O que nos parece importante nessa análise é estabelecer a diferenciação entre o impeachment nascido na Inglaterra e o adotado nos
Estados Unidos da América, e que de lá serviu de exemplo para a
legislação brasileira.
Abolindo o bill of attainder e adotando o impeachment, os americanos
racionalizaram o instituto inglês, expurgando-o dos aspectos excepcionais e, por vezes odiosos que, historicamente, a ele se ligavam.
Na verdade, quando os constituintes americanos da Filadélfia adotaram o impeachment, ele já havia sofrido na Inglaterra uma extensa
evolução, ganhando relevo o aspecto político sobre o criminal,
“limitando em seu alcance quanto às pessoas, restrito no que concerne às sanções, desvestido do caráter criminal que fora dominante,
expurgando de certas características anciãs, o impeachment quando
na Inglaterra chegava à senectude, ingressava no elenco das jovens
instituições americanas” (Brossard, p. 31).
Na Inglaterra, o impeachment atinge a um tempo a autoridade e castiga
o homem, enquanto, nos Estados Unidos, fere apenas a autoridade,
despojando-a do cargo, e deixa imune o homem, sujeito, como qualquer, e quando for o caso, à ação da Justiça (Joseph Story, Commentaries
on the Constitution of the United States, 5a ed., Boston).
Segundo Henry Campbel Black, citado por Pinto Ferreira, “não resta
dúvida que nos Estados Unidos o impeachment ganhou natureza pura58
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
mente política: The nature of this punishment is political only” (Constituition
Law, 3a ed., p. 139).
Também a lição de Von Holst (The Constitutional Law of the United
States, p. 158):
Impeachment is a political process.
The decision as to what the law is made by the powers which act in this
process as accuse a judge, in as much as they carry out the constitutional
provision in accordance with the interpretation which seems them just.
There is no appeal from their decision.
Vê-se, pois, que nos Estados Unidos inquestionavelmente, o impeachment tem por fim afastar o agente do cargo, sem prejuízo de outras
sanções porventura cabíveis. É, à evidência, processo político com
cominação de penas políticas, como o são a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de outro.
Outra característica do impeachment americano, e essencial à análise que
procuramos realizar, é a sua regulamentação pelos estados-membros
da federação. Esse aspecto é tão marcante, que James Bryce chega a
afirmar que ele resultou imediatamente das Constituições estaduais,
e só mediatamente do direito inglês.
“O impeachment não veio diretamente da tradição inglesa,
porém das Constituições da Virgínia (1776) e de Massachussets (1780), que tinham seguido nisso certamente o exemplo
da Inglaterra” (The American Common Wealth, vol. I, p. 50).
Informa, por seu turno, Austin F. MacDonald (American State Government and Administration, Nova York, 1950, p. 253):
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
59
In every State the governor may be removed by process of impeachment. It is customary, however, to use this power only when some very
serious offense is charged – flagrant abuse of authority, for example,
or downright dishonesty. Where inefficiency is not enough to justify the
representation of charges. As a result, only four governors have been
removed from office on impeachment charges since the troubled days
of reconstruction following the civil war.
Assim, é necessário acentuar-se que, embora originário do direito
público inglês, são marcantes as diferenças entre o impeachment inglês, que se alastrou por toda a Europa, e o instituto implantado nos
Estados Unidos e dali transportado para o Brasil, a Argentina e toda
a América Latina.
Pelo sistema europeu, vinculado à tradição jurídica britânica, além
das penas de caráter político-administrativo, ocorre também aplicação
de penalidades civis e criminais, razão pela qual é ele reputado pelo
jurista francês Léon Duguit como um processo de natureza mista,
isto é, político-penal.
Como citado por Paulo Brossard: “Strory já ensinava que o impeachment é um processo de natureza puramente política”. Lawrence,
tantas vezes citado pelas maiores autoridades, faz suas as palavras de
Bayard, no julgamento de Blount: “O impeachment, sob a Constituição
dos Estados Unidos, é um processo exclusivamente político. Não
visa a punir delinquentes, mas proteger o Estado. Não atinge nem a
pessoa nem seus bens, mas simplesmente desveste a autoridade de
sua capacidade política.” Lieber não é menos incisivo ao distinguir o
impeachment nos dois lados do Atlântico, dizendo que “o impeachment
inglês é um julgamento penal”, o que não ocorre nos Estados Unidos,
onde o instituto é político e não criminal. Von Holst não diverge:
60
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
“O impeachment é um processo político”. É semelhante a linguagem
de Tucker: “O impeachment é um processo político contra o acusado
como membro do governo, para proteger o governo no presente ou
futuro”. É conhecida a passagem em que Black sintetiza numa frase
a lição que, desde o século XVIII, vem sendo repetida nos Estados
Unidos: “É somente política a natureza deste julgamento”. Ou, como
escreveu Tocqueville, num trecho que correu mundo: “O fim principal do julgamento político nos Estados Unidos é retirar o poder das
mãos do que fez mau uso dele, e de impedir que tal cidadão possa ser
reinvestido de poder no futuro”. Como se vê, é um ato administrativo
ao qual se deu a solenidade de uma sentença.
“Na Argentina, que, antes do Brasil, adotou instituições semelhantes às americanas, outra não é a lição dos
constitucionalistas. Lá, como aqui, o impeachment tem por
objeto separar a autoridade do cargo por ela ocupado,
independentemente de considerações de ordem criminal.
O objetivo do juízo político não é o castigo da pessoa delinquente, senão a proteção dos interesses públicos contra
o perigo ou ofensa pelo abuso do poder oficial, negligência
no cumprimento do dever ou conduta incompatível com
a dignidade do cargo” (Gonçalves Calderon, Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, 1923, 3a ed.).
É também interessante acentuar que, política por excelência, essa
vertente foi perdendo, gradativamente, o seu objeto, particularmente
nos sistemas parlamentares, principalmente em relação aos ministros,
em face dos processos e da técnica peculiar a esse sistema, que permite
a destituição dos ministros e dos ministérios por um processo muito
mais rápido e eficaz, qual seja, o voto de censura.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
61
Cresce, no entanto, em contrapartida, a sua importância nos sistemas
presidencialistas, como fórmula jurídica adequada à responsabilização
dos agentes políticos (veja-se o voto do ministro Castro Nunes, Revista
Forense, no 125, p. 151, no julgamento da Representação no 96 – Supremo Tribunal Federal). Como afirmou, com a precisão costumeira,
o ministro Célio Borja (revista Época, 26/10/2015), o impeachment é
um instrumento democrático.
Ganham, nesse ponto, importância as observações de Eduardo
Duvivier, no livro Defesa do Ex-Presidente Washington Luiz, no caso de
Petrópolis, 1931, p. 72-75, verbis:
“É interessante observar que, transpondo o Atlântico, o impeachment que, como instituição política, se originara na Inglaterra
do princípio da irresponsabilidade do Executivo e que, politicamente, se extinguira com o estabelecimento da sua responsabilidade, sendo substituído pelo voto de censura, ou desconfiança,
justifica-se, na América do Norte e nos países da América do
Sul, que lhe seguiram o exemplo, exatamente pelo princípio da
responsabilidade do Executivo, como uma sanção política de
certos crimes ou delitos, ou de ‘simples falta de cumprimento
de deveres funcionais dos órgãos desse Poder; decorrendo
do princípio da responsabilidade, o impeachment investe-se de
efeito semelhante ao do voto de censura, ou desconfiança,’
restringe-se à perda do cargo, acidentalmente, apenas, podendo
acarretar a inabilitação para outro; no país de origem, ele guarda
em teoria, pois que caiu em completo desuso o caráter punitivo
desses crimes ou delitos; no país para onde foi transplantado,
perde esse caráter, passando a função punitiva dos crimes ou
delitos para tribunais comuns; corresponde, pois, ao voto de
censura, com maior alcance, porque pode trazer a inabilitação
para outro cargo público, mas também, como maior garantia
62
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
para o acusado, porque não basta que este contrarie a política
do Congresso, que também não pode derrubar por uma maioria
ocasional, mas preciso é que ele ofenda a lei e que essa ofensa
seja verificada na forma e com as garantias de um processo
judicial e por um tribunal, que somente poderá condená-lo por
dois terços dos seus votos... Adotando o impeachment, como um
meio de tornar efetiva a responsabilidade do presidente, seus
ministros e outros funcionários, tomaram-no, da Constituição inglesa, com as garantias, de natureza judicial, do
seu processo originário, mas com o efeito político, muito
aproximando, do seu último estado de evolução, ao voto
de censura – evolução que fora, certamente, o resultado ao
princípio desenvolvido, na Inglaterra, na última parte do século XVIII, da independência do Judiciário, como elemento
particularmente garantidor da liberdade civil.”
2) O impeachment no Brasil
Já a Constituição do Império, de 1824, previa o processo de impeachment, firmado e aproximado ao instituto britânico.
A Lei de 15 de outubro de 1827, elaborada nos termos do art. 134
da Constituição de 25 de março, dispunha sobre a responsabilidade
dos ministros e secretários de Estado e dos conselheiros, sendo de
natureza criminal as sanções que o Senado tinha competência para
aplicar. Seu escopo, de acordo com Paulo Brossard, “não era apenas
afastar do cargo a autoridade com ele incompatibilizada, como veio
a ser no impeachment republicano, há um tempo atingia a autoridade
e o homem, em sua liberdade e bens”.
A Constituição de 1891 se orientou pela sistemática norte-americana.
A monarquia foi substituída pela República. A Federação sucedeu ao
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
63
Estado unitário. O sistema presidencial relegou a tradição parlamentar
do Império. A pessoa do imperador, legalmente inviolável e sagrada,
deu lugar ao presidente da República, legalmente responsável. O impeachment deixou de ser criminal, passando a ser de natureza política.
A Constituição de 1934 estabeleceu um sistema complexo de impeachment, inclusive com um tribunal especial, composto de nove juízes,
sendo três senadores, três deputados e três ministros da Corte Suprema, que daria a decisão final.
A Lei Maior de 1934 pouco durou, eis que substituída pela Carta
Outorgada de 1937, que previa o impedimento, mas que não teve
qualquer significado ante a dissolução do Congresso.
A Constituição de 1946, bem como as de 1967, 1969 e 1988, regulou
o impeachment, vinculando-o aos chamados crimes de responsabilidade
do presidente da República. Anote-se que em qualquer dos textos
constitucionais, após a redemocratização, foi utilizada a palavra “impedimento” ou impeachment. Todos eles mencionaram a suspensão do
presidente de suas funções, uma vez declarada procedente a acusação
pelo voto de dois terços da Câmara dos Deputados.
2.1) A nomenclatura constitucional,
a expressão inglesa e o conceito atual
Com base nas expressões constitucionais e no significado gramatical
do termo na língua inglesa (impedimento, denúncia, acusação), alguns
doutrinadores vêm entendendo que o impeachment significa apenas
“o afastamento provisório” do agente político do cargo que ocupa.
Por essa razão, Tito Costa (obra citada, p. 11) afirma que “não resta
nenhuma dúvida que, com o impeachment, ‘objetiva-se o afastamento
64
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
provisório da autoridade política,’ pelo órgão político correspondente
(as assembleias populares), a fim de que, preservados o cargo e as funções políticas que lhe são inerentes, possa responder criminalmente
pelas falhas cometidas, perante o Poder Judiciário”.
Na verdade e a rigor, por impeachment se entendia apenas a acusação
formulada pela representação popular, ou seja, a primeira fase do
processo de responsabilidade que, no sistema brasileiro, terminaria
com o afastamento provisório da autoridade processada (Paulo Brossard, obra citada, p. 11).
Gabriel Luiz Ferreira, com acuidade, afirma que “a palavra impeachment
não foi ainda introduzida na linguagem de nossas leis, mas é certo
que, passando da jurisprudência inglesa para a tecnologia universal do
direito público, tem a significação geralmente conhecida e serve para
designar todo o processo especial a que são sujeitos os altos representantes do poder público pelos crimes e abusos que cometem, no
exercício de suas funções governamentais” (I.A.B., Dissertações, p. 231).
Ao nosso sentir, nos dias atuais, principalmente em razão do caso
Collor, a expressão se popularizou, e pelo mesmo vocábulo se designa
hoje comumente não só o processo político que começa e termina
no seio do Poder Legislativo, como ainda o impedimento definitivo do
agente político.
Por tais considerações, pensamos que razões não assistem a Tito Costa
e Hely L. Meirelles, ao afirmarem a inexistência de impeachment em
relação aos prefeitos municipais, após a vigência do Decreto-Lei no
201/67. O conceito do instituto, na verdade, ganhou elasticidade no
direito brasileiro, passando a significar, como anteriormente afirmado, não só o afastamento provisório, originário, como a denominar
todo o processo de impedimento do agente político, como ainda o
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
65
afastamento definitivo da autoridade do seu cargo. (Vejam-se os dicionaristas Pedro Nunes, Dicionário de Tecnologia Jurídica, Koogan Larousse
e Aurélio Buarque de Hollanda; e os doutrinadores Paulo Brossard,
O impeachment, p. 12; Carlos Maximiliano, Comentários à Constituição de
46, p. 257, vol. II; Pinto Ferreira, Curso de Direito Constitucional; Ovídio
Bernardi, Responsabilidade dos Prefeitos Municipais, etc.).
2.2) As diferenças entre o impeachment americano e
o brasileiro
Conforme perfeita análise de Carlos Maximiliano, em parecer encontrado na Revista Forense, no 25, p. 108-114, o impeachment é uma
instituição inglesa adotada nos Estados Unidos e dali transportada
para o Brasil. Na grande república norte-americana, graças ao respeito
pela independência dos poderes constitucionais, o presidente só é
afastado do cargo depois de condenado definitivamente. No Brasil,
desde 1890, sempre houve duas fases no processo de impeachment:
a primeira, concluindo com uma decisão da Câmara, semelhante à
pronúncia usada no Juízo Criminal comum; a segunda, perante o Senado, ultimada com a absolvição ou condenação definitiva. Entre nós,
houve mais rigor do que nos Estados Unidos: uma vez que admitida
à acusação por dois terços da Câmara, e instaurado o processo pelo
Senado, já o presidente deixava o exercício das suas altas funções (art.
86, § 1o, inc. II da Constituição Federal – CF).
Aliás, Viveiros de Castro (Estudos de Direito Público, cap. IX), chama a
atenção para outra diferença entre o sistema americano de impeachment
e o nosso, mostrando que aqui houve, por exigência constitucional,
uma “prévia definição das chamadas infrações político-administrativas” ou dos crimes de responsabilidade, seu processo e julgamento,
o que não ocorre na América. Ainda que com inegável conteúdo
66
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
subjetivo, tudo está definido hoje nos artigos 85 e 86 da Constituição
de 1988. Essa característica nacional foi apontada como benéfica
por João Barbalho, em seus clássicos Comentários à Constituição Federal
Brasileira, da seguinte maneira:
“O estatuto brasileiro especificou os crimes de responsabilidade; e foi além: exigiu que o primeiro Congresso ordinário,
na sua primeira sessão, os definisse em lei especial. Esse dever foi cumprido. E, de outro modo, deturpar-se-ia o regime
presidencial, podendo as Câmaras, sob qualquer pretexto,
demitir o presidente: dar-se-ia incontrastável predomínio
delas. A posição do chefe da nação seria coisa instável e
precária, sem independência, sem garantias.”
Diante desse quadro, é preciso atentar-se para o perigo de se fazer
sustentações ou argumentações com base em textos ou doutrinadores
alienígenas, sem perceber que são consideráveis as diferenças entre
um instituto e outro.
Não procedem também a nosso ver os argumentos de Tito Costa e
Hely Lopes Meirelles, ao analisarem o impeachment de prefeitos, isso
porque deixando, como deixou o Decreto-Lei no 201/67, a fixação do
rito (art. 5o) a cargo dos estados, cada uma das unidades da Federação
pode perfeitamente estabelecer o afastamento provisório, tão logo
seja aceita a denúncia pela Câmara. Aliás, foi isso exatamente que fez
o Estado do Rio de Janeiro, prevendo em sua antiga Constituição
(art. 214, § 4o) e posteriormente em sua Lei Orgânica Municipal (Lei
Complementar no 1, de 17/12/75, art. 103, § 5o) possibilidade do
afastamento provisório do prefeito de suas funções, ou seja, estabelecendo a figura do impeachment gramatical e histórico de Tito Costa
e Hely Lopes Meirelles.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
67
2.3) Conceitos jurídicos dos institutos afins
A atual Constituição da República Federativa do Brasil, em seus
artigos 85 e 86, dispõe:
“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:
I – a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das
unidades da Federação;
III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV – a segurança interna do país;
V – a probidade na administração;
VI – a lei orçamentária;
VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.”
“Art. 86. Admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será
ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade.
68
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
§ 1o O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia
ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II – nos crimes de responsabilidade, após a instauração
do processo pelo Senado Federal;
§ 2o Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não
estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem
prejuízo do regular prosseguimento do processo.
§ 3o Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas
infrações comuns, o presidente da República não estará
sujeito à prisão.
§ 4o ‘O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.’”
Estipula, por outro lado, no parágrafo único do citado artigo 85,
que esses crimes seriam definidos em lei especial, que estabeleceria
as normas do processo e julgamento.
A atual Carta repete, na verdade, o que constava do art. 84 da Constituição de 1967 e do art. 89 da Constituição de 1946.
Na esteira desses preceitos constitucionais, foi editada, em 10/4/1950,
a Lei no 1.079, que define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo.
Por essa lei (art. 2o) e pelo próprio texto constitucional, constata-se
que esses “crimes de responsabilidade” são punidos, exclusivamente, com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
69
outra função pública, por determinado tempo (até cinco anos, pela
Lei no 1.079, mas por oito anos, pelo parágrafo único do art. 52 da
Constituição Federal) – lembrando-se que as penas são cumulativas
(Mandado de Segurança no 21.689 – Rel. ministro Carlos Velloso).
Estabelece o texto magno (art. 86) que o presidente, depois que a
Câmara dos Deputados admitir a acusação pelo voto de dois terços
de seus membros, será submetido a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal, no caso de crime comum, ou perante o Senado
Federal, no caso de “crime de responsabilidade”.
Anote-se, aqui, porque já foi objeto de grandes discussões quando
do impeachment do presidente Collor, que o presidente da Câmara, a
nosso sentir, apenas examina a acusação, como se fosse um juiz a
despachar uma petição inicial (art. 282 e art. 284 do Código de Processo
Civil [CPC]), uma vez que a “admissibilidade” é prerrogativa da Câmara por dois terços de seus integrantes, e não apenas dos presentes
(veja-se o voto do ministro Célio Borja).
Observe-se ainda que, no caso Collor, o Senado entendeu que a
renúncia, no curso do processo, não afetaria o seu andamento e que
a pena de inabilitação não tinha caráter acessório.
O entendimento foi referendado, por maioria, pelo Supremo Tribunal
Federal – Mandado de Segurança no 21.689 –, Rel. ministro Carlos
Veloso, entendendo que a Lei no 1.079/50, mudou a sistemática da
legislação anterior.
Procuraremos estabelecer, por outro lado e adequadamente, o que
seja “crime funcional, crime de responsabilidade e infração político-administrativa”, tendo em vista que a falta de critério ou rigor
científico nessas conceituações tem levado legisladores, julgadores,
70
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
doutrinadores e intérpretes a confundirem os institutos, provocando
decisões inadequadas, e até conflitantes.
Não pretendemos nem temos em mira, obviamente, oferecer definições
porventura inexpugnáveis, quer no plano jurídico, filosófico ou sociológico, mas indicar caracteres distintivos, retirados da massa indiferenciada
dos chamados atos ilícitos, capazes de separá-los e distingui-los.
2.3.1) Infrações penais e infrações não penais
Não há diferenças ontológicas ou de essência entre as infrações penais
e as infrações não penais. “A ilicitude jurídica é uma só”, afirmava o
saudoso Nelson Hungria, mineiro de Além Paraíba, em seus Comentários ao Código Penal, vol. I, tomo II, p. 30:
“Todo ilícito é uma contradição à lei, uma rebelião contra a
norma, expressa na ofensa ou ameaça a um bem ou interesse
por ela tutelado. A importância social atribuída a esse bem ou
interesse jurídico é, em grande parte, o que determina a natureza da sanção civil ou penal. É uma questão de hierarquia
de valores” (Aníbal Bruno, Direito Penal, vol. I, p. 285).
Segundo Carl Binding, citado por Hungria (Compendio di Diritto Penale,
p. 13, 1939),
“o que caracteriza o crime e o distingue das demais infrações
é a natureza da pena abstratamente cominada. Se a sanção é
retributiva do mal causado à vítima, o ilícito é criminal. Se é
reparatória do dano efetivo, presumido ou potencial, o ilícito
é civil. Se preservatória da regularidade da administração, o
ilícito é administrativo. Se é restritiva de direito de cidadania,
o ilícito é político.”
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
71
Para Nelson Hungria,
“sob o ponto de vista histórico e político, que é o único
admissível nesta matéria, ou melhor, tendo-se em vista a formação através das leis ditadas pelo estado dos dois segmentos
jurídicos que se chamam Direito Civil e Direito Penal, pode-se concluir que ilícito penal é a violação da ordem jurídica
contra a qual, pela sua intensidade ou pela sua gravidade, a
única sanção adequada é a pena. E ilícito civil é a violação da
ordem jurídica para cuja debelação bastam as sanções atenuadas da indenização, da execução forçada, da restituição em
espécie, da breve prisão coercitiva, da anulação do ato, etc.”
(Comentários ao Código Penal, vol. I, tomo II, p. 35).
Em igual sentido, a lição de Francesco Antolisei (Manual de Derecho
Penal, Ed. Uteha, p. 130-131):
“La quiebra de las teorias enunciadas para distinguir el injusto civil y
el injusto penal conduce a la conclusión de que no existe una diferencia
sustancial entre ellos. La distinción tiene carácter extrínseco y legal. El
delito es um injusto sancionado con la pena; el ilícito civil es el injusto
que tiene por consecuencia las sanciones civiles (resarcimiento del daño,
restituciones, etcétera). En definitiva, solo atendiendo a la natureza
de la sanctio júris podemos establecer si nos encontramos em presencia
de uma u outra espécie de injusto.”
2.3.2) Ilícito penal e ilícito administrativo
Pela autoridade e precisão de ensinamentos, dê-se, novamente, a
palavra a Nelson Hungria:
72
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
“Tem sido igualmente em vão a tentativa de uma distinção
ontológica entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. A
separação entre um e outro também atende apenas a critérios de conveniência ou oportunidade, afeiçoados à variável
medida do interesse da sociedade e do Estado. Conforme
acentuava Beling, a única diferença que pode ser reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é de quantidade ou
de grau: está na maior ou menor intensidade lesiva de uma
em cotejo com a outra. O ilícito administrativo é um ‘minus’
em relação ao ilícito penal. Pretender justificar um descrime
pela diversidade qualitativa ou essencial entre ambos, será
persistir no que Kukula justamente chama de estéril especulação, idêntica à demonstração da ‘quadradura do círculo’”
(Comentários, p. 36, vol. 1, tomo II).
2.3.3) Crime de responsabilidade e infração
político-administrativa
Conforme acentuou com propriedade o consagrado Hely Lopes
Meirelles, em seu Direito Municipal Brasileiro (Ed. Revista dos Tribunais,
1964, em dois volumes), estamos, na verdade, diante de responsabilidade político-administrativa, que é a que resulta de violação de
deveres funcionais por parte de agentes políticos investidos nos altos
postos de governo, seja federal, estadual ou municipal. Essas infrações,
dizia o professor Meirelles, “impropriamente denominadas crimes de
responsabilidade, são punidas com a perda do cargo e a inabilitação
temporária para o desempenho de função pública, apuradas através
de um processo especial de natureza político-disciplinar e que universalmente é conhecido por impeachment”.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
73
Essa responsabilidade é distinta da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, não obstante poder existir ou coexistir com ambas as
responsabilidades. Os atos que ensejam essa responsabilidade político-administrativa nem sempre caracterizam o ilícito civil ou o ilícito penal,
pois, em grande parte das vezes, representam simples descumprimento
de preceitos governamentais impostos aos agentes políticos, como requisitos de uma boa e correta administração, ou, no dizer da Constituição,
de uma eficiente administração.
A infração político-administrativa, impropriamente denominada “crime de responsabilidade”, no texto constitucional e nas leis que se lhe
seguiram, não se confunde também com o chamado “crime funcional”,
embora possa derivar do mesmo fato delituoso.
Sem maior esforço, vê-se, desde logo, que os denominados “crimes
de responsabilidade” não são crimes em sentido próprio, uma vez
que não há uma pena em sentido criminal. Há uma punição, com a
perda do cargo e a inabilitação temporária para função pública.
Se, porém, junto com essa infração que acarreta a perda do cargo,
coexistir algum crime comum, crime propriamente dito, o presidente ficará na dependência de julgamento pelo Poder Judiciário por
intermédio do Supremo Tribunal Federal. Só, então, em caso de
condenação, poderá sofrer uma punição criminal.
2.3.4) Crime funcional e “crime de responsabilidade”
Crimes funcionais são aqueles fatos lesivos à administração pública,
quando praticados pelos próprios exercentes do cargo, do emprego
ou da função pública, definidos em lei.
Os delitos funcionais são denominados crimes pessoais ou próprios,
ou seja, são praticados por pessoa na condição de funcionário em
74
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
sentido genérico. São os que os práticos chamavam de delicta in officio,
isto é, delicta propria, eis que praticados pelos próprios participantes
da atividade administrativa do Estado.
Entre nós, infelizmente, conforme justa crítica de Tobias Barreto, os
delicta in officio passaram a receber o inadequado nome de “crimes de
responsabilidade”. Dizia Barreto que expressão “crime de responsabilidade” era frase pleonástica e insignificante e que deveria, com
vantagem, ser substituída por “crime funcional” ou “crime de função”
(Obras Completas, V, VI e VII, p. 109-112).
O inolvidável Nelson Hungria, em seus Comentários ao Código Penal,
vol. 9, menciona que a denominação “crime funcional” seria a mais
correta e obedeceria inclusive à tradição alemã, que serviu de subsídio
na elaboração de diversos pontos do Código Penal Brasileiro (veja-se a
exposição de motivos do ministro Francisco Campos).
Diga-se, aliás, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 556,
já menciona “processo de delitos comuns e processo de delitos funcionais”, reconhecendo expressamente a terminologia adequada para
explicitar tais tipos de infrações penais.
O professor José Frederico Marques, no seu livro Observações e apontamentos sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal, datado
de 1961, já observava que a expressão “crimes de responsabilidade”
entrara na Constituição sem exato conceito técnico ou científico e que
os ilícitos, em que ela se desdobra, não constituem ilícitos penais e, sim,
ilícitos administrativos, ou ilícitos políticos, sem embargo do nomen juris.
Por seu turno, Tito Costa, em seu livro Responsabilidade de prefeitos e
vereadores, Ed. Revista dos Tribunais, 1979, afirma que a expressão
“crimes de responsabilidade”, apesar de ser hoje usual e reconhecida
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
75
em seu termo de direito, revelava-se locução desprovida de sentido
técnico e verdadeira corruptela. Referia-se, na verdade, à responsabilidade criminal dos prefeitos, da qual a responsabilidade civil e mesmo
a político-administrativa podiam vir a ser consequência, não obstante
independentes umas das outras. Afirma, ainda, que foi a Carta Constitucional do Império, de 25/03/1824, que primeiro mencionou a
atribuição exclusiva ao Senado para conhecer da “responsabilidade”
dos secretários e conselheiros de Estado.
O ex-senador e ex-ministro do STF, Paulo Brossard de Souza Pinto,
em seu clássico e precioso trabalho, O Impeachment, Ed. Globo, 1965,
afirma que esta falha de lei básica que, reiteradamente, se refere
de modo equívoco a crimes de responsabilidade, ora no sentido
de infração política, ora na acepção de crime funcional, tem concorrido para a defectiva sistematização do instituto concernente à
responsabilidade presidencial (p. 59).
“Quando motiva o impeachment, por exemplo, caso em que
sem dúvida, a despeito do nomen juris que lhe dá o Código
Supremo e a Lei que lhe é complementar, o ilícito a ele
subjacente não é penal. Se o crime de responsabilidade
não é sancionado com pena criminal como delituoso, não
se pode qualificar o fato ilícito assim denominado, pois o
que distingue o crime dos demais atos ilícitos é, justamente,
a natureza da sanção abstratamente cominada” (Frederico
Marques, obra Citada, p. 45).
Reconheça-se que essa imprecisão conceitual, apesar das críticas levantadas, acabou arraigando-se no direito pátrio e foi colocada não só na
Constituição (desde a imperial), como também nas leis posteriores (veja-se minuciosa investigação de Paulo Brossard, p. 59-64, na obra citada),
76
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
e “para indicar, com esse conceito – ‘crime de responsabilidade’ – as
infrações político-administrativas que, cometidas por presidentes,
governadores, ministros ou prefeitos, ensejassem a perda do cargo
por meio do impeachment, bem como a inabilitação temporária para o
exercício de outra função pública”. É essa a mens legis, sem qualquer
dúvida a nosso ver; e, se não se der essa interpretação, estaremos
reconhecendo como procedentes as acerbas críticas levantadas pelo
ministro Sepúlveda Pertence, na introdução da jurisprudência temática
do STF, publicada em 1996.
Tito Costa, mesmo fazendo crítica ao conceito, acaba por reconhecer
que a expressão estaria incorporada ao direito nacional, ainda que
sem precisão técnica.
Hely Lopes Meirelles, talvez por ter sido o autor do Decreto-Lei no
201, já na nova edição refundida em um único volume (1977), do
clássico Direito Municipal Brasileiro, acaba por acatar, vergando-se às
contínuas e inadequadas repetições, como correta a expressão “crime
de responsabilidade” para significar “crime funcional especial”. O
ilustre professor menciona, na página 902, que existem crimes funcionais comuns e crimes funcionais especiais, reservando para estes
últimos a denominação de “crimes de responsabilidade”.
Raul Chaves, por seu turno, na tese de concurso na cadeira de Direito
Penal da Faculdade da Bahia, denominada “Crime de Responsabilidade”, afirma que “desde o aparecimento da expressão ‘crime de
responsabilidade’, no Código Criminal de 1830, essa locução viciosa
com foros de linguagem legislativa, ora aludindo àqueles delitos de
que são responsáveis ministros e secretários, ora designando certas
espécies de crimes comuns definidos no Código de 1830, ou seja,
delicta in officio, crimes de função, delicta propria dos que exercem funções
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
77
públicas, desde esse momento a locução nunca mais foi abandonada.
Repetiram-se as leis, os legisladores já citados; a ela recorrem escritores, e muitos passaram sem se aperceberem do vício que divulgavam.”
Paulo Brossard menciona, na página 64 da sua clássica obra, que “se aos
crimes de responsabilidade, enquanto relacionados a ilícitos políticos, se
reservasse à denominação de ‘infrações políticas’, por exemplo, melhor
se atenderia à natureza das coisas e se evitaria o escolho decorrente da
designação pelo mesmo nome, de realidades diversas”.
E é peremptório, ao afirmar que “entre nós, como no direito americano e argentino, o impeachment tem feição política, não se origina
senão de causas políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado
sob considerações de ordem política e julgado segundo critérios
políticos” (p. 75).
2.3.5) Consequências da imprecisão técnica
A falta de precisão técnica da expressão “crime de responsabilidade”
e a divergência de conceituação do instituto são notadas em nossos
melhores doutrinadores sobre a matéria. Isso tem levado os tribunais,
inclusive o Supremo Tribunal Federal, a decisões incongruentes e
incompatíveis.
Repita-se, pela inegável autoridade sobre a questão, que o senador
Paulo Brossard, em seu extraordinário O impeachment, usa taxativamente a expressão “crime de responsabilidade” no sentido de infração
político-administrativa.
Paulo Salvador Frontini, curador de Massas de São Paulo, em trabalho
premiado no Concurso Jurista Costa e Silva, no ano de 1976, patrocinado pela Associação Paulista do Ministério Público (Rev. Justitia, ano
78
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
XL, vol. 100, p. 137-175 ), faz uma simbiose e afirma que “no direito
brasileiro, o crime de responsabilidade é uma figura penal. Apresenta-se
como sucedâneo do impeachment, quando cuida da responsabilidade dos
agentes políticos a que alude a Constituição; reveste-se de índole de crime
especial, quando disciplina a responsabilidade de prefeitos municipais. E
é um crime comum – embora próprio – quando perpetrado por simples
funcionário público, nos casos que assim são considerados”.
Tito Costa (obra citada, p. 14) afirma: “Aceitemos, portanto, já que a
lei assim o faz, a expressão ‘crimes de responsabilidade’ como sendo,
no caso, delitos de natureza funcional, cometidos no exercício das
funções executivas do governo e/ou em decorrência desse exercício”.
Wolgran Junqueira Ferreira, em seu livro Responsabilidade dos prefeitos e
vereadores, Ed. José Bushatsky, 1978, faz a seguinte menção:
“Crime de responsabilidade. Divide o Código Penal os crimes em dolosos e culposos. O de responsabilidade é figura
fora do estatuto penal brasileiro. Contempla-o o direito
político. Segundo Manoel Gonçalves Filho, consiste na
conduta que se amolda a uma figura como tal descrita na
lei especial. Trata-se da apuração de infrações definidas pela
denominação de crimes de responsabilidade, apuradas em
processos político-administrativos” (p. 27-28 sic, sic).
III – Conclusões
Ao concluir o presente trabalho, apresentamos duas sugestões. A
primeira correspondente a potenciais alterações legislativas, a segunda
sobre critérios para adequadas interpretações jurídicas.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
79
1) Diante da análise aqui realizada, vê-se que há, na verdade, quase
uma uniformidade de pensamento dos abalizados doutrinadores que
trataram do assunto a respeito da inadequação do termo “crime de
responsabilidade”, inserido na Constituição Federal e nas leis que se
seguiram, isso porque crime de responsabilidade não diz coisa alguma. É “frase pleonástica e insignificante” e tem levado até mesmo o
Supremo Tribunal Federal a decisões incongruentes.
Na elaboração jurídico-doutrinária tradicional, há uma tendência doutrinária pronunciada a identificar, ainda que com algumas variantes, o
delito ou “crime como sendo a ação humana antijurídica, típica, culpável
e punível”. Essa conceituação, chamada de analítica ou dogmática, fez
emergir as três faces do ato punível, quais sejam: a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. Sem entrarmos na análise mais aprofundada
desses conceitos, particularmente no que seja a tipicidade ou antijuricidade, por fugirem ao estudo realizado, o fato é que a culpabilidade é
elemento integrante do delito. Diz-se que um autor é culpado se dotado
de imputabilidade, se conhecia ou podia conhecer a antijuricidade de sua
conduta e tinha condições de atuar de modo diverso. A imputabilidade,
que na nossa lei é confundida com responsabilidade, é a capacidade que
possui o homem de entender o caráter criminoso do fato e conduzir-se
de acordo com esse entendimento. Capacidade telectivolutiva, capacidade de culpabilidade da qual é mais um pressuposto do que um elemento.
Isso deflui do que está estipulado no art. 22 do Código Penal Brasileiro.
Assim, falar-se em “crime de responsabilidade” nada está a dizer,
pois todo crime pressupõe uma responsabilidade do agente. Se esse
agente ou autor não tinha responsabilidade, ou em outras palavras,
sem que ele seja culpado, sem que ele tenha imputabilidade, não se
pode falar em delito.
80
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
Dessa forma, a expressão “crime de responsabilidade”, por destituída de significado técnico-científico, deveria ser abolida tanto da
Constituição quanto das leis posteriores ou complementares. Ela
tem sido a responsável por enganos, interpretações divergentes e
contraditórias, e urge, consequentemente, o estabelecimento de uma
conceituação adequada e de correspondente conteúdo científico
com a infração que se pretende punir.
Assim, numa eventual reforma constitucional (já aventada para atenuar
a crise política hoje instaurada), talvez fosse aconselhável levar em consideração os ensinamentos dos doutos, para, aperfeiçoando-se o regime
presidencialista, afastar o ceticismo do ministro Sepúlveda, aprimorando-se o instituto do impeachment para servir de mecanismo democrático
capaz de solucionar as crises institucionais do presidencialismo.
2) Todavia, enquanto não se concretize essa potencial modificação legislativa, pensamos que a interpretação a ser dada pelo Senado Federal,
como órgão julgador primário do impeachment, deva observar as seguintes lições interpretativas. A interpretação do direito é comumente
apresentada ou descrita, afirma o ministro Eros Grau, como atividade
de mera compreensão do significado da norma jurídica. Interpretar
é identificar ou determinar (compreender) o significado de algo, no
caso, compreender o significado da norma jurídica. Observe-se que
não deve haver discricionariedade judicial, pois todo intérprete deveria
estar sempre vinculado aos textos normativos.
Todavia, na interpretação dos textos, dá-se algo análogo ao que se
passa numa interpretação musical.
Não há uma única interpretação correta da Sexta Sinfonia de Beethoven: a partitura é a mesma, mas a Pastoral regida por Toscanini,
com a Sinfônica de Milão, é diferente da Pastoral regida por Von
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
81
Karajan, com a Filarmônica de Berlim. Não obstante uma seja mais
romântica, mais derramada, a outra mais longilínea, as duas são autênticas e corretas (Eros Grau, “O novo velho tema da interpretação
do direito”, Rev. Jurídica de Seguros, 2014).
Todavia, não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. Um texto
de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não
expressa nenhum significado normativo.
A finalidade, na verdade, é a criadora de todo o direito, e não existe
norma ou instituto jurídico que não deva sua origem a uma finalidade.
A decisão judicial considera e é determinada, entre outros fatores,
pelas palavras da lei; pelos antecedentes judiciais; pela figura delituosa
que se imputa; pelas convicções do próprio juiz; pelas expectativas de
justiça nutridas pela consciência da sociedade.
O juiz (ou o julgador) decide sempre dentro de uma situação histórica
determinada, participando da consciência social de seu tempo, considerando o direito todo e não apenas um determinado texto normativo.
Por isso, sustenta-se que o direito é contemporâneo à realidade.
O instituto do impeachment, induvidosamente, há de ser interpretado
dentro desses conceitos e nesses parâmetros.
Ele foi instituído para, sem dúvida alguma, sancionar, no regime
presidencialista, o agente público que tenha praticado uma infração
“político-administrativa”. Não requer a prática de um “crime” ou um
ato individual subjetivo taxado na lei.
Reafirme-se, com Hely Lopes Meireles (Ed. Rev. Tribunais, 1964)
que estamos, na verdade, diante de responsabilidade político-administrativa, “que é a que resulta de violação de deveres funcionais por
82
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
parte de agentes políticos investidos nos altos postos de governo,
seja federal, estadual ou municipal”.
Essas infrações, impropriamente denominadas “crimes de responsabilidade”, são punidas com a perda do cargo e a inabilitação temporária
para o desempenho de função pública, apuradas através de um processo especial de natureza político-administrativo-disciplinar, ao qual
se dá o nome de impeachment. E a decisão do Senado é incontrastável,
irrecorrível, irreversível, irrevogável, definitiva, só cabendo recurso
ao Supremo por ilegalidades ou vícios de procedimento (vejam-se os
Mandados de Segurança no 21.564 e no 20.941, do STF).
Observe-se, mais uma vez, que a infração político-administrativa
impropriamente denominada, no texto constitucional e nas leis
que se lhe seguiram, “crimes de responsabilidade” não se confunde
também com o chamado crime funcional, embora possa derivar do
mesmo fato delituoso.
Registre-se, nessa linha de entendimento, que a Constituição, em seu
art. 37, estabeleceu parâmetros para as expectativas de justiça da sociedade, determinando que a administração pública brasileira, seja direta
ou indireta, em todos os níveis e em quaisquer dos poderes, obedeça
aos princípios de “legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, além de outros regramentos explicitados nos incisos I a
XXII do referido artigo”.
Ora:
I) A “mentira” desde o caso do presidente Bill Clinton (1993/2001),
sempre foi considerada uma imoralidade, e, por pouco – mínima maioria –, o presidente americano não sofreu o impeachment; e a nossa presidente mentiu seguidamente sobre questões relevantes da administração.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
83
II) O descumprimento de regras orçamentárias – as chamadas “pedaladas” – é uma manifestação evidente de violação do princípio da legalidade.
III) A omissão, a negligência, a imprudência e a imperícia, corriqueiras
na administração direta e indireta, agridem o princípio da eficiência.
IV) A improbidade administrativa que grassa nos diversos setores e
órgãos da administração, como aflorado em ações judiciais, violenta
os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência.
V) A falta de autoridade e de credibilidade da presidente afeta a eficiência da administração.
VI) O desatino administrativo em segurar, artificialmente, os preços dos combustíveis e da eletricidade com objetivos eleitorais é
ato temerário a violar todas as regras de uma gestão administrativa
eficiente, ferindo direitos políticos individuais e sociais; isso é um
caso de evidente improbidade.
VII) Os artifícios contábeis; aumento descontrolado dos gastos
públicos, ultrapassando a receita; a criação injustificada de órgãos e
ministérios apenas por critérios políticos; o número despropositado de cargos de confiança, para satisfazer correntes partidárias; as
nomeações de servidores tão somente por interesses ou “achegos”
políticos; o desdobramento de sindicatos sem qualquer critério técnico
e apenas para atendimentos políticos, etc.
VIII) A imoralidade que, como afirma o ministro Célio Borja, grassa
em setores da administração pública, como na Petrobras, Eletrobras,
Correios, Sistema Nuclear, etc., são “fatos” que justificam o impeachment.
IX) Na verdade, todo ato que revela a incapacidade do agente para
a função pública indica ou recomenda o seu afastamento do cargo.
84
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
Todos esses exemplos evidenciam manifestas infrações político-administrativas que, espera-se, sejam reconhecidas pelo Senado Federal,
nos termos do art. 85 da Constituição Federal, após a acusação ter sido
admitida por dois terços da Câmara dos Deputados (513 deputados).
Para ocorrer o impeachment, não há a necessidade de se caracterizar
um ato jurídico específico ou “crime” individual.
Dentro desses parâmetros interpretativos, data venia, fica afastada a
sustentação do ínclito ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no
sentido de que “não há base jurídica para o impeachment da presidente
Dilma” (entrevista dada à jornalista Miriam Leitão, em 6/11/2015).
Com todo respeito às opiniões em contrário, temos de admitir que
existem inúmeros “fatos jurídicos” e políticos para embasar o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Palestra pronunciada em 24 de novembro de 2015
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 52-85, dez. 2015
85
Síntese da Conjuntura
Conjuntura econômica
Ernane Galvêas
Ex-Ministro da Fazenda.
A conjuntura político-econômica
O
ano de 2015 foi um desastre, tanto do ponto de vista econômico,
quanto do político. A economia afundou com a queda de 3,6%
do PIB, por razões diversas, inclusive pelo desentrosamento político e
os desacertos nas relações do Executivo com o Congresso Nacional.
A crise tomou um vulto impressionante, que abrange praticamente
todos os seguimentos da Federação. Municípios e Estados estão sem
liquidez, atrasando os compromissos com o funcionalismo, a saúde
e a educação. Ainda por cima, ocorreram duas calamidades imprevistas: o derrame da lama de minério da Samarco, em Minas Gerais,
e a epidemia do zika vírus, de proporções alarmantes.
A crise fiscal chega ao ponto extremo de não ter o governo um
mínimo de recursos para amortizar a dívida pública. Ao que indica,
em 2016, como em 2015, o déficit nominal atingirá cerca de R$ 500
86
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
bilhões, elevando a dívida a cerca de R$ 4 trilhões em 2015 (66% do
PIB), com previsão mais catastrófica ainda em 2016.
Não há consciência política para adoção das providências mínimas
para iniciar o processo de ajuste fiscal. O quadro mais competente do
governo, o ministro da Fazenda Joaquim Levy foi incompreendido
e levianamente sacrificado.
A nova administração fazendária que começa com Nelson Barbosa
vai, possivelmente, enfrentar as mesmas dificuldades. Mas o novo
ministro é experiente, dedicado e desfruta de maior confiança dos
políticos. Tem condições para equacionar os problemas mais agudos,
mas não certamente para solucioná-los.
Remédio para a crise econômica
Não é preciso ser doutor em economia para saber que em situação
de recessão não deve haver inflação, pois não há excesso de consumo
ou de investimento. Mas pode haver um caso atípico de estagflação,
como já tem ocorrido, em que existe inflação mesmo com queda
das atividades econômicas. A estagflação é uma tragédia econômica.
Os inúmeros erros da política econômica nos últimos anos culminaram com a forte queda de 3,5% do PIB nacional em 2015, ao lado de
uma persistente inflação anual de cerca de 10%. Uma típica situação
de estagflação. Como sair desse “buraco”?
A nosso ver, um primeiro passo – o mais fácil – teria que ser na direção da redução dos juros, a começar por uma queda da taxa Selic
dos 14,25% atuais para algo em torno de 10% ou 12%. Essa decisão
poderia produzir três efeitos imediatos e positivos: 1) aliviaria o
déficit fiscal do governo, criando oportunidades para investimentos
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
87
em infraestrutura; 2) baixaria os custos da produção privada, com
aumento do emprego da mão de obra e melhoria da competitividade
das exportações brasileiras; e 3) reduziria os ganhos em títulos públicos dos investidores estrangeiros, que sairiam do país pressionando
a desvalorização da taxa de câmbio.
Em paralelo, a redução dos juros melhoraria a percepção de risco
dos investidores, reduziria o nível de incertezas e favoreceria o curso
das atividades econômicas.
Em sentido contrário – e inexplicável – alguns diretores do Banco
Central insistem na esdrúxula proposta de seguir elevando a Selic.
Círculo vicioso
O governo, abrangendo toda a Federação – União, Estados e Municípios – vem praticando, de longa data, uma política suicida, que chegou,
nos dias atuais, a um impressionante e insustentável desequilíbrio
fiscal, expresso em colossal endividamento. O déficit primário do
governo, inclusive as “pedaladas”, está estimado em R$ 119 bilhões
em 2015. Acrescido dos altos juros Selic que pesam sobre a dívida,
chegamos a um nível insustentável da dívida pública de cerca de R$ 4
trilhões, 70% do PIB.
Para enfrentar essa calamidade fiscal, o governo está planejando economizar 0,7% do PIB (R$ 48 bilhões) na execução orçamentária de
2016, com o que acredita-se que a dívida pública vai caminhando para
80% do PIB. As medidas de ajuste até aqui propostas ao Congresso
Nacional não encontram respostas. Pelo contrário, a programação do
ajuste fiscal – de Joaquim Levy – vem sendo desdenhada pelo meio
político, criando-se uma situação de incertezas e insegurança jurídica
88
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
que agrava a precária situação econômica. Está criado, assim, um incontornável círculo vicioso, em que a política pressiona negativamente
a economia e vice-versa, sem que se possa visualizar o fim da crise.
Os três mosqueteiros
Em meio à enorme confusão e sério desentendimento entre o Legislativo e o Executivo, responsável pela atual crise política e parlamentar,
a pior crise econômica dos últimos 25 anos, é importante registrar a
opinião dos três timoneiros da política econômica da presidente Dilma.
Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, “a fase mais
crítica da recessão está passando” e temos que ter as bases para um
novo ciclo de crescimento. Nos três últimos meses do ano, a economia deverá se estabilizar. Os primeiros sinais de vida vieram da
recuperação do saldo comercial. A segunda etapa será a expansão
dos investimentos (Valor – 2/9/15).
Um pouco mais modesto, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz
que o momento é de volatilidade, mas os danos não serão permanentes, pois o governo brasileiro tem implementado medidas que estão
consertando erros passados e promovendo uma reforma estrutural.
O Brasil está preparado para enfrentar a onda de mau humor nos
mercados globais (referindo-se à China). Se este caminho for mantido, o Brasil será vencedor neste mundo em transformação e voltará
a crescer. Estamos preparados, estamos ajustando a economia para
uma nova realidade (O Globo – 25/8/15).
Na contramão dos acontecimentos, encontra-se o presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, e alguns de seus diretores, que
obsessivamente, insistem na elevação dos juros (Selic) em 2016.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
89
Segundo um de seus diretores, faz-se necessário uma “ação contundente e tempestiva contra a inflação”. Decididamente, essa não nos
parece a melhor alternativa, pelos estragos que irá causar no difícil e
desequilibrado quadro fiscal.
Troca da guarda
Efetivou-se, neste final de dezembro, a demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a nomeação de Nelson Barbosa, que deixa o
Ministério do Planejamento para assumir a Fazenda. Sai o ortodoxo
e entra o desenvolvimentista. Em verdade, essa troca da guarda já
havia sido processada três meses antes, quando a presidente Dilma
enviou ao Congresso Nacional a proposta de Orçamento para 2016,
com um déficit de R$ 30,5 bilhões.
Joaquim Levy “engoliu esse sapo” e passou a defender um pífio superávit primário de 0,7%, equivalente a R$ 43 bilhões, como ponto
de partida para pagar um mínimo dos juros de R$ 500 bilhões e, em
algum tempo, alcançar um equilíbrio fiscal capaz de evitar o desastre
de uma dívida pública incontrolável.
Gastando sistematicamente mais do que arrecada, o governo vai fechar
o ano de 2015 com mais um déficit nominal de R$ 550 bilhões, decorrente do ônus de cerca de R$ 500 bilhões dos juros sobre a dívida, que
caminha para cerca de impagáveis R$ 4 trilhões (70% do PIB).
O heroísmo de Joaquim Levy em pretender derrubar essa montanha
com seus 0,7% do PIB, evidentemente não sonhava em promover o
equilíbrio fiscal, mas, ao que tudo indica, frear a insensata proposta
de superar essas dificuldades com a ampliação dos gastos para a
retomada do crescimento econômico.
90
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
A nosso ver, o sentido da troca de Levy por Barbosa é esse: Levy
desejava antes o equilíbrio fiscal para chegar depois ao sonhado crescimento econômico; Barbosa afirmou que o foco de sua gestão será
também o ajuste fiscal, mas é bem possível que os políticos queiram
inverter o jogo e pretender chegar ao equilíbrio fiscal através da manutenção e até ampliação dos gastos públicos.
De todos os modos, foi lamentável a saída de Levy, embora reconhecendo que ele nunca teve o necessário apoio político para realizar sua
missão. Fora condenado desde o primeiro momento de sua nomeação.
Está aberta a nova temporada em busca da reparação dos erros do
passado. Oxalá não se trate de corrigir esses erros com novos erros.
Vamos dar um voto de confiança a Nelson Barbosa.
Diga-se, a bem da verdade, que na atual conjuntura de recessão e de
crise, discutir se o superávit primário deve ser de 0,7% ou 0,5% é
pura perda de tempo. Uma piada.
A pedra no sapato da política fiscal é o Banco Central e sua obsessão
com taxas de juros altas. Se Barbosa não convencer o Tombini, o
déficit fiscal só tende a agravar.
Sinais positivos: a administração Nelson Barbosa vai se beneficiar
dos muitos projetos que estão sendo lançados no setor hidrelétrico,
nas concessões portuárias, estradas de rodagens e ferrovias. A Usina
de Belo Monte, com 11.233 MW, entra em operação em fevereiro. A
partir daí, a execução do programa fiscal continuará na dependência
do comportamento errático do Congresso Nacional. E então, Barbosa
terá que ser tão ortodoxo quanto Levy.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
91
Atividades econômicas
A crise política e econômica vai entrar de férias em janeiro, mas não
vai sair de dentro de nossas casas. Redução das atividades econômicas,
desemprego e inflação vão continuar convivendo com o clima de incertezas e a crise de confiança que afastam os investidores nacionais
e estrangeiros. O ano 2015 foi desastroso e 2016 não promete ser
muito diferente. E até pior.
Enquanto durarem as discussões sobre a cassação de Eduardo Cunha
e o impeachment da presidente Dilma, vai ser difícil o entendimento
entre o Executivo e o Legislativo. Sobrepaira essa conjuntura, a
atuação do Judiciário, na escalada dos inquéritos policiais e prisão
dos responsáveis pela onda de corrupção na administração pública.
O Brasil passa por uma fase de desagregação e desmoralização que
ninguém sabe quando irá terminar. Importante teste vão ser as eleições municipais, em outubro do próximo ano. A escolha de novos
políticos, não comprometidos com a “sujeira” atual, pode representar
uma reversão no sentido da moralização.
Indústria
A produção industrial até outubro registrou queda de 7,8%, em
12 das 15 regiões investigadas; em outubro, ante outubro/2014,
encolheu 11,7%.
A Petrobras, líder das indústrias brasileiras, está atravessando uma
séria conjuntura, com forte redução de seus planos de investimentos
e acentuada queda de valor no mercado, arrastando muitas outras
grandes empresas da construção civil e do setor naval. A produção da
92
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
empresa, no Brasil e no exterior, ficou em 2,71 milhões de b/d, 1,8%
inferior à de outubro. A queda dos preços internacionais do petróleo
está pondo em risco a viabilidade de novos investimentos no Pré-Sal.
Outro setor em dificuldades é o da construção civil, com queda de
8% da produção em 2015 (Sinduscon) e o da siderurgia, com destaque para a CSN, que vai reduzir a produção em 30% e demitir 3
mil empregados.
Comércio
Segundo a Serasa, o comércio varejista teve o pior Natal em 12 anos.
Para o ano de 2015, a CNC estima uma queda de 4,1% e para 2016,
queda de 3,7%. Para o varejo ampliado, quedas de 7,5% e 5,8%,
respectivamente. Os shoppings centers registraram quedas de 3,8% no
ano, com destaque de -5,8% em vestuários e -2% para produtos eletrônicos (Alshop). Os supermercados tiveram queda real de 7,13%,
em novembro, acumulando no ano -1,6%.
Em outubro, as vendas do varejo tiveram uma ligeira alta de 0,6%,
em relação a setembro, puxado por alimentos e bebidas, mas caíram
5,6% em relação a outubro/2014. O setor serviços teve retração de
5,8% em outubro (IBGE/CNC).
O nível de famílias endividadas superou 61%, sendo de 23,2% o percentual com contas em atraso. A intenção de consumo (ICF) ficou
estável em dezembro, depois de dez quedas consecutivas e o índice
de confiança (ICC) teve queda de 22,8%.
A Walmart pretende fechar 30 lojas no Brasil.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
93
Agricultura
A produção de soja em grãos chegou a 53 mil toneladas em 2015 e
promete chegar a 53,8 mil em 2016. Mas as chuvas irregulares atrasam
o plantio nos estados do Matopiba.
Em dezembro, caíram as cotações internacionais do café, do cacau,
do algodão e da soja, mas nas duas últimas semanas houve ligeira alta
em todas essas commodities.
Sobe a 38 o número de municípios do Rio Grande do Sul e a 20
no Mato Grosso do Sul, atingidos pela chuva, o que certamente vai
prejudicar parcialmente a produção agrícola.
Mercado de Trabalho
Segundo o Caged/MTE, em novembro foram fechados 130.629 vagas, acumulando no ano saldo negativo de 1.527.463 postos (-3,66%).
O comércio foi o único setor que abriu emprego em novembro
(+52.592). A indústria paulista desempregou 180 mil. No setor serviços, houve queda de 3,1%. Segundo o Dieese, o desemprego na
região metropolitana de São Paulo teve ligeira queda.
O salário-mínimo subiu para R$ 880,00 (+11,6%) e deverá representar
um aumento de R$ 51,5 bilhões na renda dos trabalhadores.
O setor naval cortou 14 mil vagas em 2015. Em consequência da crise
na mineração, a Anglo-Americana vai demitir 85 mil trabalhadores,
no mundo.
94
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
Setor Financeiro
A expansão do crédito em novembro foi de apenas 0,2%, acumulando,
em 12 meses, alta de 7,4% (abaixo da inflação). A expansão com recursos livres nos bancos privados foi de 4,1% e com recursos direcionados
dos bancos públicos chegou a 11,2%. O crédito para agropecuária subiu
11,3%, indústria +5,9%, comércio -0,2% e serviços +7,3%.
A inadimplência no mercado financeiro subiu de 5,0% em outubro
para 5,2% em novembro. A devolução de cheques sem fundos, em
novembro, foi de 2,61%, ante 2,2% em outubro.
Diante da crise, o Banco Central reduziu os depósitos compulsórios
dos bancos de pequeno porte e está remanejando recursos do compulsório sobre as cadernetas de poupança para financiamento de
obras de infraestrutura (?).
Inflação
Segundo o Relatório de Inflação do Banco Central, a inflação do
IPCA deverá fechar o ano em 10,8%. A prévia do IPCA-15 registrou
alta de 1,18% em dezembro e 10,7% no ano. O IGP-M/FGV subiu
0,49% em dezembro, ante 1,52% em novembro, acumulando avanço
anual de 10,54%.
O fator preponderante na inflação de 2015 foi a alta de preços dos
alimentos. Os custos da educação subiram 9,5% com expectativa de
alta de 12% em 2016. O fenômeno El Niño deverá produzir aumento
dos preços agrícolas. Em novembro, o preço da batata inglesa subiu
67% no atacado e o grupo hortaliças e verduras 21,6%. No geral, os
alimentos in natura subiram 14,8% no atacado.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
95
Setor Público
O mês de novembro fechou com déficit nominal de R$ 43,1 bilhões,
resultado do déficit primário de R$ 19,6 bilhões e juros de R$ 23,5
bilhões. No acumulado de 12 meses, temos, respectivamente, R$ 52,4
bilhões, R$ 496,6 bilhões, chegando ao déficit nominal de R$ 549,3
bilhões (!?). Caso o governo venha a quitar o déficit das pedaladas
de R$ 57 bilhões, o déficit primário vai chegar a R$ 120 bilhões.
A dívida bruta subiu a R$ 3,845 bilhões (65,1% do PIB), com acréscimo de R$ 592,3 bilhões ante dezembro/2014. Incrível.
A revisão da meta fiscal para R$ 30,5 bilhões ou 0,5% do PIB, no
Orçamento de 2016, foi aprovada pelo Congresso Nacional.
O governo está procurando acelerar as obras de infraestrutura e, para
tanto, aceitará a taxa de retorno de 9,83 nos novos investimentos.
Triste notícia: o governo fecha 2015 com avanço praticamente nulo na
área de logística. De todas as concessões de rodovias, portos e aeroportos previstas, apenas uma, no Porto de Santos, foi implementada.
Setor Externo
A balança comercial brasileira obteve superávit de US$ 2,0 bilhões na
quarta semana de dezembro, acumulando no ano US$ 188,9 de exportações e US$ 170,2 de importações. De janeiro a novembro, o saldo
negativo de Transações Correntes ficou em US$ 56,4 bilhões, pouco
mais da metade do resultado em 2014. O peso da remessa de rendas
ficou em US$ 35,9 bilhões, sendo US$ 19,4 bilhões de juros e US$
16,8 bilhões de lucros e dividendos, de serviços em US$ 34,5 bilhões,
inclusive US$ 10,9 bilhões de viagens, US$ 5,5 bilhões de transportes e
96
C a r t a Men sa l • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
US$ 19,4 bilhões de royalties. Na conta financeira registrou-se o ingresso
de US$ 54,3 bilhões, pouco mais da metade de 2014.
No cenário internacional, registra-se crescimento quase nulo do comércio global e queda nos preços das matérias-primas.
Nos Estados Unidos, o PIB cresceu 2% no terceiro trimestre. Aguarda-se o impacto na área financeira mundial, a partir da elevação dos
juros entre 0,25% e 0,50%.
Na Europa, vive-se o drama social das migrações de refugiados, que
pode chegar a um milhão. Em 2015, foram cerca de 890 mil. A economia italiana estima crescimento de 0,8% no ano. A União Europeia
está revelando menor interesse no acordo com o Mercosul.
Na China, espera-se um crescimento de 6,8% em 2016.
Carta Mensal • Rio de Janeiro, n. 729, p. 86-97, dez. 2015
97
Saudade
Amaury Temporal
Membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
desde 1991 até 2015
Um dos aspectos mais destacados da personalidade de Amaury Temporal era sua capacidade de agregação, desde os tempos do Colégio
Santo Antonio Maria Zacarias, desenvolvido mais tarde no convívio
da família e nas relações de seus inúmeros amigos, que conquistava
com enorme facilidade e simpatia.
Grande conversador, nos cafés da manhã e almoços regulares, Amaury
abordava com conhecimento e elegância os temas mais destacados
de sua cultura, que iam dos escritos de Shakespeare até Millôr Fernandes, de Aristóteles e Platão até os filósofos modernos, além da
música, com preferência para Haydn, que o acompanhava no radinho
de pilha, nas caminhadas matinais pelas praias de Ipanema e Leblon.
Lugar central de sua vida foi ocupado pelos charutos, pelos bons
vinhos e pela boa mesa. Era em torno dela que, generosamente,
recebia os amigos. Cozinheiro criativo, tinha um especial nez du vin,
atributo este que lhe permitiu certa vez em Tóquio reconhecer em
um blind test a região de procedência e a década em que havia sido
produzido um grande Bordeaux.
Presidiu a Associação Comercial do Brasil e por 20 anos dirigiu o
Centro Internacional de Negócios da Firjan. Fez mais de 400 palestras
no Brasil e no exterior e publicou mais de 700 artigos e papers. Entre
seus livros destacam-se Liberdade Sempre, coletânea de artigos políticos,
e três sobre uma de suas paixões, o vinho: De vinhos e rosas, Bom tempo
na França e Como um rei na França. Suas inúmeras condecorações – da
Ordem do Rio Branco, da Ordem do Mérito de Portugal, da Ordem
do Império Britânico e a da Ordre National de Mérite da França –
retratam a vida pública desse homem dedicado em toda a sua vida a
agregar espíritos e nações.
2 0 14-2 0 1 8
Presidente
Antonio Oliveira Santos
Vice-Presidente Administrativo
Darci Piana
Diretores-Secretários
2o Bruno Breithaupt
3o Wilton Malta de Almeida
Vice-Presidentes
1o Josias Silva de Albuquerque
2o José Evaristo dos Santos
3o Laércio José de Oliveira
Abram Abe Szajman
Adelmir Araújo Santana
Carlos de Souza Andrade
José Marconi Medeiros de Souza
José Roberto Tadros
Lázaro Luiz Gonzaga
Luiz Carlos Bohn
Luiz Gastão Bittencourt da Silva
Vice-Presidente Financeiro
Luiz Gil Siuffo Pereira
Diretores Tesoureiros
2o Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues
3o José Lino Sepulcri
Diretores
Itelvino Pisoni
José Arteiro da Silva
Leandro Domingos Teixeira Pinto
Marcelo Fernandes de Queiroz
Paulo Sérgio Ribeiro
Pedro José Maria Fernandes Wähmann
Raniery Araújo Coelho
Sebastião de Oliveira Campos
Diretores
Aldo Carlos de Moura Gonçalves
Alexandre Sampaio de Abreu
Antonio Airton Oliveira Dias
Carlos Fernando Amaral
Daniel Mansano
Edison Ferreira de Araújo
Eliezir Viterbino da Silva
Euclydes Carli
Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante
Conselho Fiscal
Domingos Tavares de Souza
José Aparecido da Costa Freire
Valdemir Alves do Nascimento
Suplentes da Diretoria
Abel Gomes da Rocha Filho
Aderson Santos da Frota
Alex de Oliveira da Costa
André Luiz Roncatto
Antonio Lopes da Trindade
Ari Faria Bittencourt
Armando Vergílio dos Santos Junior
Carlos Marx Tonini
Célio Spagnoli
Diocesmar Felipe de Faria
Edgar Segato Neto
Expedito Edilson Mota Borges
Fernando Flávio Madruga de Oliveira Lima
Francisco Maia Farias
Hugo de Carvalho
Isabel Cristina Vidal Ineu
Ivo Dall'acqua Júnior
Jeferson Furlan Nazario
João Elvécio Faé
José Gilton Pereira Lima
José Marcos de Andrade
Ladislao Pedroso Monte
Liliana Ribas Tavarnaro
Lúcio Emílio de Faria Júnior
Luso Soares da Costa
Manoel Jorge Vieira Colares
Marcio Olívio Fernandes da Costa
Miguel Setembrino Emery de Carvalho
Mitri Moufarrege
Paulo Miranda Soares
Rubens Torres Medrano
Rudi Marcos Maggioni
Valdir Pietrobon
Zildo de Marchi
Suplentes do Conselho Fiscal
Ademir dos Santos
Marcelino Ramos Araújo
Odair de Jesus Conceição
Eletricidade no Brasil
Olga Côrtes Rabelo Leão Simbalista
Dezembro 2015
Zonas de comércio,
zonas monetárias e o caso da Grécia:
lições da teoria econômica
Rubem de Freitas Novaes
Considerações sobre o impeachment
Marcus Faver
Número 729
Síntese da Conjuntura
Conjuntura econômica
Ernane Galvêas
Dezembro
2015
729