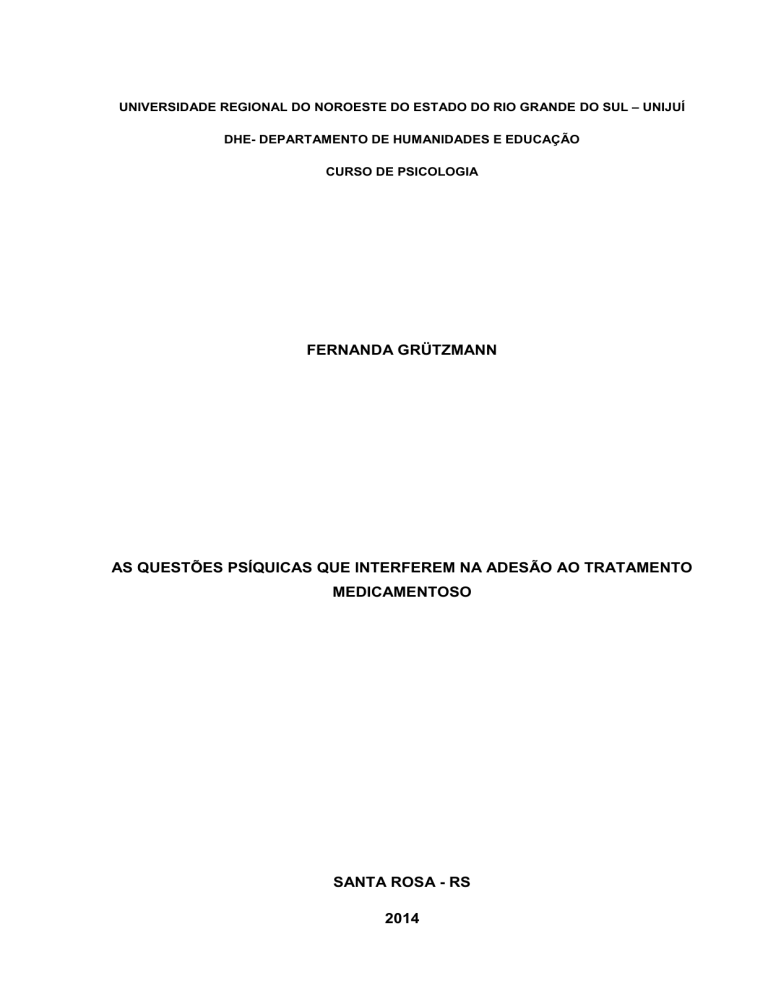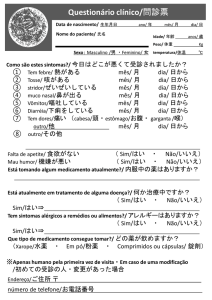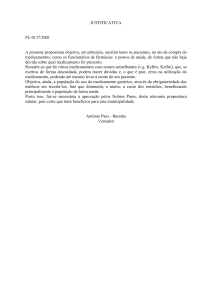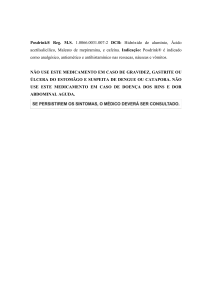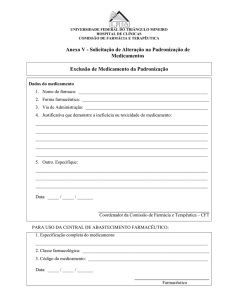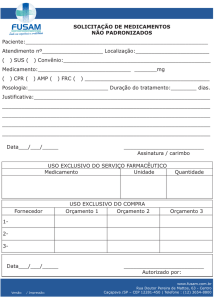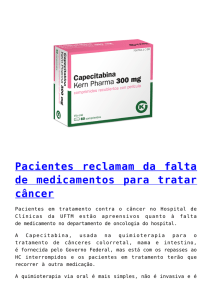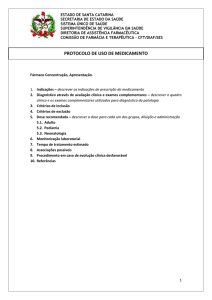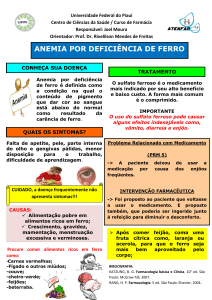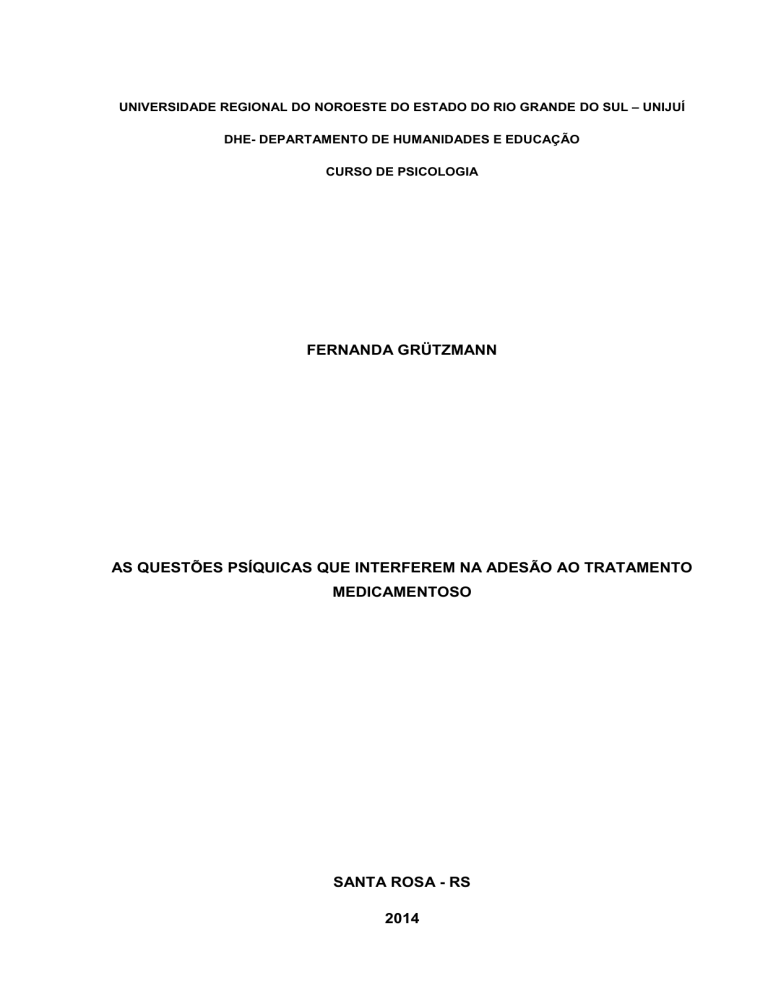
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ
DHE- DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E EDUCAÇÃO
CURSO DE PSICOLOGIA
FERNANDA GRÜTZMANN
AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO
SANTA ROSA - RS
2014
FERNANDA GRUTZMANN
AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO
Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao
curso
de
Universidade
Psicologia
Regional
do
da
UNIJUI –
Noroeste
do
Estado do Rio Grande do Sul, como requisito
para obtenção do título de Psicólogo.
ORIENTADORA: ANA MARIA DE SOUZA DIAS
SANTA ROSA – RS
2014
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ
DHE- DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E EDUCAÇÃO
CURSO DE PSICOLOGIA
Autor: FERNANDA GRÜTZMANN
AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO
Banca examinadora:
_____________________________________________________
AGRADECIMENTOS
Agradeço a todos que de alguma forma fizeram parte deste percurso, desde
meus amigos e familiares que me incentivaram e aturaram meus dias de mau
humor, aos colegas com os quais tive a oportunidade de trilhar este caminho
dividindo o mesmo sonho e aos professores, os quais me transmitiram seus
conhecimentos e me instigaram a construir o hábito de buscar respostas procurando
o aprimoramento enquanto aluna e posteriormente enquanto profissional.
Porém não poderia deixar de agradecer em especial minha mãe, a pessoa
que me proporcionou estar aqui neste momento, que através de seu cuidado, seu
carinho, atenção e compreensão proporcionou constituir-me o que sou hoje. Com
quem posso contar em todos os momentos, quem realmente me ajudou a
transformar um sonho em uma conquista. “A culpa é da mãe”.
RESUMO
Este trabalho é reflexo das indagações que surgiram durante o percurso acadêmico
e tem por objetivo investigar as questões psíquicas que interferem na adesão ao
tratamento medicamentoso. Nesta direção, a pergunta que norteia este trabalho é: o
que faz com que um sujeito não consiga seguir a prescrição medica, mesmo tendo
noção das consequências que o abandono ou a má administração do medicamento
pode causar em seu corpo? Para atingir este propósito, em um primeiro momento,
será construída uma abordagem teórica da constituição do corpo, segundo a teoria
psicanalítica, na busca de entender este corpo como um mediador entre o mundo
interno e externo. Em um segundo momento objetivar-se-á uma reflexão em relação
ao uso e à função do medicamento para poder abordar no terceiro capitulo as
questões que impedem o sujeito a aderir ao medicamento, mesmo quando este se
faz necessário.
PALAVRAS-CHAVES: Corpo; Medicamento; Adesão ao tratamento.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................6
1. REFLETINDO ACERCA DA CONCEPÇÃO DE CORPO .................................................8
1.1. O corpo no discurso ...........................................................................................8
1.2. A primeira apreensão de corpo .......................................................................11
1.3. Corpo entendido R.S.I. ......................................................................................16
2. UMA REFLEXÃO SOBRE O MEDICAMENTO E SUA UTILIZAÇÃO..............................19
2.1. Sobre o uso do medicamento .........................................................................19
2.2. O que é e para que serve...................................................................................21
2.3. Medicamento e cultura .....................................................................................22
2.4. O aspecto simbólico do medicamento ...........................................................25
3. DOENÇA E ADOECIMENTO E AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA
ADESÃO AO TRATAMENTO ...............................................................................................27
3.1. Doença e adoecimento .....................................................................................27
3.2. As questões psíquicas da adesão ao medicamento .....................................31
CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................................36
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................................38
INTRODUÇÃO
Quando nos deparamos frente a um organismo acometido por alguma
doença, o que vemos está para além de um organismo puramente fisiológico, uma
vez que, este encontra-se como um mediador, um representante do sujeito. Assim
como o sujeito fala do corpo, o corpo fala sobre um sujeito. Desta forma, ao observar
a influência das questões psíquicas sobre o corpo onde a doença se instala,
consequentemente visualizamos a influência psíquica sobre a própria doença, se
não em sua origem (na sua construção), pelo menos na forma como esta é alojada
no organismo.
Se em determinados casos a doença registrada é entendida como corpo
estranho sobre aquela carne, em outras, a encontramos como uma representação
naquele corpo. E a que devemos estas diferentes acomodações da doença se não a
uma construção subjetiva?
Neste sentido, as ciências, em geral, reconhecem a influência da
subjetividade sobre as doenças, nem a medicina que é reconhecida pela
objetividade em trabalhar as questões da doença pelo viés do orgânico, se exime de
afirmar a existência de um fator subjetivo. A questão aqui é o que fazer com isso? Já
que, ao tentar simplesmente juntar os dois fatores, corremos o risco de banalizar a
concepção da complexidade que é a construção e organização do ser humano e, ao
separar, construímos lacunas que nada somam para uma prática eficaz.
Através deste processo reflexivo fica evidente que para alcançarmos
respostas para nossa busca, se faz necessário neste momento entendermos a
concepção do corpo, e para tanto nos utilizaremos da teoria psicanalítica como base
nesta construção. Entender como este corpo é banhado pela subjetividade é o
desafio proposto para o primeiro capítulo deste trabalho. Ou seja, como o filhote do
homem é inserido dentro de um laço simbólico, que constrói um lugar para aquele
corpinho dentro de um contexto familiar que está organizado em determinada
sociedade, dentro de uma cultura que, através de seus ideais, crenças, e costumes,
compõem uma cadeia de significantes.
7
No segundo capítulo o que estará em movimento será uma série de
reflexões em relação ao medicamento. Aqui busca-se esclarecer o que entende-se
por medicamento, para que serve e como este é concebido na cultura visualizando o
caráter de signo que adquire atualmente, deixando de carregar apenas o significado,
para somar todas as significações a ele atribuídas.
A ideia central deste capítulo procura apresentar uma leitura sobre o todo
que se apresenta em torno do medicamento, lhe atribuindo significações que não se
restringem ao seu potencial e a suas limitações. Desta forma, proporcionando-nos
situar-se em relação a este, propiciando a construção de uma base sólida na qual se
torne viável posteriormente o levantamento de hipóteses acerca da adesão ao
tratamento que utilize como meio de atingir determinado objetivo, o medicamento.
No terceiro capítulo após ter acessado através da psicanálise o conceito de
corpo, e como se dá a constituição deste, contamos com uma base para agora
investir no tema central, ou seja, com as questões acerca da doença que encontra
através do corpo sua visibilidade, compreendendo o adoecimento enquanto
processo necessário a esta travessia, onde entrará a necessidade de aderir ao
tratamento medicamentoso como meio viável ao combate ou a estabilização de um
quadro patológico. Assim, caberá ao terceiro capítulo, apontar algumas das
questões psíquicas que interferem na adesão ao tratamento medicamentoso,
organizando-as de forma que o presente trabalho possa contribuir nas discussões já
existentes nesta área.
8
1. REFLETINDO ACERCA DA CONCEPÇÃO DE CORPO
1.1 O corpo no discurso
A questão na qual iremos nos ater neste capítulo refere-se à concepção de
corpo. O que entendemos como sendo um corpo, e como este é construído e
apresentado no discurso.
A palavra corpo comporta em si diferentes concepções, podemos encontrar
assim, desde um sentido místico, intocável, no qual é apresentado como sagrado ou
como prisão para a alma; de uma acepção mecanicista, onde alcança status de
máquina; ou ainda, de um cunho científico, que tende a apresentá-lo como músculos
e vísceras. Este último onde à visão do corpo é igualada ao de aparato biológico é
característico do discurso da medicina amplamente difundido e absorvido pelo
discurso empírico. E, nesta busca por teorizar o que chamamos de corpo,
apresenta-se, meio que na contramão das demais linhas discursivas, a teoria
psicanalítica, em que não se apreende o corpo dentro de um discurso sobre ele,
mas apresenta o próprio corpo como discurso.
Porque o corpo de uma criança metaforiza-se na linguagem, esta é a
condição humana. Quando a mãe olha, fala, ou acaricia seu filho, da um
sentido a esta experiência corporal. Dá à linguagem, ela decodifica e
compreende a pura experiência corporal e transforma-a em um dizer, ou
seja, articula-a numa cadeia discursiva (LEVIN, 1995, p.68).
O corpo na psicanálise se apresenta como uma “coisa”1, algo que nos é
dado e ao mesmo tempo precisa que o eu identifique-se com ele, para que possa
apossar-se, a fim de reconhecê-lo e denominá-lo como tal. Para tanto, no período
que antecede o nascimento, a criança precisa ser imaginada, idealizada, esperada,
a fim de que, ao chegar encontre um lugar marcado, um berço simbólico. Segundo
Aulagnier (1945) o eu só pode ocupar um corpo que possua uma história, história
esta que lhe dá uma primeira versão de si, da qual precisa se apropriar.
1
“Coisa”, termo utilizado por Lacan, requere-se a um real é inominável.
9
Portanto ao pensar em um corpo humano é preciso retornar ao corpo de um
bebê, o que nos remete ao nascimento, momento no qual a carne encontra-se em
sua condição mais natural, uma vez que possamos comparar os reflexos
apresentados pelo perinatal, como sendo o mais próximo de instinto que o ser
humano chega. Entendendo que neste momento o corpo reage aos estímulos
externos, proveniente do novo ambiente no qual se encontra agora, um exemplo é o
choro do nascimento produzido pelo desconforto, e porque não dizer da dor de ter o
ar circulando pela primeira vez dentro do corpo, ou o movimento de contração
muscular das extremidades corpóreas, formando o agarrar tanto através das mãos
como dos pés e a própria sucção exercida quando a boca faminta encontra o seio.
Posição na qual permanecerá por pouco tempo, tendo em vista que, os
poucos reflexos inatos ou instintuais de que é dotado vão gradativamente
desaparecendo. E com o passar do tempo o que resta são expressões que podem
apenas fazer alusão ao instinto, uma vez que estes são modificados quase que
imediatamente pela inauguração como ser humano perpassado pelo simbólico.
Neste momento se faz necessário abrirmos um parêntese em relação ao
termo instinto, uma vez que em torno deste termo existem inúmeras discussões
dentro da psicanálise. Enquanto Freud (1915) organiza as pulsões entre pulsões de
auto-preservação ligadas às necessidades primárias e pulsões sexuais definindo-as
como “fome e amor”; Lacan (1964) separa a elaboração freudiana de sua base
biológica, afirmando que o ser humano já nasce inserido dentro de um campo
simbólico de maneira tal que a pulsão não possa ser comparada a instinto. Porem
para o momento inicial, onde procuramos refletir acerca da constituição do corpo,
acreditou-se que manter a proximidade com o instinto, pelo menos nos primeiros
instantes de vida, nos serviria como um facilitador para a compreensão da
capacidade corpórea de se constituir enquanto biológico e psíquico.
O trajeto percorrido até então, espero que nos seja útil, na tentativa de
demonstrar a escolha da psicanálise como recurso teórico para nortear a
compreensão no que se refere ao corpo, a fim de que possamos entender e levar
em conta que o ser humano nasce com um corpo na ordem do real 2, sendo assim,
2
REAL, Termo empregado como substantivo por Jaques Lacan, introduzido como substantivo em
1953 e extraído, simultaneamente, do vocabulário da filosofia e do conceito freudiano de realidade
10
um organismo como todos os outros. Este corpo real deve ser imaginado,
simbolizado através da palavra, portanto quando falamos de uma criança, joga-se
sobre o real daquela carne pura o imaginário e através deste ato, humaniza-se este
ser.
A mãe, ou melhor, a função materna através de seu cuidar, vai
erogeneizando, pulsionando este filho, resolvendo assim, esta falta de ser. Isto
equivale a dizer que o bebê, em sua imaturidade, precisa do encontro com o Outro,
que vai interpretar para ele suas inúmeras sensações, as quais ainda não entendem
e muito menos é capaz de dar uma resolução, e deste encontro herdará um primeiro
registro, denominado por Freud como marca mnêmica. É através deste registro que
há a estruturação e o funcionamento do aparelho psíquico que se inicia. Neste
sentido, o bebê humano, em um primeiro momento, é dotado de reflexos, porém,
logo em seguida, deixa para trás este traço puramente de sobrevivência
substituindo-o por pulsão, uma característica encontrada apenas nos seres humanos
que já não tem suas ações pautadas estritamente pela sobrevivência, mas também
busca a obtenção de prazer.
É este discurso que captura o corpo – o qual, desde sua condição orgânica,
é idêntico a tantos outros – e o nomeia como corpo de alguém. Todas as
manifestações do bebê que poderia ater-se á condição da necessidade são
interpretadas pela mãe e inscritas na ordem da demanda. São situadas
numa série significante que transgride o funcionamento do órgão, situando
sua manifestação no circuito do desejo (DIAS; FREIRE, 2010, p. 231).
É este mecanismo pautado pelo processo primário, que segundo Freud é
regido pelo princípio de prazer exemplificado pela fome, que coloca o corpo como
mediador entre o mundo interno, dotado de pulsão e sensações de maior ou menor
excitação; e o mundo externo, aquilo que se encontra fora do organismo, ou seja, os
demais objetos. Desta maneira quando a criança sente fome ocorre um aumento de
excitação interna ou um desprazer que movimenta o corpo, a fim de enviar ao
mundo externo tal necessidade através do choro. Posteriormente, ao ser levada ao
seio materno ocorre à diminuição da excitação produzindo a sensação prazerosa
psíquica, para designar uma realidade fenomênica que é imanente à representação e impossibilidade
de simbolizar (RUDINESCO, 1944, p.645).
11
que envolve a saciedade fisiológica e as sensações corpóreas peculiares do
momento da amamentação, como o aconchego do colo, o carinho e a troca de
olhares entre mãe e bebê, que não muito longe, será o motivo para os resmungos e
choros, superando a questão da satisfação biológica.
Trocando os passos para evoluir em nossa compreensão em relação ao
corpo, caminhamos para o processo secundário, que se sobrepõe ao princípio de
prazer, entrando em conformidade com o princípio de realidade, o que não significa
a exclusão do anterior, uma vez que, a pulsão não deixa de almejar a obtenção de
prazer, apenas lhe propõe uma espécie de adiamento.
Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do
prazer é substituído pelo principio da realidade. Este último princípio não
abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer; não obstante exige
e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de
possibilidades de obtê-la e a tolerância temporária do desprazer como uma
etapa no longo e indireto caminho para o prazer (FREUD, 1920, p. 20).
Não podemos nos eximir neste momento de pontuar a situação na qual
chegamos, deixando claro que, ao falarmos de um princípio de prazer que tem por
característica a obtenção imediata de prazer, estamos falando da instância
apresentada por Freud como id. E consequentemente, quando apresentamos este
algo que se sobrepõe ao princípio, podemos evidenciar uma maturação no aparelho
psíquico, onde o ego se propõe a mediar os impulsos do id e a realidade externa.
1.2 A primeira apreensão do corpo
Cabe, ao pensar a concepção psicanalítica do corpo, darmos ênfase ao
Estádio do Espelho3, onde o sujeito vai adquirir a sua primeira imagem do corpo.
Para situarmos este processo em termos metodológicos, este se dá, segundo
Lacan, aproximadamente dos 6 aos 18 meses. Se anteriormente o esforço estava
3
Estádio do espelho, Expressão cunhada por Jacques Lacan, em 1936, para designar um momento
psíquico e ontológico da evolução humana, situado entre os primeiros seis e doze meses de vida,
durante o qual a criança antecipa o domínio sobre sua unidade corporal através de uma identificação
com a imagem do semelhante e da percepção de sua própria imagem num espelho (RUDINESCO,
1944, p.194).
12
em apropriar-se do corpo e de sua versão antecipada à exigência, agora está em ser
capaz de reconhecer-se na imagem.
No processo de cuidar, anteriormente já descrito, a mãe vai tecendo uma
espécie de rede de segurança, uma cadeia de significantes que vai sendo
apresentada ao filho através da palavra, que mesmo antes de conseguir pronunciála já possui o registro de seu significante, e é por este caminho que a criança é
conduzida pelo primeiro grande Outro4, a entrar no estádio do espelho. É o grande
Outro que, ao dedicar-lhe seu tempo e principalmente seu olhar, vai organizar na
criança sua autoimagem corpórea, a qual vai propiciar a concepção de um laço entre
o real da carne e a construção do conceito de corpo subjetivado.
Não é em sua organicidade biológica que a criança reconhece seu corpo
como forma inteira, como unidade, ela se reconhece nessa imagem que
vem de fora e que a mãe deseja. Este é um processo mental que se produz
por identificação a uma forma que não está no corpo da criança, mas que
lhe dá a possibilidade de ser Uno. A criança é essa imagem e assim possui
a imagem unida de seu corpo (LEVIN, 1995, p. 55).
Este processo de apreensão corpórea é apresentado, na obra de Lacan,
como possuindo três tempos, um primeiro onde não há um reconhecimento em
relação ao próprio corpo. Neste período, a criança se reconhece na relação com a
mãe e não em sua fisionomia, assim, quando uma criança muito pequena é posta
frente a um espelho não esboça nenhuma reação. Em um segundo tempo, a criança
olha para o espelho e olha para o Outro, repetidas vezes, como que solicitando uma
referência, uma explicação. E em determinado momento é exatamente isso que ela
está fazendo, pois é a mãe que pode lhe dar a referência necessária para que se
reconheça na imagem refletida como sua. E um terceiro momento, onde o bebê vai
olhar para o espelho e ficar feliz, onde vai sorrir.
4
Grande Outro, Segundo Rudinesco (1944) após 1949 Lacan teorizou sua noção de simbólico, surgiu
uma nova concepção da alteridade, que desembocou na invenção do termo “grande Outro”.
13
(...) O estádio do espero espelho é o encontro do sujeito com aquilo que é
propriamente uma realidade e, ao mesmo tempo, não o é, ou seja, com uma
imagem virtual que desempenha um papel decisivo numa certa cristalização
do sujeito à qual dou o nome de Urbild (...) (LACAN, 1957-1958, p.233).
Portanto é no terceiro tempo do Estádio do Espelho, que a criança vai se
reconhecer como imagem, instaurando-se neste momento uma primeira imagem de
corpo, um primeiro eu. Porém, para iniciar esta estruturação se faz necessária a
presença da função materna, que vai tecer as redes discursivas que irão assegurar
as condições necessárias para que a criança possa constituir-se enquanto imagem,
desta forma colar-se a este grande Outro é a primeira solução encontrada pelo
infans5, mas para que possa surgir um sujeito é preciso que ocorra uma separação
deixando a posição de alienação na qual inicia seu processo de constituição
psíquica.
Separação na qual a criança consiga construir uma imagem que resista a
ausência do olhar do Outro, uma construção de identidade na qual o corpo constitua
uma imagem corpórea imaginária. Em uma tentativa de evidenciar este trabalho
psíquico, Freud interpreta o movimento no qual seu neto atira um carretel de linha
para longe, posteriormente o puxa de volta para si, movimento este repetido por
várias vezes. Neste jogo de presença e ausência, denominado por Freud como fortda, em alusão ao brincar produzido pela criança, esta se utilizava da agressividade
para lançar o carretel, representando o “ir embora” do objeto desejado, e a
representação do avistar novamente o objeto, “ali”, ao terminar de puxar a linha.
Neste movimento de presença e ausência, produzido pelo brincar da criança
através do jogo de fort-da, que vai se produzir um campo simbólico próprio.
(...) É claro que em sua brincadeira as crianças repetem tudo que lhes
causou uma grande impressão na vida real, e assim procedendo, abreagem a intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer, senhora
da situação (FREUD,1920, p.27 ).
5
O termo Infans, na psicanálise, segundo Lacan, refere-se a criança que ainda não fala.
14
Habitualmente espera-se que o jogo do fort-da já se encontre estabelecido
em torno dos três anos de idade, onde a criança vai trabalhar com o que faltou no
estádio do espelho, as questões referentes às diferenças. Freud também nos aponta
que o movimento de lançar o carretel é mais importante que o puxar, por se tratar de
uma agressividade constitutiva necessária para separar-se do primeiro grande Outro
(mãe), viabilizando que este constitua-se como sujeito.
(...) Lacan enuncia varias teses que, em conjunto, procura demonstrar que a
agressividade, como vivência essencialmente subjetiva, surge do encontro
entre a identificação narcisista, da qual o indivíduo é portador, e as fraturas,
clivagens, rupturas, às quais esta imago está submetida (BLEICHMAR,
1992, p. 145).
Ao mesmo tempo, no qual a criança vai precisar recorrer a sua
agressividade enquanto constituinte, para que possa libertar-se do primeiro grande
Outro e se tornar um sujeito, será necessário à entrada nesta relação da função
paterna, que poderíamos dizer que reside no complexo de Édipo, uma vez que,
mesmo quando o pai se faz presente no período inicial da constituição do bebê, este
estará também maternando. Ou seja, se ocupando dos cuidados peculiares da fase
inicial de um ser humano, é a partir do complexo de Édipo que o pai terá que se
fazer presente enquanto função, inserindo a lei simbólica através da castração.
O Édipo, tanto em Freud quanto em Lacan, é a descrição de uma estrutura
em que a posição de seus membros - pai, mãe e filho – é determinada por
algo que circula entre eles: o falo. É em torno da premissa universal do falo
que se estabelece a relação entre desejo e castração (LEVIN, 1995, p. 64).
O primeiro tempo do Édipo coincide com o terceiro tempo do espelho, com a
obtenção da imagem unificada do corpo, na qual a criança encontra-se atrelada ao
desejo materno. Neste momento o que a move é a tentativa de suprir a falta da mãe,
sendo assim, busca identificar-se com o falo. A mãe deseja ter o falo e a criança
deseja ser o falo, ou seja, desejo de desejo materno.
15
No primeiro tempo e na primeira etapa, portanto, trata-se disto: o sujeito se
identifica especularmente com aquilo que é objeto de sua mãe. Essa é a
etapa fálica primitiva, aquela em que a metáfora paterna age por si, uma
vez que a primazia do falo já está instaurada no mundo pela existência do
símbolo do discurso da lei. Mas a criança, por sua vez, só vai pescar o
resultado. Para agradar a mãe, se vocês me permitam andar depressa e
empregar palavras figuradas, é necessário e suficiente ser o falo. (LACAN,
1957- 1958, p. 198)
O que se encontra aí dando movimento ao reconhecimento por parte da
criança, do que é o desejo materno e sua tentativa de identificar-se com este, é o
jogo simbólico, no qual neste primeiro tempo, é possível identificar três posições: a
mãe, o filho e o falo. É o elemento falo que vai deslocar-se para a entrada da função
paterna nesta relação.
Se no primeiro tempo, o falo serve à ilusão narcísica de completude, no
segundo tempo do Édipo o pai em sua função vem para romper com esta ilusão e
apresenta-se como duplamente privador. Isso significa dizer que, a interdição
paterna é direcionada não apenas à criança, mas também à mãe, de um lado o corte
impõe ao filho a renúncia a ser o desejo do desejo da mãe (o falo), enquanto de
outro lado, exige da mãe que esta venha a renunciar a ter o falo. Se no princípio a
função paterna não se coloca ou se faz de forma velada, no segundo momento, esta
aparece, porem, ainda não o faz como real que compete ao terceiro tempo de Édipo,
mas sim, mediada pelo discurso materno. Como nos diz Lacan, é a mãe que
instaura o pai como aquele que faz a lei.
Nessa etapa, o pai intervém a título de mensagem para a mãe. Detém a
palavra em M, o que ele enuncia é uma proibição, um não que se transmite
no nível em que a criança recebe a mensagem esperada. Esse não é uma
mensagem sobre uma mensagem. (...) Essa mensagem não é
simplesmente o Não te deitaras com tua mãe, já nesta época dirigida à
criança, mas um Não reintegraras teu produto, que é endereçada a mãe
(LACAN, 1957-1958, p. 209).
No terceiro tempo do Édipo a criança passa a perceber a diferença
anatômica entre homens e mulheres. A partir da dimensão da castração é possível
reconhecer estas diferenças, classificando-os na dinâmica da castração entre fálicos
e castrados. O terceiro tempo é caracterizado pela renúncia ao ser (o objeto da
16
mãe), para ter (ter uma posição assexuada, ser menino ou menina), processo no
qual ocorre à identificação, com o pai ou com a mãe. No caso do menino, como
detentor do falo, ocorre a identificação com o pai como detentor do falo, enquanto a
menina identifica-se com a mãe, desejando ter o falo.
É através da castração simbólica que é internalizada a lei. É através da
função paterna, a lei enquanto simbólica, que produzirá no sujeito uma amaragem
central, que se colocará para este como uma “medida”, uma referência para toda e
qualquer atitude ou escolha proferida no decorrer de toda sua vida.
1.3 Corpo entendido R. S. I.
Segundo o que anteriormente expomos, podemos enfatizar que um corpo só
pode ser assim denominado quando nele encontram-se constituídos ou em
constituição as estruturas do real, do simbólico e do imaginário. Com esta
estruturação poderemos ter a devolutiva da pergunta: corpo de quem? Que exige
em sua resposta que o eu tenha conseguido apropriar-se da carne pura, dando-lhe
estatuto de corpo. Podemos, neste momento, buscar Lacan através de sua teoria do
real, simbólico e imaginário, que pode nos servir aqui como ponto nodal para a
reflexão acerca da concepção de corpo.
Em determinado aspecto, o corpo com autismo pode explicitar o que
trazíamos à discussão, apresentando um corpo na ordem do real, o autista não
consegue apropriar-se da carne a fim de usar-se dela como corpo. Sem o banho
simbólico que põe este corpo em condição de troca com o outro, fica incapaz de
construir laço afetivo com o outro.
Reconhecer-se enquanto corpo só é possível porque o outro também tem
um corpo. O corpo ocupa, deste modo, uma posição de referencia e de
diferença. Portanto, para que esta antecipação e fascinação pela imagem
seja produzida, tem que haver outro que libidinize esta imagem, que a
deseje, para que a criança possa identificar-se a ela. Este efeito
estruturante da dimensão humana que antecede a maturação neuromotora
é consequência e efeito da linguagem, concebendo esta como estrutura que
captura o sujeito, dando-lhe uma posição simbólica (LEVIN,1995 p.57).
17
Na teoria lacaniana, o real não requer um real interno (como a realidade
psíquica do sujeito de Freud) ou externo com suas diferentes definições, mas
aparece quando Lacan refere-se à coisa em si, aquilo que é inominável ou aquilo
que não é simbolizado, é o real. Portanto, para encontrar o real é preciso retirar o
recurso do simbólico e do imaginário e, o que sobrar, o resto, será o real. Separar a
instância do R. S. I, embora se apresente como necessário à compreensão, é uma
tarefa não pode ser entendida como algo simples de se fazer, uma vez que,
encontram-se interligadas.
Partindo de uma referência inicial, o sujeito precisa ser imaginado pelo
Outro, para que ao nascer, encontre uma história antecipada à qual deve se
apropriar. O primeiro a ser abordado será o registro do imaginário, que logo irá
remeter à construção de imagem, nos levando ao estádio do espelho, que é
responsável pela apreensão da unidade corporal, construída através da referência
do Outro e do reconhecimento da própria imagem no espelho. E um processo de
identificação que assegura um registro imaginário de sua imagem.
O corpo imaginário é o corpo da imagem. Efeito de identificação a uma
imagem, a esta imago imaginário de unidade, espaço ilusório e virtual
constituinte do “eu ideal”, “ideal” de perfeição a ser alcançado, e que é
inconsciente. Imagem que não é constituída e sim constituinte do corpo de
um sujeito (LEVIN, 1995, p.63).
Segundo Lacan, o imaginário antecede o simbólico no que se refere à
estruturação do infans, o que não significa que este se encontra desprovido de
simbolização. Isto porque mesmo não dispondo de recursos próprios, o infans conta
com a simbolização através do grande outro que o interpreta e situada em um
mundo simbolizado.
É na continuação do espelho, quando incentivado pelo outro, que o bebê
reconhece a imagem e a nomeia, deixando de ser o bebê e passando a ser “o
fulaninho de tal”, no caso o nome deste, evocando um registro na ordem do
simbólico. Esta evocação, apontada ainda no espelho, desdobrar-se-á no terceiro
tempo do Édipo, onde a função paterna pelo interdito registrará a lei, registro na
ordem da linguagem enquanto lei simbólica. O simbolizar é unir os fragmentos em
18
direção a dar um nome, ou seja, produzir uma unificação, entendendo fragmentos
como significantes. Assim, a simbolização constrói uma cadeia de significantes que
referenciam o sujeito.
Anteriormente citamos o autismo para demonstrar os danos causados ao
sujeito quando este fica no real, tudo que vem do mundo externo é invasivo, o que
implica em um bloqueio na relação com o outro, e este se vê impedido de colocar
sua marca. Da mesma forma, quando o sujeito permite-se receber as marcas do
grande outro, mas permanece na posição de alienação teremos um sujeito psicótico,
que em um surto é capaz de se ver sem uma parte do corpo, mesmo que esta esteja
no mesmo lugar. Demonstrando não bastar ter um conjunto de carne e ossos, ou
seja, um organismo biológico adequado, a “coisa” 6 precisa ser imaginada e
atravessada pela linguagem para assim denominá-la: corpo, mediador e instrumento
de adaptação entre o interno e externo.
6
A coisa, termo utilizado por Lacan, refere-se a um real que é inominável.
19
2. UMA REFLEXÃO SOBRE O MEDICAMENTO E SUA UTILIZAÇÃO
2.1. Sobre o uso do medicamento:
Da mesma forma como a concepção acerca do corpo passa por diferentes
formulações de acordo com a evolução do ser humano, o medicamento, como
produto dos conhecimentos adquiridos por este, também apresenta mudanças de
acordo com seu contexto histórico. Assim, o medicamento que disponibilizamos hoje
começa seu percurso através do uso das plantas, que por possuírem substâncias
químicas produziam determinadas sensações, sendo utilizadas para diferentes fins.
Um desses fins era atenuar as dores e obter a cura de determinadas moléstias
sendo usado como remédio.
Juntamente a evolução humana, a utilização das substâncias químicas
também foram aperfeiçoadas, contribuindo para a gama de conhecimentos que
possuímos sobre o tipo de substância que pode ser encontrada em determinada
planta, como age no organismo, para que serve e como esta pode ser retirada e
isolada para ser transformada de maneira a tornar possível o controle sobre a ação
desta no organismo. Assim as substâncias químicas são transformadas em
medicamentos, ou seja, produtos farmacológicos que passam por um processo de
manipulação a fim de possibilitar seu uso para profilaxia, cura ou diagnostico.
A ideia de remédio esta associada a toda e qualquer tipo de cuidado
utilizado para a cura ou alivio da doença, sintoma, desconforto e mal-estar.
Já os medicamentos são substancias ou preparações elaboradas em
farmácias (medicamentos manipulados) ou indústrias (medicamentos
industrializados), que devem seguir determinações legais de segurança,
eficácia e qualidade (ANVISA, 2010, p.14).
Medicamentos industrializados são todos aqueles que têm sua produção em
larga escala, com dosagem e embalagens padronizadas e podem ser receitados e
utilizados por diferentes indivíduos. Os medicamentos industrializados possuem uma
abrangência maior do que os medicamentos manipulados, pois tem em sua fórmula
entre outras substâncias, estabilizantes e conservantes que conferem a este um
maior tempo de validade. Enquanto que os medicamentos manipulados se referem
20
aqueles remédios que possuam uma dosagem específica, para atenderem a
prescrição médica feita a um paciente, tendo sua validade associada à duração do
tratamento especifico de determinado paciente.
Atualmente o medicamento é um dos recursos mais utilizados no combate
as enfermidades, segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de 50 a 70% das
consultas médicas geram prescrição de medicamento, evidenciando que os
profissionais da área da saúde vêm utilizando-se em larga escala deste recurso para
o combate à doença. Um dos motivos para a expansão do uso das drogas
farmacêuticas é a sua eficácia em minimizar ou eliminar a doença ou seus sintomas.
E somada a estas porcentagens encontra-se o fato de as drogas estarem presentes
tanto na modalidade clínica e psiquiátrica, quanto na intervenção cirúrgica,
corroborando ao que Schellack (2006, p. 15) afirma sobre o tratamento fármaco: “a
espinha dorsal de toda a modalidade de tratamento, independente de sua natureza
médica, cirúrgica ou psiquiátrica”.
Devido a sua grande importância no contexto da saúde, o medicamento
possui uma variação significativa na forma de administração para dar conta das
possíveis limitações do paciente e da necessidade encontrada em cada situação,
além de levar em conta a forma mais fácil para manutenção do tratamento em casa
pelo próprio paciente. E embora estejamos mais habituados à administração de
medicamentos via oral, existem outras formas de administra-los como é o caso da
via sublingual, nasal, oftálmica, dermatológica, parenteral, retal.
Temos ainda uma divisão em relação à aquisição dos medicamentos que
consistem em isenção de prescrição. Como o próprio nome já define, determinados
tipos de medicamento não precisam de uma prescrição embora espera-se que
nestes casos, o consumidor conte pelo menos com uma orientação farmacêutica, e
os sob prescrição que se dividem em tarja vermelha, quando não há retenção da
receita e tarja preta.
21
2.2 O que é e para que serve
Os medicamentos nada mais são do que drogas ou substâncias químicas. E
para que esta possa ser consumida sem ou com o menor dano possível, se faz
necessário um estudo prévio acerca de sua natureza e de suas composições
químicas e do efeito que estas produzem sobre o organismo humano. Este estudo é
feito pela farmacologia que também produz o medicamento e alerta sobre seus
efeitos, tanto desejados como indesejados, assim como a sua dosagem.
As drogas normalmente requerem uma preparação especifica para torna-las
próprias para administração aos pacientes. Isso pode incluir a combinação
entre elas, a adição de corante, aromatizante e conservante, a preparação
de formas de apresentação adequadas (por exemplo, comprimidos,
cápsulas, soluções, elixires, supositório, etc.) e a decisão quanto à
frequência de administração apropriada. A arte e a ciência da preparação
de drogas e da decisão sobre as formas de apresentação é conhecida como
farmácia. Drogas que farmaceuticamente preparadas são chamadas de
medicamentos. Um medicamento pode, portanto, conter uma, duas ou
muitas drogas diferentes (como substancias ativas) em uma base adequada
(de substancias farmacologicamente inativas conhecidas como excipientes).
(SCHELLACK, 2006, p.16-17)
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) os
medicamentos são produtos específicos, sendo produzidos com rigoroso controle
técnico, e seus efeitos se devem a uma ou mais substancia ativa contida no produto,
que possuem propriedade terapêutica reconhecida cientificamente.
Os medicamentos têm seus efeitos claramente demonstráveis no combate
às enfermidades, o que não significa que possa ter seu uso de forma indiscriminada.
Muito pelo contrário, seu uso implicaria em diversos cuidados e devem ser
ministrados de acordo com inúmeros fatores (idade, sexo, características físicas,
etc.) a fim de que os efeitos colaterais não sejam mais danosas do que os benefícios
obtidos.
Embora uma das primeiras funções lembradas, quando se refere ao
medicamento, seja o combate à dor e a doença, esta não é a sua única finalidade.
Além disso, pode ser usado como prevenção; é o caso das vacinas que tem por
objetivo prevenir a doença fazendo com que o organismo produza anticorpos para o
combate de determinada infecções, deixando imune a esta doença; também como
22
diagnostico, auxiliando a detectar a doença ou o mau-funcionamento de
determinado órgão; além da cura que tem por objetivo eliminar a causa ou corrigir
alguma deficiência orgânica e o combate ao sintoma, eliminando-o ou mascarando
este desconforto produzindo o alivio se agir sobre a causa.
Porem tem algo da ordem do imaginário, do simbólico que recai sobre o
medicamento. É neste além do que o medicamento pode atingir no real, que
podemos encontrar nossas respostas: o que o sujeito foi procurar ao usá-lo e se o
medicamento tem a possibilidade de suprir a expectativa da busca.
2.3. Medicamento e cultura
Ao mesmo tempo em que o remédio funciona como uma ferramenta para
lidar com a doença, encontra-se situado dentro de uma cultura capitalista, portanto,
faz parte de um mercado que visa o lucro. Desta maneira evidencia-se o papel da
mídia, e o maior espaço que as propagandas sobre remédios ganharam, utilizandose do marketing para venda em larga escala deste produto. Esta mistura entre o que
o remédio é, para que serve e o que ele representa subjetivamente, constrói um
fenômeno interessante a ser pensado. Ou seja: ao mesmo tempo em que a
população reivindica que o governo forneça medicamentos de forma gratuita, e em
dosagens compatíveis com a prescrição médica, aponta-se uma baixa adesão aos
tratamentos, onde a população abandona o tratamento ou deixa de segui-lo
corretamente.
Segundo a ANVISA (2010, p. 50) “os medicamentos são a principal causa de
intoxicação no Brasil. Só em 2008 foram registrados 26.384 casos, sendo que as
crianças de 1 a 4 anos foram as mais afetadas, respondendo por 23,69%”..
Isso nos leva a pensar em um uso racional do medicamento que implica em
um diagnóstico correto, para que possa ser receitado em dosagem certa, cabendo
ao paciente a adesão ao tratamento, seguindo-o conforme prescrição, obedecendo
tanto a dosagem como o horário e a duração do tratamento. Quando pensamos
através desta perspectiva, de um uso racional dos medicamentos, vemos inúmeros
23
relatos do uso irracional do mesmo, presentes nas pesquisas que apontam para a
estatística alarmante de que 50% das prescrições são dispensadas ou usadas
inadequadamente. Isto sem contar a porcentagem de automedicalização.
Este conflito entre o buscar pelo medicamento e não seguir o tratamento,
que se evidencia em nossa sociedade, está intrinsecamente ligado às exigências
culturais feitas ao sujeito, frente às quais este não tem como dar conta. Construiu-se
um ideal de corpo e um ideal de felicidade cuja condição humana não lhe permite
atingir, o sujeito encontra-se então submerso por produtos que se apresentam como
um meio para atingir o ideal da cultura ou uma válvula de escape a esta demanda
contínua que o leva a exaustão.
Impera, hoje, o apelo emblemático ao prazer. Um prazer que não se resume
apenas à ausência de sofrimento, mas que há de ser intenso, imediato, nãonegociável. O imperativo é: “quero agora, quero muito, quero tudo, e
sempre”. O discurso social idolatra a posição de plenitude alcançada sem
muito esforço. É a tentativa de abolição da falta, do vazio e de qualquer
insatisfação. Já não se valoriza a satisfação “pequena”, “ordinária”,
“comum”; o máximo de prazer - e que seja imediato - é o que se quer.
(PELEGRINI, 2003, p. 39)
É neste contexto que os medicamentos estão inseridos, muito mais do que
uma possibilidade de combater a doença eles se apresentam como uma promessa
para resolver os conflitos entre as exigências do mundo externo e a capacidade do
mundo interno. A exigência que é feita ao sujeito é incompatível com as exigências
de seu mundo interno. Se retornarmos ao primeiro capitulo, onde abordamos a
constituição do corpo que comporta o aparato biológico e o psíquico, veremos que
ambos sucumbiriam caso esse ideal social de obtenção direta de prazer de fato
fosse experimentada de forma continua pelo sujeito.
De acordo com Birman (2000), nos cabe pensar o destino do desejo na
atualidade, pois é este que nos permite captar o que se passa na subjetividade. Isso
significa encontrarmos ai um meio ou um caminho para visualizar qual a causa do
sofrimento do sujeito.
Encontramos atualmente um mecanismo social no qual o individualismo, a
autonomia, e o egocentrismo são enaltecidos pela cultura. Delega-se à mídia um
24
poder massificante que procura através de seus signos implantar seus ideais,
tornando o limite entre o público e privado cada vez mais difuso. Desta forma, em
determinados momento é o público que intervém invadindo o campo privado do
sujeito, em outros é o sujeito que se lança partilhando seus momentos que poderiam
ser considerados como íntimos ou privados para um campo público, como se este
tivesse o poder de validar as experiências subjetivas.
Como efeito, a subjetividade construída nos primórdios da modernidade
tinha seu eixo constitutivos nas noções de interioridade e reflexão sobre si
mesma. Em contrapartida, o que agora esta em pauta é uma leitura da
subjetividade em que o autocentrismo se conjuga de maneira paradoxal co
o valor da exterioridade. Com isso, a subjetividade assume uma
configuração decididamente estetizante em que o olhar do outro no campo
social e mediático passa a ocupar uma posição estratégica em sua
economia psíquica (BIRMAN, 2000, p.23).
Hoje em dia não é permitido ao sujeito o adiamento na obtenção do prazer,
uma vez que o que impera na atualidade está ancorado no ter e o que se prega pela
mídia refere-se a obtenção de prazer de forma direta e com menor esforço possível.
Assim o discurso, vai alterar o valor de ser para o de ter.
Segundo Birman (2000), o destino do desejo está no exibicionismo e no
autocentrismo. Podemos, através deste fragmento da reflexão do autor, relacionar
com o tipo de troca com o outro que o sujeito vem produzindo. E porque a falta é tão
combatida
na
atualidade,
tentando
ser
tamponada
com
o
consumo
de
medicamentos que vão eliminar ou amortecer o mal estar que a cultura imprime na
subjetividade.
Se formos capazes de perceber que a cultura intervém sobre a subjetividade
e consequentemente na relação com o que está ao seu redor, podemos verificar o
aspecto simbólico que a sociedade atual sobrepõe ao medicamento. E aqui não
estamos nos referindo apenas aos placebos, mas a qualquer medicação.
Em
primeiro lugar, por esta encontrar-se associada à cura e a manutenção da saúde e
isto implica em uma reação por parte do sujeito, que dependerá do que este
imaginou, e das expectativas que colocou em torno do uso de determinado
medicamento.
25
2.4. O aspecto simbólico do medicamento
Quando aborda-se o valor simbólico do medicamento, é comum encontrar
referência às doenças que não tenham causas orgânicas, ou ainda relacionadas a
testes de novos medicamentos, para os quais são utilizados os medicamentos que
pretende se testar e os chamados placebo.
Ao contrário dos medicamentos que explicamos anteriormente, o placebo
não possui substâncias ativas, sendo composto apenas por amido e açúcar. Desta
forma, quando uma melhora é sentida, a mesma não pode ser explicada pelas
substâncias contidas no medicamento. Seria então o valor simbólico do
medicamento que proporcionaria a melhora.
Porem, não é apenas o placebo que apresenta um aspecto simbólico, de um
modo geral todo o medicamento está ligado ao discurso cultural construído para este
adquirir uma representação. Desta forma, o medicamento aparece sempre vinculado
à saúde, seja como forma de prevenir o adoecimento, ou ainda como um símbolo da
evolução da medicina que reforça o medicamento como signo da cura.
É este discurso que circula na sociedade atual, sendo absorvido e
disseminado pelos sujeitos que a compõe, ganhando por vezes um contorno que o
carrega de um poder ainda maior. Assim pode ser visto como sendo uma substância
mágica, que o simples uso do medicamento se faz capaz de aliviar qualquer tipo de
dor, além de solucionar as problemáticas enfrentadas pelo sujeito independente do
campo no qual a causa do mal-estar esteja.
O signo lingüístico, portanto, une um conceito a uma imagem acústica, e
não uma coisa a um nome. Por outro lado, o signo faz parte de um sistema
de valores. O valor de um signo se mede por sua relação com todos os
outros signos e resulta, negativamente, simultaneamente deles na
linguagem (...) (RUDINESCO, 1944, p. 709).
Seguindo o raciocínio proposto pela linha psicanalítica encontraríamos o
significante naquilo que se repete. Ou seja, se repete em um discurso
compartilhado, onde não existe a concepção de privado uma vez que o significante
não pertence a um indivíduo, uma geração ou um grupo social. Sendo assim,
26
quando alguma coisa atinge a configuração de um signo está representando algo
para além de seu sentido literário, algo que transcende o objeto, sendo carregado de
significações a ponto de que essas se tornem maior que o significado.
Como signo de saúde, o medicamento está atrelado ao que a linguagem
apresenta e reconhece como saúde, que ainda vai ligar-se a concepção de uma
imagem. Assim o remédio, uma cápsula, pode representar o corpo perfeito, o
autocontrole esperado pelo outro, a personalidade desejada, a cura da enfermidade.
Encontra-se revestindo o real do medicamento, toda uma associação imaginária e
simbólica construída no discurso.
Resumidamente, poderíamos dizer que, no que tange ao medicamento, que
o processo de abstração a que ser se refere o Eco é um processo não
apenas semiótico mas também ideológico, no sentido clássico de falsa
consciência, na medida em que este conceito implica em escamotear, velar,
impedir que se veja a realidade na sua dinâmica contraditória e conflitava
(LEFEVRE, 1987).
A partir de determinados aspectos poderíamos imaginar que o sujeito
investe no medicamento de tal forma que delega a este uma projeção característica
do pensamento humano. Desta forma, o objeto inanimado, ganha um caráter
onipotente, sendo capaz de dar conta de todo o sofrimento humano.
Porem, enquanto falamos nos aspectos simbólicos do medicamento, não
podemos deixar de observar que nem tudo o que circula no discurso sobre este é
carregado de significações de saúde e de cura. Também é a ele associado um
caráter enquanto droga, o que vai abrir outros campos de associação deixando mais
próximo de aspectos negativos, podendo provocar uma recusa por parte do sujeito.
Não ficando distante o medo de ficar preso ao medicamento, imaginando que este
enquanto droga cause dependência. Assim, entra em jogo para o paciente todas as
significações que este já possuía, mesmo antes de se ver forçado a utilizar o
medicamento enquanto recurso de tratamento.
27
3. DOENÇA E ADOECIMENTO E AS QUESTOES PSIQUICAS QUE
INTERFEREM NA ADESAO AO TRATAMENTO
3.1. Doença e adoecimento
No primeiro capítulo nos ocupamos com os esclarecimentos acerca do
corpo, para isso recapitulamos todo o processo de constituição deste, julgando que
tal compreensão é essencial ao entendimento do que abordaremos daqui em diante.
Referência esta que se justifica, uma vez que é no corpo que a doença se instala,
sendo ele que nos fala tanto sobre a doença quanto em relação ao adoecimento,
através de seu conjunto de sintomas.
Em relação à doença é possível encontrar diferentes conceitos, isto se deve
claramente a época e a cultura na qual foi concebida. Por este motivo é possível
encontrar desde pensamentos místicos que a definem como castigo, conceito ainda
atrelado às explicações religiosas, até a concepção ancorada nas ciências,
principalmente a medicina, que a encara como um inimigo a ser vencido e toma para
si o enfrentamento deste através de intervenções e manipulações sobre o corpo.
Talvez o único aspecto que permeia todas as tentativas humanas de significar a
doença seja o simples fato de que a doença signifique a ausência de saúde, mesmo
a doença sendo só um aspecto do que significa saúde, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS)
A doença é portadora de portadora de muitos significados. Para a medicina
cientifica, o sintoma significa alterações fisiológicas, anatômicas,
bioquímicas e moleculares, enquanto para a medicina oriental significa
alterações sutis na dimensão energética do paciente que se relaciona com a
vida afetiva e espiritual. Já na psicossomática o sintoma seria a maneira
que o sujeito encontrou para expressar conteúdos que não puderam ser
simbolizados em palavras (SIMONETTI, 2011 p.102-103).
A doença, em termos gerais, é designada pelo seu conjunto de sintomas que
indicam um distúrbio no organismo do indivíduo, o qual ocasiona alterações em seu
funcionamento tido como normal. Podendo ter como origem causas internas ou
externas, fatores biológicos, psicológicos ou culturais. O adoecimento refere-se aos
28
aspectos psicológicos ligados à doença, é a manifestação da subjetividade em
relação ao que a doença representa com suas perdas e ganhos, estando ligado ao
reposicionamento deste sujeito frente ao tropeço no real do corpo.
Não nos parece necessário, para o momento, um esforço em conceituar a
doença em relação aos fatores elencados acima, dividindo-a em psicossomática ou
biológica. Nosso entendimento é que tal discussão poderia provocar uma cisão que
nada nos auxilia, uma vez que a abordagem proposta vai ao encontro das
manifestações subjetivas que se encontram presentes em todas as doenças
independente dos fatores que a produziram.
Desta maneira nos interessamos de forma especial pelo processo de
adoecimento, onde o que se pretende evidenciar não são os sintomas ou os órgãos
físicos que encontram-se debilitados, mas sim, as defesas que se erguem como
forma de reposicionar o sujeito frente o real da doença. Desta forma, no
adoecimento, o que se coloca são as consequências para o sujeito de “tropeçar
neste real que é a doença”. Ou seja, como ocorrerá a organização psíquica no
sujeito para lidar com tal situação, já que esta barra o sujeito na ordem do real.
Da mesma maneira que em nosso primeiro capítulo organizamos a
constituição do corpo dentro do conceito construído por Lacan do R S I. A doença
tem a si agregada algo para além de seus aspectos reais, que agrega à doença,
também aspectos simbólicos e imaginários, que exercerão um papel junto ao
manejo da doença no organismo e concomitante da adesão ao tratamento.
Para Simonetti (2011, p.15) “o adoecimento se dá quando o sujeito humano,
carregado de subjetividade, esbarra em um real, de natureza patológica,
denominada doença, presente em seu corpo, produzindo uma enfermidade (...)”.
O adoecimento implica em um reposicionamento social, tendo em vista
todas as limitações que a doença traz consigo, atingindo em cheio alguns dos ideais
de nossa cultura como a liberdade, a independência e a própria relação com o
trabalho que é a base da sociedade capitalista servindo ao sujeito como ganho. Mas,
principalmente, como identificação, reconhecimento e válvulas de escape dos
problemas pessoais. Segundo Simonetti (2011), o adoecer é como entrar em órbita,
uma vez que a doença se transforma em um polo central e todo o resto passa a girar
29
em torno dela, indicando quatro posições principais: a negação, a revolta, a
depressão e o enfrentamento.
Embora a ordem na órbita não se apresenta de forma fixa, a entrada nela se
dá pela negação, que evidencia-se logo que o sujeito tem seu diagnóstico
confirmado, manifestado pelo choque e pela descrença em relação ao que acabara
de ouvir. Tal efeito demonstra a impossibilidade para encontrar uma representação
psíquica. A constatação de uma doença sempre nos coloca frente à morte para a
qual não disponibilizamos de uma representação. Desta maneira, a negação é a
saída possível no momento, ou seja, é a primeira defesa que este encontra frente ao
real, que Lacan denomina como a “coisa”, como aquilo que é inominável.
A negação é uma defesa psicológica, e defesas psicológicas têm sempre
uma razão de ser validada do ponto de vista do psiquismo do paciente.
Quem se defende o faz porque se supõe atacado, e se lança mão
exatamente da negação é porque não encontrou defesa melhor
(SIMONETTI, 2011, p.119).
Na sequência encontra-se a posição de revolta, que significa uma
movimentação na órbita e neste ponto o sujeito é capaz de ver a doença, porem não
à aceita. E por isso reage como que procurando justiça, como se a doença
carregasse consigo alguma justificativa. Neste sentido é possível perceber
semelhança como a primeira concepção de doença, que é concebida como castigo.
Mas o que de fato essa fase representa é a frustração e irritação, que se caracteriza
por um processo de agitação onde a pessoa reage aos seus medos, à sua angústia,
que neste momento pode se direcionar a qualquer pessoa. Esta pode ser tanto da
equipe médica, da família ou qualquer outra que lhe faça lembrar o que está
tentando evitar, a doença e o que esta lhe impõe.
Toda esta agitação, segundo Simonetti (2011), não passa de atividade fora
de foco, que dificilmente obtém resultados produtivos por não estar direcionada ao
problema e pode apenas servir como uma descarga da tensão acumulada. A raiva
também experimentada na posição de revolta deve ser observada como tentativa de
afirmação subjetiva, porém sua manutenção por período de estresse prolongado
pode culminar em exaustão:
30
Essa ideia foi sistematizada pela psicóloga norte-americana Jacquie Schiff
(Crema, 1984), para quem existem quatro formas pelas quais uma pessoa
pode ser passiva. A primeira é a “sobreadaptação”, que ocorre quando a
pessoa age para agradar o outro, e não para resolver o problema; a
segunda é o “nada fazer”, em que não existe atividade; a terceira é a
“agitação”, que se define como ação não focalizada no problema, e a quarta
forma é a “violência”, que se caracteriza por autoagressividade e
heteroagressividade, que não resolvem o problema (SIMONETTI, 2011
p.46).
Após a revolta, que por toda a sua agitação produz um grande gasto de
energia, o paciente entra na depressão. Enquanto posição da órbita, não se refere
diretamente a uma condição patológica, mas sim a um deprimir, reavaliar, ou se
entregar passivamente à doença. Na posição adotada na depressão, o não
patológico seria o luto, onde há um recolhimento da libido por parte do sujeito que o
retira do objeto perdido para que posteriormente possa voltar a investi-lo em outro
objeto. Se o objeto perdido para a doença é a saúde, uma das possibilidades de
investimento da libido pode ser o tratamento. Porem encontramos como segunda
possibilidade a melancolia, onde adentramos no campo psicopatológico
É só a partir da travessia da posição depressiva que será possível o
enfrentamento da posição na qual o sujeito se reposicionar deixando de lado as
ilusões construídas e passa a buscar soluções do tipo realista. Embora este termo
expresse uma complexidade, empregá-lo em relação ao processo de adoecimento
refere-se à capacidade que o sujeito encontra quando chega ao enfrentamento de
identificar o que pode ser modificado e o que não pode. Neste ponto não se trata de
negar ou reagir, mas sim de se permitir sentir e trabalhar com o medo, com a
angústia, com as perdas e ganhos reais e imaginarias.
Poderíamos imaginar que é a partir do processo de enfrentamento que a
pessoa seria capaz de aderir ao tratamento, ou seja, administrar seu tratamento
seguindo as prescrições médicas e cumprindo diariamente a dosagem e horário
correto da medicação. Então, em contrapartida, implica pensar as questões
psíquicas que impedem o sujeito de alcançar o estágio final da órbita da doença e
que vai impedir a adesão ao tratamento.
31
3.2. As questões psíquicas da adesão ao medicamento
Com o intuito de discutir apenas as questões psíquicas que envolvem a
adesão ao tratamento medicamentoso, partiremos da concepção de que há acesso
aos locais que oferecem atendimento à saúde. Assim como, o diagnóstico correto e
o medicamento certo tenham sido alcançados por este sujeito.
Para abordar esta temática utilizaremos como ponto de partida a negação,
um dos pontos mais evidentes, inclusive por sua fácil percepção através da
observação direta. Não por acaso a negação apresenta-se como a porta de entrada
na órbita da doença. Descobrir uma doença, como já abordamos anteriormente,
implica em um encontro com o real, o real da morte, para a qual não possuímos uma
representação psíquica.
Desta forma, a primeira atitude que se apresenta como possibilidade para
intervir sobre a negação refere-se ao exercício de acolhimento deste que se
descobriu com determinada enfermidade. Para que estes pacientes possam se
sentir confiantes a ponto de conseguir externalizar as sensações mediante o impacto
da doença, o indicado é uma intervenção que não exclua o paciente e o saber que
só este possui, o saber sobre ele próprio.
É no acolhimento que começa a
construção da relação que posteriormente nos permitirá chegar às possíveis
dificuldades de adesão que este paciente poderia apresentar.
Desta forma, é importante manter a atenção na forma como a doença é
comunicada ao paciente. Corroborando a afirmação anterior, quando a doença é
apresentada de forma a excluir o sujeito do setting de tratamento, seja pelo não
esclarecimento ou pela forma utilizada, onde o saber está depositado inteiramente
no outro, neste caso provavelmente na figura do médico, o sujeito pode carregar a
sensação de estar amarrado em uma posição de nada saber. É isso que pode
provocar o levantamento de uma defesa subjetiva ou manter alguma que já se
encontre em ação, como a própria posição de negação, por um período prolongado.
32
Neste terreno da subjetividade, a relação entre a psicologia e a medicina é
uma autoria radical de (Moreto 2011), (Clavreul 1983). Enquanto a primeira
faz da subjetividade o seu foco, a segunda, a medicina cientifica, exclui a
subjetividade de seu campo epidemiológico de uma forma sistemática,
tendo mesmo como ideal uma suposta abordagem objetiva do adoecimento
não enviesada por sentimentos e desejos. ... o problema desta abordagem
objetiva da medicina é que o excluído na teoria retorna, com toda a força
(MORETO apud SIMONETTI, 2011, p.21).
Caso o médico se posicione de tal maneira corre o risco de produzir no
sujeito um movimento indesejado como a recusa ao tratamento ou um não
comprometimento com este, em uma tentativa de se posicionar de forma a fazer
valer sua autonomia, afirmando de certa forma que quem sabe daquela carne é
quem a habita. Poderíamos dizer então que entre médico e paciente se faz
necessário a existência de uma transferência que venha a proporcionar o
tratamento, onde o medico serviria como suporte, criando a possibilidade do
paciente falar sobre as angustias e medos em relação à doença e ao tratamento.
(...) Lacan inscreveu a transferência numa relação entre o eu do paciente e
a posição do grande Outro. Sua problemática ainda não estava em ruptura
total com as leituras psicologizantes do texto freudiano: o Outro continuava
a ser concebido como sujeito e, seu analista podia criar obstáculos ao
estabelecimento ou à consumação da transferência, era em virtude da
ostentação laudatória de seu eu (RUDINESCO, 1944, p.769.)
Não se trata aqui do médico desempenhar o papel de um analista, mas sim,
proporcionar uma relação onde ele e o paciente possam trocar informações em
relação ao tratamento daquele sujeito em questão, que mesmo possuindo uma
doença com sintomas comuns em relação à patologia sempre apresentará aspectos
singulares por ser carregado de subjetividade que podem interferir no curso do
tratamento. É permitindo esta relação interativa que o médico obterá a condição de
identificar alguns aspectos de seu paciente como: seu estilo de vida, seus
comportamentos peculiares e suas dificuldades em relação ao tratamento.
Para Simonetti (2011), o paciente estabelece cinco relações fundamentais
(família, medico, enfermagem, instituição e o psicólogo) sendo estas chamadas de
transferências porque o adoecimento, como fenômeno regressivo, leva a pessoa a
33
estabelecer vínculos segundo modelos já experimentados anteriormente em sua
vida pessoal.
Outro fator que pode colocar- se como empecilho à adesão é a existência
de uma identificação do paciente com a doença, isto porque em determinadas
construções psíquicas a doença pode dar ao indivíduo uma sensação de
pertencimento. A partir da doença o sujeito ganha um lugar marcado, como parte de
um grupo específico. Um exemplo para este movimento subjetivo é o que ocorre
com o diagnóstico de diabetes evidenciado na própria linguagem utilizada pelo
paciente, onde encontram- se no discurso frases como: “eu tenho diabete”,
referindo-se a doença como algo com o que ele tem que conviver. Ou a frase: “eu
sou diabético” onde se apresenta uma inversão de valores, pois o diabetes ganha
caráter constitutivo, como algo que faz parte dele, uma espécie de identidade.
Embora tal posicionamento (identificação) seja mais frequente diante de
doenças crônicas, nada impede que venha a se manifestar em outras enfermidades
dependendo da amarração fantasmática que o sujeito vai produzir.
Segundo esta mesma linha de raciocínio poderíamos, então, supor que
estaria no fantasma à construção subjetiva que prende o sujeito a qualquer uma das
posições na órbita da doença impedindo ou dificultando a adesão ao tratamento? E
se criaria, de acordo com o exposto anteriormente, a partir da chegada a posição de
enfrentamento? É no fantasma que se encontram os “mitos” tanto em relação ao uso
do medicamento como quanto à concepção de determinada doença?
Terminologia utilizada por Lacan, refere-se à realidade psíquica, sendo
assim designa a maneira como o sujeito representa as impressões que recebe tanto
do meio externo como do meio interno. Desta forma é possível entender o fantasma
como aquilo que organiza a vida psíquica e que aparece como um mediador entre o
desejo inconsciente e a realidade (entendendo a realidade como o encaixe entre o
imaginário e o simbólico).
Para que se adquira um corpo na dimensão do real, simbólico e imaginário,
um corpo atravessado pela linguagem, ou seja, para nascer enquanto sujeito se faz
necessário um perda, que Lacan chama de objeto a. Este termo “objeto a” é forjado
por Lacan como forma encontrada para referir-se não a um objeto físico, mas um
34
objeto na ordem da realidade psíquica. O que se perde é um gozo e é este gozo
perdido que lança o sujeito a uma busca, a uma investigação que cria o fantasma.
O fantasma na obra freudiana cumpre a função de cena cujo motor-eixo é o
desejo reprimido. Na ideia de Lacan, o fantasma é sempre procura e
impossibilidade do objeto a, sendo esta colocação formulada na sua álgebra
$ ◊ a. Dentro dessa proposição, o fantasma será então uma palavra através
da qual é possível retomar o sentido da historia individual (VOLNOVICH,
1947, p.40).
O fantasma acompanha todo o processo de estruturação do sujeito, teremos
assim o fantasma da incorporação ligado à fase oral, fantasia de sedução: ligado à
zona anal, a fantasia da cena primária ligada ao visual, da castração que envolve ser
ou não ser castrado onde o objeto é o falo, e a novela familiar que estará ligado a
invocação. Desta forma, o fantasma coloca-se para as histéricas de Freud como um
ponto importante em sua teoria onde por trás do sintoma encontrava-se o fantasma
que lançava-se de alguma forma na tentativa de se cumprir um gozo.
Fazendo uma analogia entre o que nos interessa expor sobre o fantasma
enquanto estruturante, podemos pegar a fantasia da incorporação que se apresenta
entre sujeito (bebê) e o objeto (seio materno) como mediador composto pelo desejo
imaginário, carregada de expectativa pelo encontro com o gozo. Desta forma, a
fantasia fala sobre a forma com que o sujeito se apresenta em relação ao objeto e
aquilo que lhe falta, e em que lugar encontra-se o objeto dentro do contexto
imaginário.
Segundo Nasio (2007), a fantasia é um pequeno romance de bolso que
carregamos sempre conosco e que podemos abrir em qualquer lugar sem que
ninguém veja nada dele. Acontece às vezes de essa fábula interior tornar-se
onipresente e interferir em nosso modo de nos relacionar.
O fantasma enquanto um conceito desenvolvido pela psicanálise indica a
forma como cada sujeito lida com a sua falta e como este se organiza singularmente
em direção ao “objeto a”, ou seja, o objeto perdido. Isto nos possibilita linkar o
fantasma à adesão ao tratamento medicamentoso. Se na doença, o objeto que
ocupa, mesmo que temporariamente e imaginariamente, o lugar do “objeto a” é a
35
saúde perdida, encontraremos no fantasma a forma peculiar de se relacionar, de ir à
busca do objeto.
Dizer que o fantasma encontra-se como base para as demais formas de
resistência permite que venhamos a nos deter em um eixo principal de investigação.
Não se trata de ignorar os estágios pelo qual o sujeito irá passar, mas sim de ter
como possibilidade uma compreensão mais ampla em relação ao sujeito. É o que
proporcionará uma intervenção que consiga dialogar com a realidade psíquica de
cada sujeito a ponto de proporcionar condições para que se alcance um
reposicionamento frente à adesão ao tratamento medicamentoso.
Quando se fala em observar algo que serve ao sujeito como uma base
estruturante como é o caso do fantasma, estamos logicamente afirmando um campo
de intervenção a ser ocupado pela psicologia. Cabe a este, a sensibilidade de
observar o lugar que o sujeito se coloca em relação ao objeto, e caso necessário
auxiliar dando lugar a subjetividade e a erupção da demanda para que este encontre
uma forma de abordagem, no qual consiga trabalhar as questões pertinentes ao
momento no qual se encontra, proporcionando que o fantasma se movimente.
É importante ressaltar que é no fantasma que está alicerçada a concepção
construída pelo sujeito sobre o que é saúde e o que significa adoecer, sobre o
medicamento, sobre a doença específica que carrega, além da forma como busca o
objeto perdido. Daí a necessidade de movimentar a construção fantasmática,
desacomodando as cenas do “pequeno romance de bolso” para que os novos
elementos experenciados pelo autor (informações sobre os medicamentos e seu
uso, a doença e seus prognósticos, podendo incluir novas concepções ao termo
saúde) possam somar-se ao roteiro, possibilitando um desfecho diferente ao
romance.
36
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de conclusão de curso, cuja busca norteadora foi analisar as
questões psíquicas que interferem na adesão ao tratamento medicamentoso, se
iniciou com o objetivo de encontrar um subsídio teórico para lidar com a questão
proposta. A interrogação principal cercou a situação na qual alguns sujeitos, quando
se vêem frente uma doença e cujo tratamento requer a exigência do uso do
medicamento como frente principal na luta contra a doença, não conseguem seguir
as prescrições médicas.
Como ponto de partida a esta investigação utilizamos a teoria psicanalítica
que nos traz uma concepção sobre o corpo que envolve um aparato biológico e a
construção subjetiva que permite ao sujeito apropriar-se da carne pura e transformála dentro do discurso em seu corpo. Ou seja, um corpo subjetivado que, ao
encontrar com as condições do meio externo precisa metaforizar-se através da
função materna e da função paterna para estruturar-se. Assim, construindo na
relação com o outro, um organização corpórea que culminará em um registro real,
simbólico e imagem que lhe garante o status de corpo enquanto corpo de alguém.
Do mesmo modo como o corpo se constitui dentro de uma rede discursiva, o
medicamento também encontra-se atrelado aos discursos que a ele foram
conferidos. Desta forma, o segundo momento do trabalho prestou-se a organização
de algumas informações que julgamos essencial sobre o medicamento, sobre seu
uso, como este aparece na sociedade atual e a concepção do medicamento
enquanto um signo. Analisou-se que tendo a ele atrelado algo que ultrapassa seu
significado, enquanto o que ele é e para que serve, alcançando múltiplas
significações que podem tanto auxiliar como dificultar a adesão.
Desta forma, tanto o primeiro capítulo com sua compreensão acerca do
corpo, como o segundo e as reflexões obtidas em relação ao medicamento e seu
uso, serviram de base à construção do terceiro capítulo, no qual se abordou a
doença e o adoecimento; enquanto um evento que faz com que o sujeito se depare
com algo para o qual não encontra uma representação psíquica pré-estabelecida.
Sendo esta falta de representação a responsável por lançar o sujeito em direção a
37
uma elaboração. Porém, para chegar a alguma construção acerca deste evento no
qual a doença se transforma, será necessário passar por algumas posições, situado
por Simonetti dentro de uma órbita na qual a doença se localiza de modo central e
ao seu redor encontram-se quatro posições possíveis: negação, revolta, depressão
e enfrentamento.
É a partir do momento no qual alcança a posição de enfrentamento que o
sujeito encontra-se em condições de aderir ao tratamento, sendo capaz de seguir a
prescrição médica e o uso correto do medicamento. Porém, para que tenha
alcançado o enfrentamento o sujeito precisou lidar com as questões psíquicas que
interferiam na adesão, situação que pode ser alcançada a partir de uma
movimentação na construção fantasmática do sujeito.
Esta afirmação torna-se possível uma vez que, a pesquisa efetuada nos
deixa em condições de situar o fantasma como estruturante da realidade psíquica,
ou seja, encontra-se no fantasma a forma singular como cada sujeito move-se em
direção ao seu objeto de desejo. Permitindo a construção da hipótese anteriormente
apresentada, de que a mudança nas posições da órbita da doença, assim a adesão
ao tratamento medicamentoso torna-se alcançável através da movimentação na
construção fantasmática.
Assim, o psicólogo ao permitir que o sujeito fale sobre seus desejos,
propondo-se a ouvir sua construção discursiva, encontra-se em posição privilegiada
para visualizar a organização fantasmática que o sujeito dispõe para lidar com o
adoecimento, e consequentemente sua condição de aderir ao tratamento, passando
a adquirir condições de intervir auxiliando o paciente no trabalhar com as suas
construções fantasmáticas.
38
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O que devemos saber sobre
medicamentos, 2010.
AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma historia. Revista
Latino americana de Psicopatologia Fundamental. V. 2, nº 3. 1985, p. 9-45.
BIRMAN, Joel Birmann, Mal estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas
de subjetividade. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasil , 2007.
BLEICHMAR, N.; BLEICHMAR, S. A psicanálise depois de Freud. POA: Artes
Médicas, 1992.
DRÜGG, Angela Maria Schneider; FREIRE, Kenia Spolti; CAMPOS, Iris Fátima
Alves. (Org.) Escritos da clinica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2010.
FREUD, Sigmund. (1920-1922) Além do principio de prazer, psicologia de grupo
e outros trabalhos. RJ: Imago, 1996.
LACAN, Jacques. (1957-1958). O seminário: As formações do inconsciente. Livro
5. RJ : Jorge Zahar Ed., 1999.
LEFEVRE, Fernando. A oferta e a procura de saúde através de medicamento:
proposta de um campo de pesquisa. Saúde publica, SP: 21, p. 64-7,1987.
LEVIN, Esteban, A clinica psicomotora: O corpo na linguagem. RJ: Ed. Vozes,
1995.
NASIO, Juan- David. A fantasia: o prazer de ler Lacan. RJ: Zahar, 2007.
PELEGRINI, Marta Regueira Fonseca. O abuso de medicamentos psicotrópicos
na
contemporaneidade.
Online.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000100006
Acesso: 01/12/2014.
ROUDINESCO, Elizabeth. (1944) Dicionário de psicanálise RJ: Ed., 1998.
39
SCHELLACK,
Gustav,
Farmacologia:
Uma
abordagem
didática.
SP,Ed.
Fundamentos Educativos,2006.
SILVA, Nascimbeni Karolina; SACCO, Ruth da Conceição Costa. Prescrição
medicamentosa no Sistema Único de Saúde brasileiro: uma revisão sob o
olhar
dos
indicadores
de
prescrição.
Online.
Disponível
em:
http://www.cpgls.ucg.br/7mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/Prescri%C3
%A7%C3%A3o%20medicamentosa%20no%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%2
0Sa%C3%BAde%20brasileiro.pdf . Acesso: 01/12/2014.
SIMONETTI, Alfredo, Manual de Psicologia Hospitalar: O mapa da Doença/
Alfredo Simonetti,- 6 ed. – casa do psicólogo,2011.
VOLNOVICH, Jorge. (1947) Lições introdutórias á psicanálise de crianças. CIPBrasil, RJ: Relume – Dumará,1991.