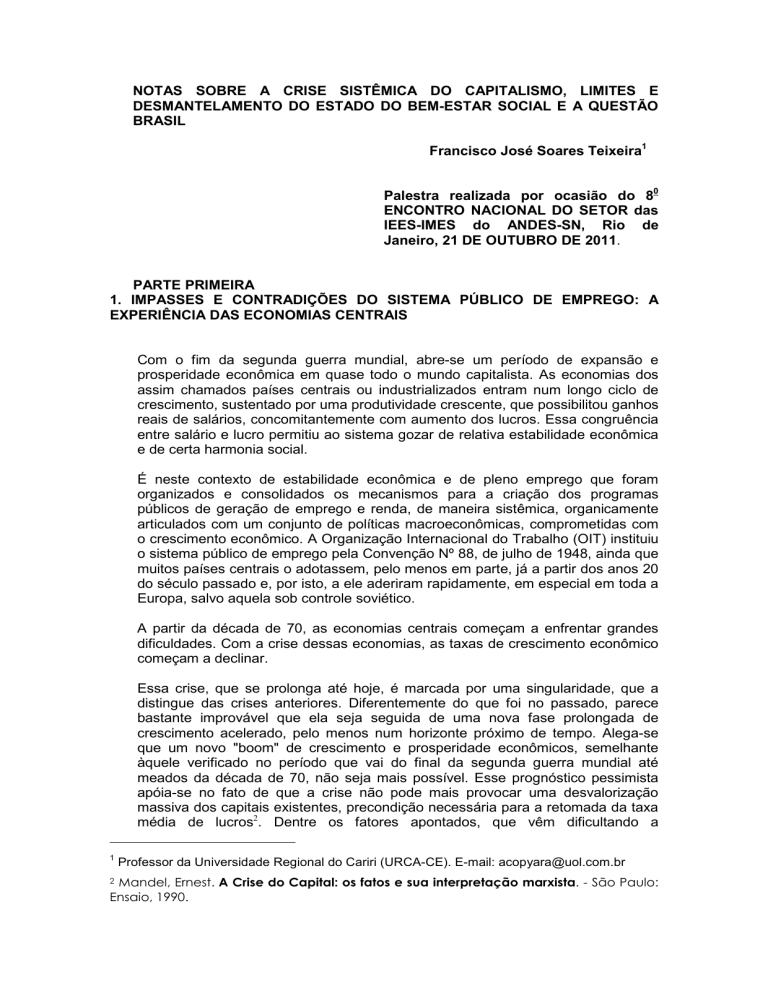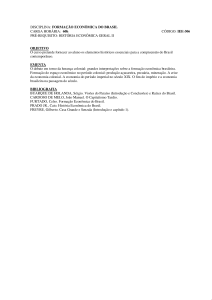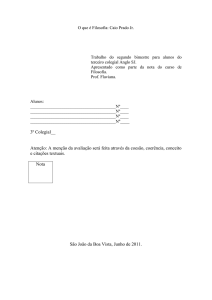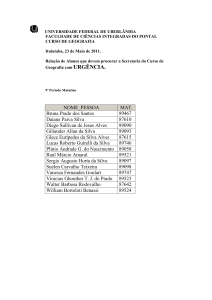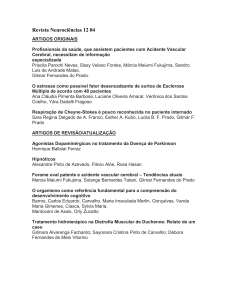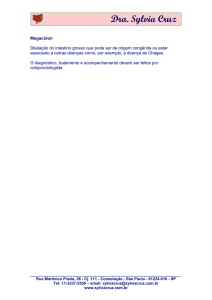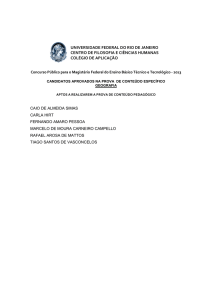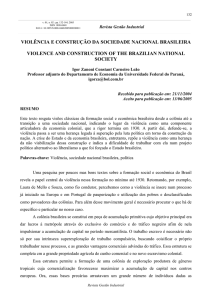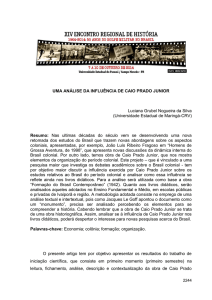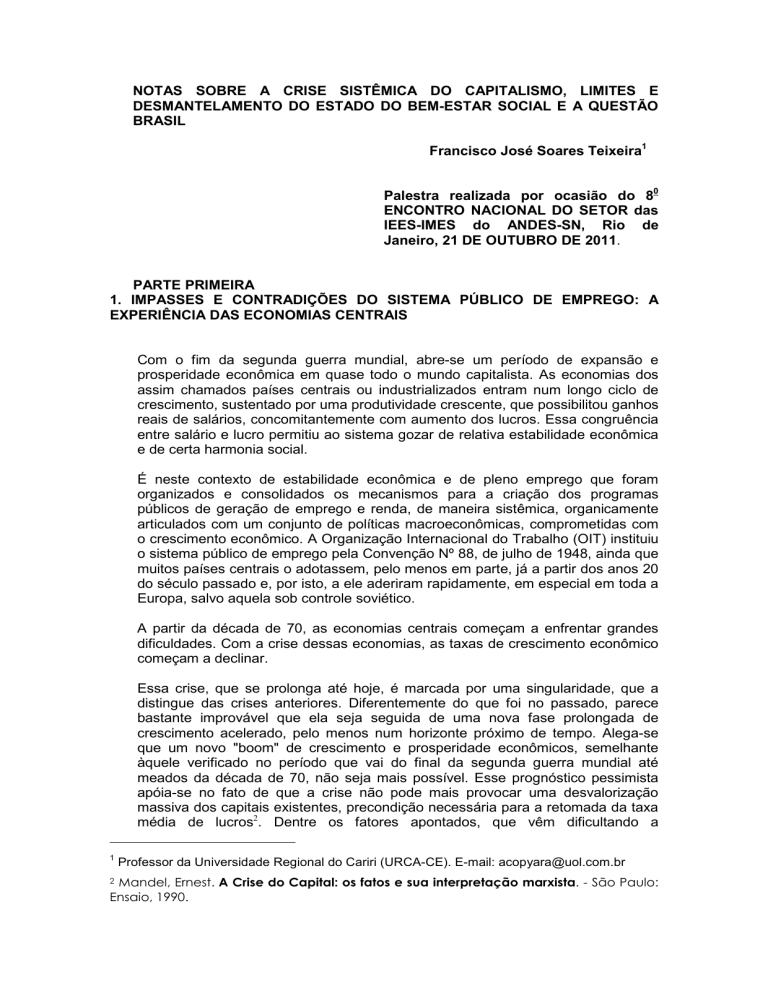
NOTAS SOBRE A CRISE SISTÊMICA DO CAPITALISMO, LIMITES E
DESMANTELAMENTO DO ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL E A QUESTÃO
BRASIL
Francisco José Soares Teixeira1
Palestra realizada por ocasião do 80
ENCONTRO NACIONAL DO SETOR das
IEES-IMES do ANDES-SN, Rio de
Janeiro, 21 DE OUTUBRO DE 2011.
PARTE PRIMEIRA
1. IMPASSES E CONTRADIÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO: A
EXPERIÊNCIA DAS ECONOMIAS CENTRAIS
Com o fim da segunda guerra mundial, abre-se um período de expansão e
prosperidade econômica em quase todo o mundo capitalista. As economias dos
assim chamados países centrais ou industrializados entram num longo ciclo de
crescimento, sustentado por uma produtividade crescente, que possibilitou ganhos
reais de salários, concomitantemente com aumento dos lucros. Essa congruência
entre salário e lucro permitiu ao sistema gozar de relativa estabilidade econômica
e de certa harmonia social.
É neste contexto de estabilidade econômica e de pleno emprego que foram
organizados e consolidados os mecanismos para a criação dos programas
públicos de geração de emprego e renda, de maneira sistêmica, organicamente
articulados com um conjunto de políticas macroeconômicas, comprometidas com
o crescimento econômico. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu
o sistema público de emprego pela Convenção Nº 88, de julho de 1948, ainda que
muitos países centrais o adotassem, pelo menos em parte, já a partir dos anos 20
do século passado e, por isto, a ele aderiram rapidamente, em especial em toda a
Europa, salvo aquela sob controle soviético.
A partir da década de 70, as economias centrais começam a enfrentar grandes
dificuldades. Com a crise dessas economias, as taxas de crescimento econômico
começam a declinar.
Essa crise, que se prolonga até hoje, é marcada por uma singularidade, que a
distingue das crises anteriores. Diferentemente do que foi no passado, parece
bastante improvável que ela seja seguida de uma nova fase prolongada de
crescimento acelerado, pelo menos num horizonte próximo de tempo. Alega-se
que um novo "boom" de crescimento e prosperidade econômicos, semelhante
àquele verificado no período que vai do final da segunda guerra mundial até
meados da década de 70, não seja mais possível. Esse prognóstico pessimista
apóia-se no fato de que a crise não pode mais provocar uma desvalorização
massiva dos capitais existentes, precondição necessária para a retomada da taxa
média de lucros2. Dentre os fatores apontados, que vêm dificultando a
1
Professor da Universidade Regional do Cariri (URCA-CE). E-mail: [email protected]
2 Mandel, Ernest. A Crise do Capital: os fatos e sua interpretação marxista. - São Paulo:
Ensaio, 1990.
recuperação da taxa de lucro, é ressaltada a intervenção estatal. O argumento
usado é mais ou menos o seguinte: o Estado, ao impedir a falência dos capitais
não competitivos, bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas e, assim,
estorva a possibilidade de retomada de um crescimento a taxas próximas àquelas
verificadas nos anos 50 e 60.
Neste novo contexto, as políticas de emprego se transformam em ações voltadas,
preferencialmente, para o funcionamento do mercado de trabalho. Prova disto é a
mudança na composição dos gastos públicos com o trabalho. Realmente, até
meados da década de 70, as despesas com as políticas ativas, voltadas para a
criação de empregos, respondiam em grande parte pelos gastos públicos. Daí em
diante, as despesas passivas ou compensatórias, caracterizadas muito mais pelo
caráter defensivo do que ativo, passam a consumir parcela crescente do
orçamento, como revelam as estatísticas abaixo:
EVOLUÇÃO NA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM O TRABALHO3
POLÍTICAS
ANO
ATIVAS
PASSIVAS
1973
63%
37%
1992
33%
67%
Na verdade, essa mudança é produto de uma transformação mais profunda, expressa
na perda da centralidade do trabalho, tanto como categoria analítica para entender os
processos sociais, assim também como elemento central na organização do processo
produtivo. Essa perda da centralidade do trabalho, de acordo com Azeredo, trouxe
como conseqüência uma brutal economia de trabalho, como também a
substituição de empregos qualificados na indústria por empregos pouco
exigentes em qualificação - e por isso pior remunerados - nos serviços;
trabalho em tempo parcial e trabalho temporário; precarização dos
empregos de forma geral; aumento da informalização no mercado de
trabalho; subemprego; desemprego estrutural.4
Para responder a essa crise do mercado de trabalho, os países desenvolvidos
reestruturam seus sistemas públicos de emprego. No caso dos países escandinavos
(Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca), eles reagiram expandindo o emprego no
setor público. Além disso, adotaram outras políticas para o mercado de trabalho,
mediante programas de
oferta de treinamento, subsídios para a contratação no setor privado e
auxílio para os que se estabelecem por conta própria (...). Os programas
de requalificação para adultos e de aprendizagem por toda a vida, os
incentivos à mobilidade geográfica e de emprego e, ainda, a proteção de
novos tipos de famílias, como aquelas com um só responsável, são
alguns exemplos associados a essa nova tendência5.
Pochmann, Márcio. As Políticas de Geração de Emprego e Renda: experiências
internacionais, in Reforma do Estado e Políticas de Emprego no Brasil/Marco Antônio
de Oliveira (org). - Campinas (SP): Unicamp.IE, 1998.
3
Azeredo, Beatriz. Políticas Públicas de Emprego: a experiência brasileira/ Organização de
Cláudio Salvadori Deddeca - São Paulo: Associação de Estudos do Trabalho - ABET, 1998;
P. 5.
4
5
Idem, ibidem, p. 9.
Outro grupo de países preferiu adotar a linha neoliberal, como os Estados Unidos, a
Grã-Bretânia e a Nova Zelândia. Nestes países, a rede de seguridade social foi
enfraquecida, mais acentuadamente nos Estados Unidos.
Diferente é o caso dos países europeus. Estes passaram a usar a aposentadoria
precoce como instrumento de políticas para reduzir a oferta de mão-de-obra. Mas,
para tanto, foram obrigados a rever o sistema de contribuição, penalizando, assim, a
classe trabalhadora.
Em razão de tudo isso, Azeredo tem razão ao defender a tese de que o Estado social
não foi desmontado, principalmente nos países social-democratas. Mesmo assim, é
obrigada a reconhecer que a
tendência de crescimento do gasto anterior, associada ao período de
montagem dos sistemas no pós-guerra e mesmo de resposta à crise no
início dos anos 70, encerra-se. De fato, desde a metade dessa década
registra-se, principalmente na Europa, uma redução do ritmo de
crescimento dos gastos sociais, redução essa que acelera ainda mais
durante a década de 80, num contexto de adoção de políticas fiscais e
monetárias rígidas6.
Infelizmente, não se pode deixar de reconhecer que todos os países têm adotado
políticas na direção de flexibilizar as relações de trabalho. A justificativa é a mesma:
reduzir o custo do trabalho, com vistas a tornar o país mais competitivo no cenário
imposto pela globalização. Para tanto, os governos dos países desenvolvidos
passaram a adotar medidas para (1) enfraquecer o poder de negociação sindical, ao
mesmo tempo em que buscam reduzir o grau de indexação salarial, (2) facilitar a
contratação por tempo parcial ou determinado, (3) flexibilizar o uso do tempo de
trabalho7.
O Estado acaba, assim, agravando a crise do mundo do trabalho. Para garantir um
mínimo de bem-estar material à classe trabalhadora, a intervenção estatal é obrigada
a tomar medidas de flexibilização, enfraquecendo ainda mais o poder de negociação
do trabalho. Além disso, num mundo de desemprego estrutural crônico, o Estado é
obrigado a rever seus gastos com o seguro-desemprego e outras políticas sociais,
voltadas para proteger o trabalhador dos efeitos da retração do crescimento
econômico. O aumento do contingente de inativos, comprometendo mais ainda a sua
capacidade de financiamento das políticas ativas de geração de emprego.
2. CRISE DO ESTADO SOCIAL
Diante dessa realidade contraditória, cabe perguntar se a reestruturação do das
políticas de emprego não poderia ter tomado outra direção. Vale dizer, o Estado não
teria poder suficiente para assegurar uma política de trabalho comprometida com o
pleno emprego?
Para responder essa questão, ninguém melhor do que Jürgen Habermas, pois é de
dentro do coração da social-democracia que ele fala. Sua tese defende a idéia de que
o Estado social é estruturalmente incapaz de construir novas formas de vida coletivas
e melhores8. De um ponto de vista mais concreto, o Estado é incapaz de quebrar, de
6
Idem, ibidem, p. 14.
7
Pochmann, Márcio. Op. cit.
8
Habermas, Jürgen. Legitimation Crisis. - Boston: Beacon Press, 1975.
forma absoluta, a racionalidade que rege a economia de mercado. Pois a ação estatal
só acontece mediante intervenções ajustadas ao sistema; são atividades de contorno.
Por isso, o Estado social:
[1] tem de deixar intacto o modo de funcionamento do sistema econômico;
não lhe é possível exercer influência sobre a atividade privada de
investimentos, senão mediante ações ajustadas ao sistema;
[2] não pode impedir a racionalização crescente do processo de trabalho
torna a força de trabalho cada vez mais ociosa; vale dizer, o programa social
não pode assegurar uma política de pleno emprego;
[3] é obrigado a limitar sua política de redistribuição da renda a um
realinhamento horizontal dentro do grupo de trabalhadores dependente, pois
não pode tocar na estrutura específica do poder de classe, especialmente na
propriedade dos meios de produção;
[4] como também não pode assegurar lugar ao trabalho como um direito civil.
3. NOTAS SOBRE A CRISE DO SISTEMA CAPITALISTA
Essa incapacidade estrutural do Estado é agravada pela crise do sistema. Tudo indica
que o capitalismo entrou numa fase de desenvolvimento que se aproxima dos limites
de sua capacidade histórica de expansão. Prova disto é o fato de que, hoje, o
"crescimento econômico" se faz muito mais por meio da centralização dos capitais
existentes, do que pela criação ou expansão de novas unidades de capitais. De
acordo com Chesnais9, mais de 60% dos investimentos se dão sob a forma de fusão
de capitais. Além disto, o crescimento da produção de descartáveis revela que a
valorização do capital não se dá mais através da criação de novos mercados. Ao invés
de ampliar o número de consumidores, o capital reduz o período de vida útil das
mercadorias, obrigando os consumidores a repô-las em prazos cada vez menores. A
crescente financeirização da economia passa a dispensar cada vez mais a produção
de valores de uso, como suporte para valorização do valor.
Nesse contexto, a correlação de forças entre capital e trabalho se torna extremamente
assimétrica, de tal sorte que não só é difícil manter as conquistas históricas da classe
trabalhadora, como também avançar com elas, no sentido de criar novos empregos,
relações estáveis de trabalho. Noutras palavras, o capital entrou numa fase de
acumulação sem desenvolvimento10. Como diria Marx, sua missão histórica chegou
ao fim.
Era justamente isso que Lenine tinha em mente, quando publicou seu Imperialismo:
fase superior do capitalismo11. Uma brochura que tinha como objetivo central uma
crítica ao oportunismo da social-democracia. Essa crítica estava ancorada no fato de
que o capitalismo havia atingido uma mundialização sem precedente na história e,
que, por isso, a luta pelo socialismo perdera seu caráter nacional, para se transformar
numa luta pela libertação da humanidade do domínio do capital. Nessa fase, diz
Lenine, o que está em jogo não é mais a luta contra a exploração das burguesias
9
Chesnais, François. A Mundialização do Capital - São Paulo: Xamã, 1996.
10
A esse respeito ver Teixeira, Francisco & Frederico Celso. Marx no Século XXI. São Paulo:
Editora Cortez, 2004.
11
Lênin, V. O Imperialismo: fase superior do capitalismo. – São Paulo: global editora
distribuidora ltda, 1982.
nacionais, mas, sim, contra a burguesia mundial, que partilhou o mundo entre seus
pares, de tal sorte que não havendo mais o que conquistar restava apenas redistribuir
entre eles o que já se encontrava sob seu domínio.
Críticas ao vento! Os oportunistas social-democratas fizeram vista grossa às censuras
de Lênin. Com seus discursos do tipo “dêem-nos 50,1% dos votos e realizaremos
vossos objetivos”, ganharam a confiança da classe trabalhadora e conquistaram não
poucas vitórias políticas e econômicas. Conseguiram transformar o voto censitário
num direito universal; em muitos países europeus, reduziram a semana de trabalho de
72 para 35 horas; ampliaram o sistema de proteção social e, hoje, os inválidos e
doentes contam com serviços de assistência médica e aposentadoria; criaram o
seguro-desemprego; universalizaram a educação; além de outros direitos sociais e
políticos.
Mas é preciso considerar o reverso da medalha. Não se pode esquecer que todas
essas conquistas foram realizadas a um preço muito alto, cujas cifras estão
registradas na História com números indeléveis de sangue e fogo. O balanço é de
Mandel12, para quem a social-democracia internacional, com honrosas exceções,
justificou e facilitou a carnificina de dez milhões de seres humanos durante a Primeira
Guerra Mundial, em nome de pretensas razões de defesa nacional. Os governos
social-democratas, ou com a participação da social democracia, organizaram ou
defenderam guerras na Indochina, Malásia, Indonésia e Argélia. Foram mais longe
ainda. Defenderam práticas de torturas e limitaram as liberdades democráticas na
Índia, Indonésia, Egito, Iraque e Singapura. Protegeram o regime do apartheid na
África do Sul. Participaram da Guerra Fria, além de se tornarem cúmplices das
políticas imperialistas. Em nome do grande capital, apoiaram e organizaram as
políticas de austeridade monetárias e fiscais, que tiveram como consequência o
desmantelamento do Estado Social, que ajudaram a construir.
Não é de admirar que a direita ocupa cada vez mais “cadeiras” nos parlamentos
europeus e no resto do mundo. Caso emblemático desse avanço da direita é a recente
vitória das forças conservadoras nas eleições para o Parlamento Europeu, no dia 7 de
junho de 2009. As razões dessa vitória vêm de longe, bem antes do início da crise
atual. Como apropriadamente esclarece Fiori,
a derrota dos social-democratas e o declínio da esquerda, já vinha de
antes (sic), e não reverteu nestas últimas eleições por uma razão muito
simples: os social-democratas são parte essencial da própria crise.
Relembrando uma história conhecida: a social-democracia européia
abandonou a “utopia” socialista, depois da II Guerra Mundial, e só se
converteu às teses e políticas keynesianas, no final da década de 50. Mas
em seguida, a partir dos anos 70, aderiu às novas teses e políticas
neoliberais hegemônicas até o início do século XXI. E até hoje, na
burocracia de Bruxelas, e dentro do Banco Central Europeu, são os
social-democratas e os socialistas que em geral defendem com mais
entusiasmo a ortodoxia macroeconômica e liberal. Neste momento, por
exemplo, o ministro das Finanças alemão, o social-democrata Peer
Steinbruech, é considerado por todos como a autoridade financeira mais
ortodoxa e radical, nos governos das grandes potencias capitalistas.
Além disto, os social-democratas e socialistas europeus não participaram
da origem do projeto de integração européia, e nunca conseguiram
formular uma visão consensual do projeto de unificação. Portanto, nestas
últimas eleições parlamentares, os social-democratas e socialistas
europeus não podiam ser vistos como uma alternativa frente à crise do
modelo neoliberal, porque eles são de fato uma parte essencial da própria
12
Mandel, Ernest. Situação e Futuro do Socialismo. In O Socialismo do Futuro: revista de
debate político. – Lisboa: Publicações Dom Quixote Ltda. Vol. I, Nº 1, 1990., pp. 84/86.
crise, e além disto, não dispõem de nenhuma proposta específica para os
impasses atuais da União Européia13.
Nessa conjuntura, os donos do capital passam a rejeitar abertamente qualquer
compromisso de classe, que implique alguma influência política sobre os
investimentos privados e a distribuição de renda. É o que faz notar Przeworsky14, ao
reconhecer que,
pela primeira vez em muitas décadas, a direita possui um projeto
histórico próprio: libertar a acumulação de todas as cadeias impostas
pela democracia.
PARTE SEGUNDA
4.A QUESTÃO BRASIL E AS LIÇÕES DE CAIO PRADO JÚNIOR
No Brasil, as coisas não são diferentes; pelo contrário, são até piores. Razões para
isto é que não faltam. O processo histórico de formação da sociedade brasileira deixou
um enorme passivo social. Ninguém melhor para falar dessa dívida social, de suas
determinações histórico-sociais, que Caio Prado Júnior de “Formação do Brasil
Contemporâneo”, um clássico que veio a público no ano de 1942, quando seu autor
contava com 35 anos de idade.
De lá para cá, já são transcorridas mais de seis décadas. Durante esse longo
transcurso de tempo, a sociedade brasileira evoluiu e se modernizou. O País
industrializou-se e transformou-se numa das maiores economia do mundo; em 2010,
de acordo com os economistas especialistas no assunto, o Brasil já ocupava 7%
posição no ranquing das maiores economias do mundo.
Teria o Brasil mudando tanto assim, a ponto de apagar todo e qualquer vestígio da
herança colonial? Ninguém melhor do que o próprio Caio Prado para responder essa
questão. Trinta e cinco anos depois da publicação de “Formação do Brasil
contemporâneo”, em 1977, no adendo de seu “A Revolução Brasileira”, ele
escrevia que o Brasil é um
país que no contexto do mundo moderno (...) não representa mais do que
um setor periférico e dependente do sistema econômico internacional sob
cuja égide se instalou e originalmente organizou como colônia a serviço
dos centros dominantes do sistema. E em função dessa situação se
estruturou econômica e socialmente. É certo que deixamos de ser, em
nossos dias, o engenho e a “casa grande e senzala” do passado, para
nos tornamos a empresa, a usina, o palacete e o arranha-céu; mas
também o cortiço, a favela, o mocambo, o pau-a-pique, mal disfarçados,
aqui e acolá, por aquele moderno em que minorias dominantes e seus
auxiliares mais graduados se esforçam com maior ou menos sucesso por
acompanhar aproximadamente, com o teor de suas atividades e trem da
vida, a civilização de nossos dias.
E prossegue com seu exame da perspectivação do Brasil. Afirma que, apesar das
13
Fiori, José Luis. Entre Berlim e o Vaticano. – Carta Maior, 16 de junho de 2009.
Przeworsky, Adam. Capitalismo e Social-Democracia. - São Paulo: Companhia das
Letras, 1989.
14
adaptações necessárias determinadas pelas contingências de nosso
tempo, somos o mesmo passado. Se não quantitativamente, na qualidade.
Na “substância”, diria a metafísica de Aristóteles. Embora em mais
complexa forma, o sistema colonial brasileiro se perpetuou e continua
muito semelhante. Isto é, na base, uma economia fundada na produção
de matérias-primas e gêneros alimentares demandados nos mercados
internacionais.
Se vivo fosse, hoje, Caio Prado certamente não mudaria muita coisa do que escreveu
em 1977; pelo menos, qualitativamente. A economia brasileira é a maior exportadora
mundial de oito commodities agrícolas, tais como açúcar, café, suco de laranja, soja,
carne bovina, carne de frango, fumo e etanol. É o maior produtor mundial de minério
de ferro e de castanha-do-pará. Hoje, quase 2/3 de suas exportações são do
commodities (agrícolas, minerais e metálicos), oriundas de setores em recursos
naturais. Os restantes 35% representam a participação de manufaturas; mesmo
assim, com poucos itens de alta tecnologia, aptos a competirem em mercados
internacionais mais dinâmicos. Com efeito, em 1989, 45,28% de sua pauta de
exportação era de commodities primárias. De alta tecnologia, o país exportava apenas
10,88%. Quase quinze anos depois, em 2006, a participação dos produtos agrícolas
subiu para 48,40% e a participação de produtos de alta tecnologia permaneceu baixa:
subiu de 10,88%, em 1989, para 12,15%. Comparada com a China, cuja pauta de
exportação é composta por 93% de produtos manufaturados, o Brasil está longe de
ingressar no rol das economias exportadoras de mercadorias intensivas em
tecnologia. Na Índia, o percentual de manufaturados responde por oitenta por cento de
suas exportações.
Como se pode perceber, o Brasil caminha a passos largos em direção a uma
reprimarização de sua pauta de exportações. Em razão disso, perde qualquer controle
sobre os preços de suas mercadorias exportadas, uma vez que dependem das
cotações das bolsas internacionais de mercadorias.
Mas o Brasil não é mais uma economia agrário-exportadora como fora durante a fase
colonial e até princípios dos anos 30 do século passado. É verdade! A partir daqueles
anos, instaura-se um modelo de acumulação “qualitativo e quantitativamente distinto”
do que fora no passado e que passará a depender de uma realização interna
crescente, para falar de acordo com Francisco de Oliveira15. Com efeito, hoje, o Brasil
é uma economia relativamente fechada, que exporta apenas um pouco mais de treze
por cento do seu Produto Interno Bruto (PIB), se comparado com outras economias,
como a Coréia do Sul, que exporta cerca de cinquenta por cento do seu PIB; o México,
quarenta por cento.
Apesar de a economia brasileira, hoje, depender substancialmente do mercado interno
para a realização de sua produção, continua subordinada a decisões que são tomadas
fora de sua esfera doméstica. Dependência reforçada durante o período Kubitscheck,
com o seu “Programa cinquenta anos em cinco”, durante o qual a economia brasileira
é elevada a um novo padrão de relações centro-periferia, num patamar mais alto de
divisão internacional do trabalho. Como assim? No seu governo, Kubitschek promoveu
um processo de industrialização voltado ao mercado interno, porém financiado ou
controlado pelo capital internacional, que passou a exigir, a partir de então, um maior
volume de meios de pagamentos para fazer voltar à circulação internacional de
capitais a parte do excedente que pertence ao capital estrangeiro.
15
Oliveira de, Francisco. A Economia Brasileira: crítica à razão dualista. - Petrópolis: Editora
Vozes: 1987
Novamente, é Caio Prado quem ajuda a entender esse processo. Em seu livro A
Revolução Brasileira, critica a esquerda brasileira, que sempre lutou contra a
dominação imperialista, por não ter se dado conta de que o senhor Kubitschek, na
campanha eleitoral de 1955, apresentava-se como o promotor do grande capital
brasileiro e internacional. Particularmente, este último, pois, diz aquele autor,
é na base do apelo aos grandes trustes internacionais e estímulo às
iniciativas deles no Brasil que, fundamentalmente, se assentava o
programa desenvolvimentista endossado pelo candidato. O que se
comprovaria quando o presidente eleito viajara pela Europa, antes da
posse, entendo-se com grandes grupos internacionais aos quais
oferecia com promessas formais de largo favorecimento por parte do seu
próximo governo, generosa participação nas atividades econômicas
brasileiras. E depois de inaugurado o governo, foi o que se viu e em que
não precisamos aqui insistir. Nunca se vira, nem mesmo imaginara
tamanha orgia imperialista no Brasil e tão considerável penetração do
imperialismo na vida econômica brasileira.
O resultado daquela orgia imperialista não poderia ser diferente do que previa Caio
Prado: atualmente, as multinacionais respondem por 25% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país e por quase metade das exportações brasileiras. E com uma agravante:
a desnacionalização da economia e a sua consequente dependência de decisões de
investimentos tomadas fora de suas fronteiras domésticas. Dependência que também
afeta a política econômica, na medida em que o capital externo, investido no país,
precisa ser remunerado. Por isso, o Estado é obrigado a concentrar esforços para
promover as exportações e assim gerar divisas necessárias para o pagamento de
lucros, dividendos, royalties (direito de patentes) juros, etc., às empresas estrangeiras.
Tais condições explicam por que, hoje, a economia brasileira é marcada por profundas
desigualdades sociais. A concentração de renda e de riqueza no Brasil é chocante. De
acordo com Pochmann, hoje,
somente 5 mil clãs apropriam-se de 45% de toda a riqueza e renda
nacional, embora o país tenha mais de 51 milhões de famílias. Se
considerar somente a parcela da população que se concentra nos 10%
mais ricos, verifica-se que 75% de toda a riqueza contabilizada são por
ela absorvida. Em outras palavras, restam para 90% da população
brasileira somente 25% da riqueza e da renda nacional.
Essa concentração de renda não é uma consequência das políticas neoliberais, que
tomaram conta do país nos últimos 20 anos. Muito pelo contrário. Ainda de acordo
com Pochmann,
já no período da colônia portuguesa durante o século 18 havia 10% da
população responsável pela absorção de cerca de 2/3 da riqueza. Mesmo
com o abandono da condição colonial, passando para a situação de
Independência nacional e pelo regime imperial, o país continuou a
registrar uma incrível estabilidade no padrão excludente de repartição de
renda e riqueza.
A ironia desse processo secular de concentração de renda reside no fato de que
graças a essa apropriação extremamente desigual da riqueza, mais de 30% das
ocupações no Brasil dependem do trabalho prestado às famílias ricas. Valendo-se
mais uma vez de Pochmann, este constata que
20,5 milhões de famílias no Brasil possuem pelo menos um membro
desenvolvendo atividades de prestação de serviços às famílias. Há o
caso, por exemplo, de 4,3 milhões de famílias (7,3% do total) que
possuem dois ou mais membros ocupados no trabalho para famílias. No
ano de 1996, o universo de unidades familiares com a presença de um ou
mais membros exercendo atividades de prestação de serviços às famílias
era de 13,1 milhões, o que equivaleu a 30,6% do total. Em dez anos, a
quantidade de famílias dependentes da prestação para famílias aumentou
56,5%.
Um verdadeiro retrato do Brasil dos barões do café e do açúcar, que dependiam de
uma enorme criadagem para servir a si e a sua família. Fenômeno que se reproduz
no Brasil do século XXI. Atualmente, há famílias que contam até com 20 empregados,
que vão desde o jardineiro, esteticista, passando pelo motorista, piloto de helicóptero,
caseiros, personal trainers, guarda-costas, etc.
Mas por que regressar a um passado tão longínquo? Porque é nele que se encontram
as raízes históricas da formação da classe trabalhadora brasileira, que já nasce
deserdada da produção e consumo, além de excessivamente abundante com relação
às necessidades imediatas da demanda do capital por força de trabalho.
É nas páginas de Formação do Brasil Contemporâneo que essa gênese é
investigada.
Vale a pena conferir.
Durante o período colonial e na fase imperial, quem não fosse escravo nem senhor era
obrigado a viver como gente pobre, composta de indivíduos sem eira nem beira. No
último quartel do século XIX, de uma população estimada de doze milhões de
habitantes, metade era constituída de gente que vivia ao deus-dará. Segundo Caio
Prado, estes deserdados eram formados
sobretudo de pretos e mulatos forros ou fugidos da escravidão; índios
destacados de seu habitat nativo, mas ainda mal ajustados na nova
sociedade em que os englobaram; mestiços de todos os matizes e
categorias, que, não sendo escravos e não podem ser senhores, se vêem
repelidos de qualquer situação estável, ou pelo preconceito ou pela falta
de posições disponíveis; até brancos, brancos puros (...), arrastando-se
na indigência; os nossos poor whites, detrito humano segregado pela
colonização escravocrata e rígida que os vitimou.
Essa massa de desclassificados do sistema colonial já nascera deserdada, uma vez
que não tinha lugar dentro sistema de produção colonial. Parte desses
desclassificados vem da população amazônica. Como explica Caio Prado, são os
tapuias que deixaram de ser silvícolas, e não chegaram a ser colonos; os
caboclos, índios puros ou quase puros de outras partes da colônia, em
situação mais ou menos idêntica, isolados do mundo civilizado que os
cerca e rejeita, e reconcentrados numa miserável economia naturalista
que não vai além da satisfação de suas imperiosas necessidades vitais.
A eles se equiparam negros e pardos que, excluídos da sociedade ativa,
procuram imitar a vida daqueles filhos do continente. Quando fugidos da
escravidão, são os quilombolas, que às vezes se agrupam e constituem
concentrações perigosas para a ordem social, e são a preocupação
constante das autoridades: os temíveis “quilombos”. Numa tal situação
arredada da civilização encontramos também brancos mais ou menos
puros, que expelidos os fugidos dela aproveitam a vastidão do território
para se abrigarem no deserto.
O mosaico social desses excluídos pelo sistema colonial ainda não está completo.
Noutro ladrilho, encontram-se os chamados agregados, formados, segundo Caio
Prado, por aqueles indivíduos que,
nas cidades, mas sobretudo no campo, se encostam a algum senhor
poderoso, em troca de pequenos serviços, às vezes até unicamente de
sua simples presença, própria a aumentar a clientela do chefe e inflar-lhe
a vaidade, adquirem o direito de viver à sua sombra e receber dele
proteção e auxílio. São então os chamados agregados, os moradores dos
engenhos, cujo dever de vassalos será mais tarde proclamado e
justificado, em Pernambuco, num momento difícil e de aguda crise
política.
Finalmente, para completar esse quadro tosco, feito de reboco de gente imprestável
para a sociedade ativa, assenta-se o último ladrilho, feito com as sobras dessa gente
desclassificada pela colônia. Na pena de Caio Prado, são
os desocupados permanentes, vagando de léu em léu à cata do que se
manter e que, apresentando-se a ocasião, enveredam francamente pelo
crime. É a casta numerosa dos “vadios”, que nas cidades e no campo é
tão numerosa, e de tal forma caracterizada por sua ociosidade e
turbulência, que se torna umas das preocupações constantes das
autoridades e o leimotive de seus relatórios (...).
Essa massa de desclassificados, que crescerá com o tempo, são os candidatos que
irão, no futuro, quando o país ingressar na era da industrialização tardia, compor a
chamada superpopulação relativa (SPR) do capital industrial, no sentido de que toda a
produção do valor passa a ser submetida a relações capitalista de produção. Um
imenso reservatório de força de trabalho, que transborda, em muito, a camada
daqueles que Marx denomina de aptos para o trabalho, isto é: o chamado exército
industrial de reserva. Uma reserva superabundante, que deixa de ser um “exército
industrial”, pois não interfere nas leis da acumulação do capital industrial, que se
expande vigorosamente depois dos anos trinta do século passado.
Fato que hoje não há como negar!
É verdade! Mesmo a economia crescendo a uma taxa de quatro a cinco por cento ao
ano, como aconteceu em 2007 e 2008, mal consegue gerar um número suficiente de
postos de trabalho, para empregar a mão de obra que chega ao mercado de trabalho
pela primeira vez. E com uma agravante. Além das elevadas taxas de desemprego,
no Brasil, cerca de dois milhões de pessoas, crianças com menos de 14 anos, que
deveriam estar na escola, estão trabalhando ou procurando trabalho. Não só este
contingente deveria estar fora do mercado de trabalho, como também seis milhões de
aposentados e pensionistas que continuam trabalhando. Para piorar a situação, mais
de três milhões de pessoas têm mais de um emprego, o que reduz as oportunidades
de trabalho para aqueles que chegam ao mercado de trabalho a procura do primeiro
trabalho.
Esse retrato de extrema exclusão social não parece ser muito diferente daquele
registrado e analisado nas páginas de Formação do Brasil Contemporâneo e de A
Revolução Brasileira. Neste último livro, Caio Prado, acusado pela crítica de não ter
olhado para o mercado interno, enxergou muito bem que o padrão de acumulação que
se instaurou no país foi o de um crescimento econômico sem desenvolvimento. Com
razão, afirma que as
atividades econômicas expressivas (...) permanecerão restritas a
reduzidos setores que constituem o pequeno núcleo significativo da
economia brasileira (...). O surto relativamente vigoroso observado nos
pós-guerra, gerador de tantas ilusões “desenvolvimentistas”, e que se
alimentou sobretudo da industrialização
na base da produção
substitutiva de artigos antes importados, alcançou seu limite muito cedo
(...).
E não poderia ser diferente, como diz em seguida, pois
o progresso conseguido, na perspectiva do mundo moderno e dos
padrões de uma economia realmente desenvolvida, é mínimo. Tanto mais
que o sentido que assume esse progresso, é o mais precário e
insatisfatório. O que efetivamente se encontra na sua base e essência é
uma produção orientada para o atendimento de um consumo que, nas
condições do Brasil, se pode dizer suntuário e conspícuo, de reduzidas
parcelas da população.
Caio Prado tem razões de sobra, quando destaca as disparidades desse modelo de
acumulação sem desenvolvimento. “Para não falar em coisa muito pior”, diz ele,
considere-se por exemplo o caso da maior, mais opulenta e
industrializada cidade brasileira, São Paulo, onde alguns reduzidos
setores ostentam seus modernos arranha-céus de arrojadas linhas
arquitetônicas, e seus luxuosos bairros residenciais, em tão violento
contraste com o restante da cidade, e sobretudo seus bairros periféricos
onde se concentra a massa da população, e que nem mesmo se podem
dizer propriamente urbanizados, com suas rudimentares construções
servidas com água de poço em comunicação com as fossas que fazem as
vezes de esgoto, e plantadas ao longo de pseudo-ruas, ou antes
“passagens” desniveladas onde ao sabor do tempo uma poeira sufocante
alterna com lodaçais intransponíveis. É isso a maior parte de São Paulo,
e não como estágio inicial e momentâneo com perspectivas de
modificações em prazos previsíveis, e sim como situação que considera
mais ou menos definitiva. Que dizer então do Rio de Janeiro com suas
favelas, Recife e seus mocambos, Salvador com seus aglomerados de
casebres dispersos por morros e brejos, e outras capitais de quase todo
Brasil com suas multidões andrajosas e depauperadas que rondam
luxuosos palacetes e clubes de piscinas ultramodernas de água filtrada...
Para concluir, cabe ainda observar o que dizia Caio Prado, em 1977. A lição que ele
deixou permanece tão atual que parece estar a escrever nos dias de hoje. Com efeito,
como negar, como assim escrevia naquele ano, que
nos encontramos em fase de nossa história na qual se fazem
profundamente e cada vez mais sentir as contradições entre uma nação e
nacionalidade que procura se libertar de seu passado, e esse passado
que lhe pesa ainda consideravelmente nos ombros. Por mais que um
atroador
neo-ufanismo, misto de publicidades comerciais e de
ingenuidade desprevenida e mal-informada a respeito da realidade desse
mundo em que vivemos, procure impingir idéias de que somos um país
em desenvolvimento e prestes a alcançar os latos níveis de progresso e
civilização contemporâneas, o fato é que infelizmente estamos bem longe
disso (...). Temos uma fachada, não há dúvida, que apresenta certo
brilhantismo. Mas é uma tênue fachada apenas, que disfarça muito mal,
para quem procura verdadeiramente enxergar e não tenta iludir-se, o que
vai por detrás dela neste imenso país de desnutridos, doentes e
analfabetos onde se dispersam ilhados alguns medíocres arremedos da
civilização do nosso tempo.
Para ir além dessa fachada, o Brasil precisa, dizia Caio Prado,e em seguida,
de uma sólida base sobre que assentar a nossa nacionalidade, e que vem
a ser uma população liberta da miséria física e cultural, e capacitada, no
seu conjunto, para usufruir alguma coisa do conforto, bem-estar e
elevação do espírito que a ciência moderna proporciona.
5. A NOVA ESQUERDA BRASILEIRA
Infelizmente, não é assim que pensam os atuais militantes da esquerda brasileira.
Fazendo um contraponto com a primeira parte desta fala, aqueles, diferentemente dos
históricos da antiga social-democracia, que apostaram na possibilidade de construção
de um novo mundo, aqueles não estão mais preocupados em buscar novas formas de
vida, mas, sim, em se agarrarem aos valores e representações existentes como
evidências inquestionáveis de um mundo que não tem mais futuro. São pragmáticos
empedernidos, que se agarram à faticidade do presente existente, para elevá-la à
condição única de toda e qualquer práxis humana. Assim pensam e agem os
sindicatos, ao transformarem suas entidades em agências de empregos e de auxílio
aos seus filiados, com serviços médicos, odontológicos, jurídicos empréstimos
consignados, dentre outras coisas. Não é diferente do que acontece com os partidos
políticos de esquerda. Trocaram os projetos ideológicos de outrora pela administração
do sistema, já que aceitam os fatos do dia a dia como medida do seu agir e pensar.
Mais uma vez procuram iludir as contradições do sistema, ao invés de procurar
desvendá-las em toda a sua profundidade, como advertia Lênin em seu Imperialismo:
fase superior do capitalismo. Da forma mais desavergonhada e desonesta,
enveredam pelo caminho da solidariedade; elegem a urgência como principio motor de
suas ações. Noutras palavras, trocaram a militância política de outrora pela ação
humanitária, pois acreditam que salvar uma vida humana, lidar com o imediato para
enfrentar situações particulares é muito mais importante do que lutar pelo socialismo
... tão distante do presente! Assim, fazem do pragmatismo humanitário uma opção
ideológica.
Quanta hipocrisia! Nisso nada há de opção ideológica, mas, sim, de
puro
conformismo. Nem poderia, pois o capitalismo entrou numa fase de acumulação em
que não é mais possível conjugar crescimento econômico com desenvolvimento
social. Noutras palavras, o capitalismo já deu o que tinha de dar. Não é possível
combater a miséria e o desemprego com políticas oportunistas de estratégia de
sobrevivência, como é o caso da economia solidária, que prefere atuar nas franjas e
brechas do sistema sem romper com a sua lógica perversa. Política oportunista, na
medida em que q tenta produzir valores de uso por meio da compra de mercadorias,
para transformá-los em valor de troca no mercado. Seu voluntarismo oportunista salta
aos olhos quando faz uso do Estado, como se esta instituição fosse um ente público
impessoal, portanto, imune aos interesses de classes. O mesmo acontece com as
políticas afirmativas de gênero e de distribuição de cotas de acordo com o pigmento
da pele da pessoa. Ora, no Brasil, a exclusão social não é um problema de raça, de
etnia, mas, sim, de classes. Se se pode falar de etnia, de raças excluídas, isto vale
para um país como a Bolívia, onde quase setenta por cento da população é composta
de índios, que não participam do mercado nem têm direitos sociais. Mesmo assim,
por trás dessa exclusão étnica, bate latente um problema de classes, cujas raízes vêm
desde os remotos tempos, para falar como Eduardo Galeano, em que os europeus se
lançaram mar adentro e fincaram seus dentes na garganta dessa comarca, que hoje
se chama América Latina.
Esses oportunistas negam-se a encarar a realidade de frente. Esta, como foi obrigado
a reconhecer Celso Furtado, no apagar das luzes de sua existência, não pode mais
ser enfrentada com políticas do tipo de assistência à pobreza, como o faz o programa
Bolsa Família do PT. O mundo mudou, dizia Furtado, e
hoje, mesmo na Europa, não se vê horizonte para uma relativa harmonia
baseada no pleno emprego. Para manter o nível de agressividade das
economias capitalistas tornou-se necessário abandonar as políticas de
emprego. O aumento de produtividade se desassociou de efeitos sociais
benéficos. Esta é a maior mutação que vejo nas economias capitalistas
contemporâneas (Entrevista concedida ao CORECON de São Paulo).
Furtado não é uma voz isolada. Juan Somavia, diretor-geral da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), não acredita que o crescimento econômico possa
gerar postos de trabalho suficientes para acabar com o desemprego. Segundo ele, em
2004, a taxa de crescimento da economia mundial, que foi da ordem de 5,1%, resultou
apenas num aumento de 1,8% no número de pessoas ocupadas. Mas isso ainda não
traduz toda a questão. Até 2015, argumenta Somavia,
cerca de 400 milhões de pessoas se incorporarão à força de trabalho. Isto
quer dizer que mesmo que se consiga um crescimento acelerado do
emprego para produzir 40 milhões de postos por ano, a taxa de
desemprego baixaria apenas 1% em 10 anos”.
No Brasil, as perspectivas para o trabalho são igualmente desanimadoras. Estudos
realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o
mercado de trabalho no Brasil está encolhendo. Uma pesquisa realizada por essa
instituição, na indústria automotiva, revela que, nos anos 80, para uma capacidade de
produção de um milhão e quinhentos mil veículos, este setor empregava 140 mil
trabalhadores. Hoje, para uma capacidade de produção de três milhões de veículos,
as montadoras empregam apenas noventa mil trabalhadores.
Nesse contexto, os famigerados programas de requalificação profissional pouco ou
quase nenhum impacto têm sobre as taxas de desemprego. Com efeito, tais
programas, como assim reconhece Azeredo,
dependem diretamente do desempenho da economia. Além disso, em um
contexto de taxas de desemprego significativas, "a eficiência dos
programas tende a reduzir-se pela disputa de um maior número de
desempregados pelas vagas existentes". Essa é também a opinião de
Kapstein, que afirma que "as políticas microeconômicas, como a
expansão do ensino e do treinamento, são necessárias para equipar os
trabalhadores com as qualificações que lhes permitem reingressar no
mercado de trabalho ou encontrar melhores perspectivas de carreira. Mas
essas políticas e programas são de pouco valor se a economia não
estiver produzindo bons empregos"16.
Além de tais limitações, os programas de qualificação aparecem como um verdadeiro
contra-senso histórico; contra-senso por querer fazer do trabalhador um instrumento
16
Azeredo, Beatriz. Op., cit.,p. 38-39.
de produção estratégico, justamente numa época em que o processo de trabalho já se
transformou em processo de produção, no sentido de que o trabalho deixa de ser a
sua unidade dominante. Mais do que isto, esses programas se movem na direção
oposta à lógica de crescimento da acumulação de capital, cuja tendência é reduzir os
custos salariais na composição das despesas do capital. Ora, a qualificação
generalizada da força de trabalho teria como efeito imediato encarecer o preço desta
mercadoria para o capital, fazendo com que os salários consumissem uma proporção
relativamente crescente do preço de custo do capital. Um absurdo, considerando que
a lei geral da acumulação17 capitalista mostra precisamente o contrário: as despesas
com capital constante (máquinas, equipamentos, matéria-prima etc) crescem
relativamente mais do que os gastos realizados com sua parte variável, isto é: com o
pagamento da força de trabalho.
PARTE TERCEIRA
6. CONCLUSÃO: QUE FAZER?
Essa é uma questão para qual o autor desta fala não tem uma resposta pronta e
acabada. Mas deixa como reflexão o que Marx dizia em seu artigo, de agosto de 1844,
Glosas Críticas Marginais ao Artigo “O Rei da Prússia e a Reforma Social”. De
um Prussiano. Nele afirmava que
“O Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa
vontade da administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades,
de outro, sem eliminar a si mesmo, uma vez que repousa sobre essa
contradição. Ele repousa sobre a contradição entre vida privada e pública,
sobre a contradição entre os interesses gerais e os interesses
particulares. Por isso, a administração deve limitar-se a uma atividade
formal e negativa, uma vez que exatamente lá onde começa a vida civil e o
seu trabalho, cessa o seu poder. Mais ainda, frente à conseqüências que
brotam da natureza a-social desta vida civil, dessa propriedade privada,
desse comércio, dessa indústria, dessa rapina recíproca das diferentes
esferas civis, frente a estas conseqüências, a impotência é a lei natural da
administração. Com efeito, esta dilaceração, esta infâmia, esta escravidão
da sociedade civil, é o fundamento natural onde se apóia o Estado
moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento
no qual se apoiava o Estado antigo. A existência do Estado e a existência
da escravidão são inseparáveis.
“Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é um
país, tanto menos está disposto a procurar no princípio do Estado,
portanto no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a
expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento dos males sociais
e a compreender-lhes o princípio geral. O intelecto político é político
exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política.
Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de
compreender os males sociais”.
Dessas duas passagens fica a lição de que a questão da miséria, da fome, do
desemprego não é uma questão política; mas, sim, social. Noutras palavras, não é na
esfera da política, da boa administração, que se devem buscar as causas dos males
sociais; pelo contrário, estes residem na ordem social. Como tais, não podem ser
erradicados com “políticas” humanitárias de solidariedade do tipo “amigos da escola”,
“criança esperança”, “bolsa família”, ou, com “reformas político-eleitorais”,
“administrativas” etc.
Marx, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. – São Paulo: Nova Cultural, 1985,
Liv I.
17