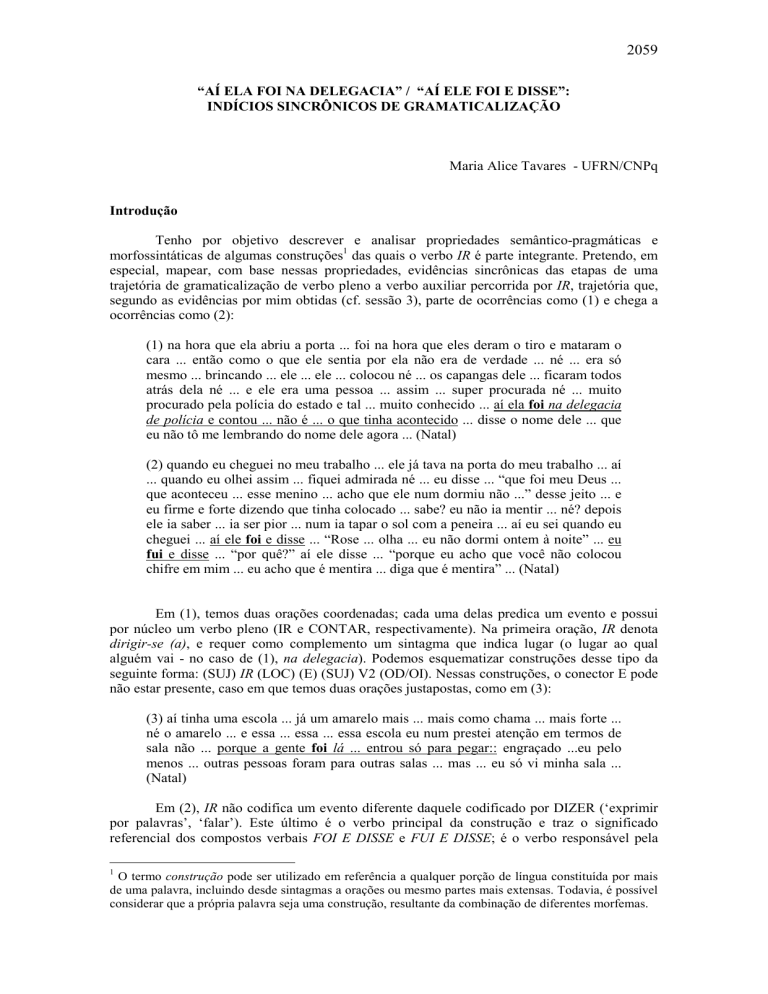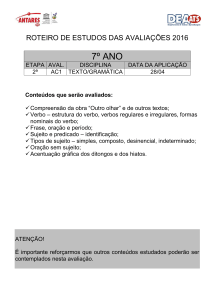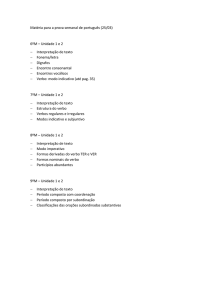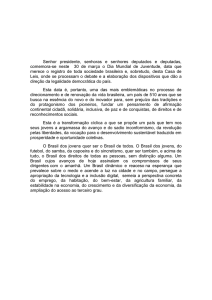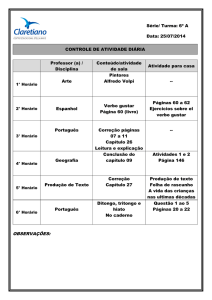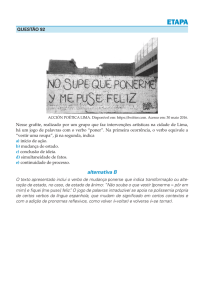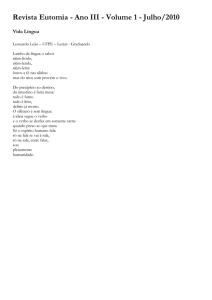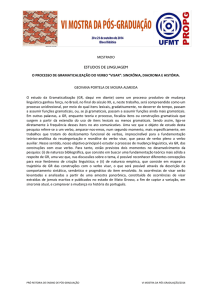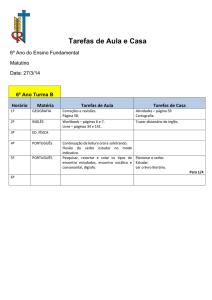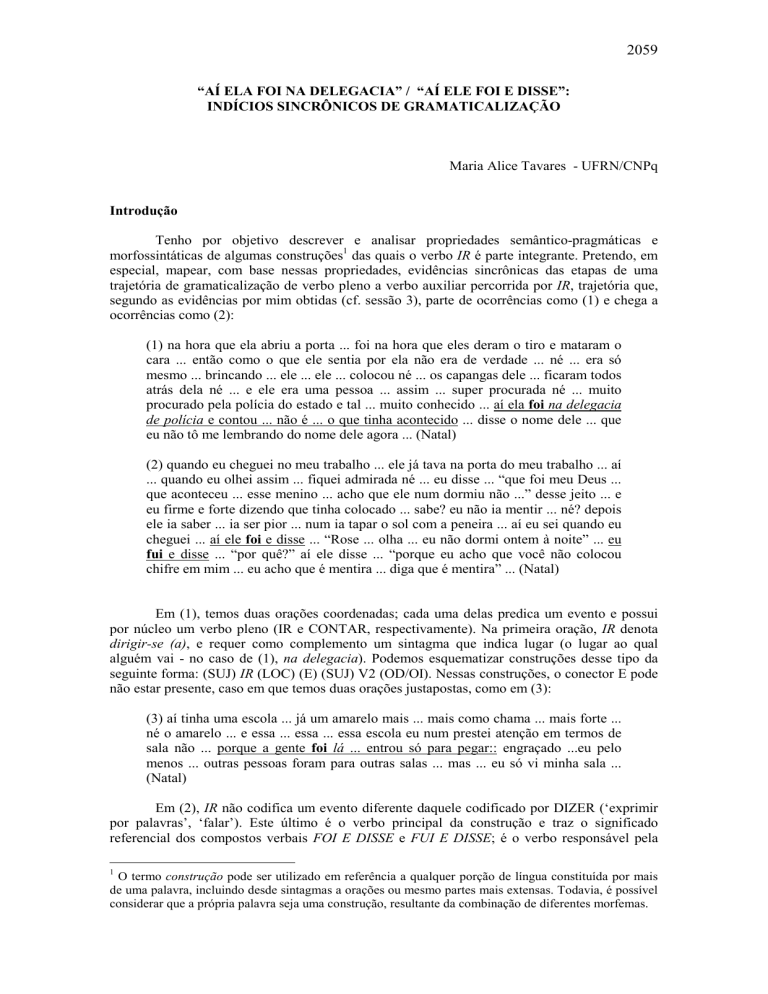
2059
“AÍ ELA FOI NA DELEGACIA” / “AÍ ELE FOI E DISSE”:
INDÍCIOS SINCRÔNICOS DE GRAMATICALIZAÇÃO
Maria Alice Tavares - UFRN/CNPq
Introdução
Tenho por objetivo descrever e analisar propriedades semântico-pragmáticas e
morfossintáticas de algumas construções1 das quais o verbo IR é parte integrante. Pretendo, em
especial, mapear, com base nessas propriedades, evidências sincrônicas das etapas de uma
trajetória de gramaticalização de verbo pleno a verbo auxiliar percorrida por IR, trajetória que,
segundo as evidências por mim obtidas (cf. sessão 3), parte de ocorrências como (1) e chega a
ocorrências como (2):
(1) na hora que ela abriu a porta ... foi na hora que eles deram o tiro e mataram o
cara ... então como o que ele sentia por ela não era de verdade ... né ... era só
mesmo ... brincando ... ele ... ele ... colocou né ... os capangas dele ... ficaram todos
atrás dela né ... e ele era uma pessoa ... assim ... super procurada né ... muito
procurado pela polícia do estado e tal ... muito conhecido ... aí ela foi na delegacia
de polícia e contou ... não é ... o que tinha acontecido ... disse o nome dele ... que
eu não tô me lembrando do nome dele agora ... (Natal)
(2) quando eu cheguei no meu trabalho ... ele já tava na porta do meu trabalho ... aí
... quando eu olhei assim ... fiquei admirada né ... eu disse ... “que foi meu Deus ...
que aconteceu ... esse menino ... acho que ele num dormiu não ...” desse jeito ... e
eu firme e forte dizendo que tinha colocado ... sabe? eu não ia mentir ... né? depois
ele ia saber ... ia ser pior ... num ia tapar o sol com a peneira ... aí eu sei quando eu
cheguei ... aí ele foi e disse ... “Rose ... olha ... eu não dormi ontem à noite” ... eu
fui e disse ... “por quê?” aí ele disse ... “porque eu acho que você não colocou
chifre em mim ... eu acho que é mentira ... diga que é mentira” ... (Natal)
Em (1), temos duas orações coordenadas; cada uma delas predica um evento e possui
por núcleo um verbo pleno (IR e CONTAR, respectivamente). Na primeira oração, IR denota
dirigir-se (a), e requer como complemento um sintagma que indica lugar (o lugar ao qual
alguém vai - no caso de (1), na delegacia). Podemos esquematizar construções desse tipo da
seguinte forma: (SUJ) IR (LOC) (E) (SUJ) V2 (OD/OI). Nessas construções, o conector E pode
não estar presente, caso em que temos duas orações justapostas, como em (3):
(3) aí tinha uma escola ... já um amarelo mais ... mais como chama ... mais forte ...
né o amarelo ... e essa ... essa ... essa escola eu num prestei atenção em termos de
sala não ... porque a gente foi lá ... entrou só para pegar:: engraçado ...eu pelo
menos ... outras pessoas foram para outras salas ... mas ... eu só vi minha sala ...
(Natal)
Em (2), IR não codifica um evento diferente daquele codificado por DIZER (‘exprimir
por palavras’, ‘falar’). Este último é o verbo principal da construção e traz o significado
referencial dos compostos verbais FOI E DISSE e FUI E DISSE; é o verbo responsável pela
1
O termo construção pode ser utilizado em referência a qualquer porção de língua constituída por mais
de uma palavra, incluindo desde sintagmas a orações ou mesmo partes mais extensas. Todavia, é possível
considerar que a própria palavra seja uma construção, resultante da combinação de diferentes morfemas.
2060
seleção argumental: sujeito (quem disse) e objeto (o que foi dito). Podemos esquematizar
construções desse tipo da seguinte forma: (SUJ) IR (E) V2 (OD;OI), ou, mais sinteticamente, IR
(E) V2.2
Em construções como a ilustrada em (2), IR é desprovido de autonomia, pois somente
ocorre junto a um segundo verbo, em uma construção em que a conjunção E é opcional, como
ilustra a ocorrência (4):
(4) entrou um rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela dentro do ônibus...
ela não sabia se aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi...
perguntou assim “vem cá... colega... esse ônibus passa no Tijuca Off Shopping?”
ele falou assim “passa...”
A função de IR em construções como (2) e (4) é indicar a postura do falante a respeito
do evento codificado pelo verbo imediatamente seguinte, revelando como esse falante percebe e
apresenta ao ouvinte circunstâncias ligadas à realização do evento referido pelo segundo verbo
(V2). Nesse papel, o verbo IR pode ser considerado um verbo auxiliar3 indicador de aspecto
global (cf. BECHARA, 2004; TAVARES, 2008), pois ressalta um leque de nuanças semânticopragmáticas que vão desde o caráter repentino, instantâneo ou até brusco da ação expressa pelo
segundo verbo, à tomada de iniciativa do agente em executar essa ação.4 Além disso, IR pode
fornecer indicações avaliativas de caráter ainda mais subjetivo, dentre as quais se destacam a
surpresa, a frustração ou a irritação frente ao evento inesperado, súbito. Essas nuanças
sobrepõem-se em graus variados a cada ocorrência.
Um verbo auxiliar indicador de aspecto global, por apresentar o evento denotado por um
segundo verbo como súbito, inesperado, pontual, relaciona-se, como um subtipo, ao aspecto
perfectivo, o qual é caracterizado como temporalmente delimitado, compacto, de fronteiras
nítidas, com forte associação com o passado. Aspectualizadores globais como IR, ao
codificarem nuanças semântico-pragmáticas ligadas ao caráter pontual, repentino, inesperado de
um evento, acrescentam traços de perfectividade ao verbo principal da perífrase IR (E) V2 ou
então os intensificam, no caso de V2 já os manifestar através de seu significado lexical –
Aktionsart – e/ou de marcas morfológicas de aspecto perfectivo que porta (no caso do português
brasileiro, as marcas indicadoras de pretérito perfeito do indicativo, por exemplo).
A análise que faço é guiada por pressupostos teórico-metodológicos do funcionalismo
lingüístico norte-americano, e tem por base dados recolhidos no Corpus Discurso & Gramática
das cidades de Natal e do Rio de Janeiro (FURTADO DA CUNHA, 1998; VOTRE;
OLIVEIRA, 1995). Utilizei todos os textos de modalidade oral pertencentes a esses dois bancos
de dados, dos seguintes tipos: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de
local, relato de procedimento e relato de opinião.
2
Nos esquemas, temos as seguintes correspondências: SUJ = sujeito; LOC = argumento locativo do verbo
IR; OD = objeto direto; OI = objeto indireto. Os itens entre parênteses podem aparecer codificados
lingüisticamente ou podem estar elípticos.
3
Verbo pleno ou lexical é aquele que possui significado lexical/referencial (isto é, que faz referência a
ações, processos ou estados relacionados aos universos físico, social e cognitivo). Por exemplo, correr em
poderia ter corrido, falar em começou a falar, refletir em vou refletir. Já o verbo auxiliar possui
significado gramatical (indicando tempo, aspecto, modo, etc), como poder, ter, começar e ir nos mesmos
exemplos. Para Payne (1997), se uma língua possui, em um sintagma verbal, um elemento que exibe ao
menos alguma das informações flexionais típicas de verbos mas que é distinto do verbo que expressa o
conteúdo lexical principal da oração, então esse elemento pode ser considerado um auxiliar.
4
Contudo, em vários casos, não é possível atribuir tomada de iniciativa ao referente do nome que
desempenha o papel de sujeito na perífrase IR (E) V2, como em: “Todo mundo votou no Tancredo. O
Tancredo vai e morre, aí fica o Sarney pra bagunçar toda a economia” (Rio de Janeiro).
2061
1. Indícios de Mudança: construções distintas em uma mesma sincronia
O vocabulário das línguas é composto por palavras de dois tipos: lexicais (de conteúdo)
e gramaticais (funcionais). Palavras lexicais codificam conceitos relativamente estáveis e
culturalmente partilhados: elas referem-se a coisas do universo humano – entidades, ações,
qualidades –, em seus aspectos biofísicos e sócio-culturais. Costumam ser consideradas palavras
típicas do âmbito lexical os nomes e os verbos. Em contraste, as palavras gramaticais atuam na
organização dos itens lexicais no discurso, participando da estrutura gramatical das orações.
Como tal, desempenham papéis variados, entre os quais se destacam: relacionar nomes
(preposições), interligar partes do discurso (conjunções), indicar se as entidades e participantes
de um discurso já foram identificados ou não (pronomes e artigos), mostrar se eles estão
próximos do falante ou do ouvinte (demonstrativos), indicar tempo, aspecto e/ou modo (verbos
auxiliares, clíticos, afixos, entre outros), sinalizar papel semântico, gênero e número (clíticos,
afixos) etc
Através de um processo denominado gramaticalização, uma palavra lexical pode passar
a ser empregada em função gramatical, ou uma palavra que já desempenha função gramatical
pode vir a adquirir uma nova função na gramática da língua. Todavia, como aponta Lehmann
(1992, p. 406), “[...] a gramaticalização não apenas atinge uma palavra ou morfema [...] mas
toda a construção formada pelas relações sintagmáticas do elemento em questão.” Também para
Traugott (2003), a gramaticalização tem sua origem em certas construções morfossintáticas
específicas. Ou seja, o desenvolvimento de funções gramaticais é modelado pelas construções
morfossintáticas em que uma dada palavra ocorre, e, portanto, na busca de indícios acerca de
trajetórias de mudança por gramaticalização, urge observar detalhadamente propriedades dos
usos fontes e alvos não apenas no que diz respeito à palavra isolada.
Assim, neste estudo, não levo em consideração apenas as alterações sofridas pelo verbo
IR, que migrou de usos como verbo pleno lexical para usos como verbo auxiliar indicador de
aspecto global, mas também considero diferentes construções em que esse item figura. Ou seja,
proponho a busca não só de evidências acerca dos desenvolvimentos do verbo IR de modo
isolado, mas também dos desenvolvimentos de construções mais amplas das quais esse verbo é
parte integrante, seja como verbo lexical, seja como verbo auxiliar indicador de aspecto global.
Para o funcionalismo, a gramática é um processo dinâmico e emergente, resultante de
regularidades advindas das pressões de uso. A organização gramatical é fruto da negociação e
da adaptação, no discurso, entre a intenção do falante e a interpretação do ouvinte, com base em
suas experiências particulares com a língua e em sua avaliação do quadro de interação em que
estão engajados no momento. A necessidade de ajuste das diferentes experiências leva à
negociação de estratégias de construção do discurso à medida que a troca comunicativa avança.
Como conseqüência das adaptações que sempre se fazem necessárias, podem surgir estratégias
inovadoras que, se forem freqüentemente repetidas, fixam-se como construções gramaticais.
Esse movimento de rotinização gramatical é denominado gramaticalização, que pode ser
definida como o processo de regularização gradativa pelo qual um item lingüístico
freqüentemente utilizado em contextos comunicativos particulares adquire função gramatical ou
pelo qual uma palavra ou construção já pertencente ao rol de elementos gramaticais de uma
língua migra para uma nova função gramatical. As mudanças envolvidas na gramaticalização,
tanto as morfossintáticas quanto as semântico-pragmáticas, são induzidas pelos contextos de uso
das formas relevantes. A gramática é constantemente alimentada pela rotinização dessas
inovações – estratégias lingüísticas e recursos retóricos envolvendo itens lexicais e/ou
gramaticais que, de inicialmente criativos e expressivos, tornam-se habituais, enraizados, por
aparecerem com freqüência em certo tipo de contexto comunicativo.
Na lingüística funcional, os estudos sobre a gramaticalização têm ocupado um lugar de
destaque desde a década de 80. Ela tem sido contemplada da perspectiva diacrônica,
investigando-se os usos fontes dos itens gramaticais e as trajetórias das mudanças que os
afetam, através do recorte de diferentes períodos de tempo e da comparação dos estados de
língua encontrados em cada um desses períodos. Para Heine (2003), por exemplo, a
gramaticalização é “um campo diacrônico no sentido exato: não apenas permite reconstruções
históricas como também torna possível, dentro de limites, prever desenvolvimentos que
2062
acontecerão futuramente”.
Todavia, em alguns casos, tem sido necessário recorrer à perspectiva sincrônica,
analisando-se fontes e trajetórias com base em dados de uma só época, procedimento adotado
em especial quando registros da forma a ser investigada são encontrados apenas em amostras de
fala ou de escrita contemporâneas, tornando impossível, portanto, voltar o olhar ao passado
como fonte de informações. Esse é o caso do verbo IR na perífrase IR (E) V2. Como os usos do
verbo IR na indicação de aspecto global, nos dias de hoje, predominam na fala,5 é provável que
dados históricos desse tipo sejam esparsos porque, presumivelmente, esse uso sempre foi mais
restrito à língua oral.
Itens ou construções gramaticais são frutos da evolução do material lingüístico e os sinais
da sua história são manifestados em sua forma e seu significado, em qualquer ponto sincrônico.
Um dos efeitos da gramaticalização é essa persistência, isto é, o fato de que nuanças semânticopragmáticas e mesmo morfossintáticas de uma construção fonte lexical são passíveis de serem
retidas por bastante tempo por suas herdeiras gramaticais. Essa retenção de especificidades de
usos anteriores permite a recuperação da história do material gramatical, revelando não somente
informações acerca de sua fonte, mas também acerca dos estágios ao longo de seu percurso de
desenvolvimento. Assim, mesmo na ausência de evidência direta ou no caso de evidências
esparsas acerca da fonte e das trajetórias seguidas por uma dada forma, estas podem ser
divisadas através dos múltiplos usos atualmente dados à forma, entendidos como estágios de
possíveis percursos de gramaticalização. Nas palavras de Givón (1979) “(...) os vestígios da
mudança lingüística estão dispersos, como relíquias de outrora, ao longo da paisagem
sincrônica”. E de Sweetser (1990): “a polissemia sincrônica e a mudança histórica de
significado realmente fornecem os mesmos dados” de diferentes maneiras.
Essa linha de investigação sincrônica adota a concepção metodológica de que existe uma
tendência de isomorfismo entre o desenvolvimento diacrônico do processo de extensão
funcional de uma certa palavra e as relações sincrônicas entre as funções desempenhadas por ele
em diferentes construções. Ou seja, as múltiplas ocorrências do verbo IR na fala atual podem ser
tomadas como elos em uma cadeia de gramaticalização, que tem, em uma extremidade, usos
como verbo pleno (a exemplo dos dados (1) e (3)) e, na outra, usos como verbo auxiliar (a
exemplo dos dados (2) e (4)).
2. Em Busca dos Indícios Sincrônicos da Mudança
De todas as milhares de palavras de uma determinada língua, apenas um pequeno
conjunto parece estar propenso a adentrar o domínio gramatical. Heine et al. (1991) apontam
que os candidatos principais à gramaticalização são, quanto ao significado, aqueles que se
referem a universais da experiência humana, representando aspectos concretos, básicos e gerais
para a orientação no meio ambiente, capazes de evocar múltiplas associações (por exemplo,
tendem a ser gramaticalizados não verbos de movimento mais específico como caminhar ou
nadar, mas verbos de movimento mais geral como ir e vir). Essas propriedades os tornam
ampliáveis para a referência a conceitos menos concretos e facilitam seu emprego como parte de
construções diversas, sujeitas a entrarem para a gramática. Destacam-se como possíveis fontes
para a migração rumo à gramática, entre outros, os itens lexicais que designam partes do corpo;
verbos dinâmicos, de postura e de processos mentais; quantificadores; demonstrativos básicos,
etc. O verbo IR possui, como verbo lexical, o traço de dinamicidade: indica deslocamento físico.
É, portanto, um bom candidato à gramaticalização. Além disso, IR enquadra-se no pequeno
conjunto das fontes mais recorrentes, nas línguas em geral, para a emergência de novos verbos
auxiliares, conjunto esse que engloba, em especial, verbos de deslocamento (caso de IR),
instância, ação física e volição (BYBEE et al. 1994).
5
A perífrase IR (E) V2 aparece também na escrita, em gêneros textuais que possibilitam a manifestação
de um estilo mais informal, mais próximo da conversação cotidiana, caso das tirinhas e histórias em
quadrinhos, em que ocorrem tentativas de imitação da fala, e da transcrição de entrevistas orais – gêneros
nos quais a porta está aberta a traços de oralidade (cf. TAVARES, 2008).
2063
A evolução de formas lingüísticas rumo à gramática acontece em trajetórias que, via de
regra, partem de significados concretos/lexicais rumo a significados gradualmente mais
abstratos/gramaticais. Sendo assim, as prováveis construções fontes dos usos de IR como
indicador de aspecto global são aquelas em que ocorrem seus usos como verbo lexical de
significado concreto, referindo-se ao deslocamento físico de um agente num espaço: pôr-se na
direção (de), dirigir-se a, acepção essa que geralmente aparece em primeiro lugar nos
dicionários.
No entanto, não são quaisquer construções em que IR com o significado de pôr-se na
direção (de), dirigir-se a aparece que podem ser consideradas como fontes de seu emprego
como indicador de aspecto global, e sim as construções coordenadas do tipo destacado em (1).
O uso de IR como verbo principal (isto é, núcleo de sintagma verbal) no primeiro membro de
um par de orações coordenadas manifesta características em comum com seu uso como
indicador de aspecto global (construções sublinhadas em (2): em ambas as construções, há dois
verbos flexionados no mesmo tempo, aspecto e modo, o primeiro dos quais é IR, e a presença da
conjunção E interligando as duas metades de cada estrutura (embora essa presença não seja
obrigatória em nenhuma das duas construções, como ilustram as ocorrências em (3) e (4)).
As similaridades morfossintáticas entre as construções exemplificadas em (1) e (2) são
fortes evidências de que estão em jogo ocorrências lingüísticas que derivam historicamente uma
da outra. Portanto, minha hipótese é que IR inicia seu percurso de mudança partindo da função
de verbo principal no primeiro par de um conjunto de duas orações coordenadas (como em (1))
e chegando à função de verbo auxiliar na construção IR (E) V2.
Obviamente, pelo fato de a construção esquematizada como (SUJ) IR (LOC) (E) (SUJ)
V2 (OD/OI) representar duas orações coordenadas ou duas orações justapostas, e a construção
esquematizada como IR (E) V2 representar uma perífrase verbal, há diferenças salientes entre
elas, resultantes da natureza do primeiro verbo de cada uma, IR. Distintamente de seu
comportamento como verbo lexical denotador de deslocamento no plano físico, IR, como verbo
auxiliar que indica aspecto global, não seleciona um circunstanciador locativo. Além disso, em
contraste com a estrutura em (1), na estrutura em (2) há não dois mas apenas um sintagma
nominal sujeito, que pertence à construção: ele é selecionado pelo segundo verbo (o principal), e
posicionado antes do primeiro verbo (o auxiliar), conforme o padrão de colocação de sintagmas
nominais sujeitos em perífrases verbais no português.
Portanto, embora traços de orações coordenadas sejam visíveis na perífrase IR (E) V2, a
construção foi se modificando paralelamente às alterações sofridas pelos verbos no plano do
significado. Como afirma Heine (2003), já que os itens que sofrem gramaticalização são parte
das construções em que são usados, ela também pode ser considerada responsável por muitos
tipos de mudança sintática. O autor fornece o seguinte exemplo, entre outros: se um verbo
significando ‘dar’ é gramaticalizado como preposição benefactiva ou dativa, isso leva a uma
mudança de um sintagma verbal composto por verbo mais sintagma nominal para um sintagma
preposicional (com uma preposição mais um sintagma nominal). No caso da gramaticalização
de IR como verbo auxiliar, ocorre uma mudança de uma oração coordenada (em que o verbo é
pleno) para um sintagma verbal perifrástico (em que o verbo é auxiliar).
Contudo, a gramaticalização não acontece abrupta e repentinamente como se as formas
saltassem repentinamente de uma função lexical a uma gramatical, e sim se desenvolve de modo
lento e gradual, envolvendo estágios de alternância do tipo A > A/B > B, em que esse estágio
A/B representa a ocorrência de usos híbridos, ambíguos. A gramaticalização exibe, portanto,
uma estrutura de encadeamento: a extensão funcional de um item lingüístico é um processo
cíclico em que emergem novas construções gramaticais análogas mas não idênticas aos
exemplares pré-existentes. A cada etapa sucessiva, o item difere minimamente em função.
Segue daí que a mudança é de natureza incremental e quase imperceptível aos usuários da
língua. No caso de IR, são indícios de estágios A/B as ocorrências de construções ambíguas
entre polipredicação em orações coordenadas e monopredicação em perífrases verbais. Nessas
construções ambíguas, vestígios do sentido original de deslocamento e/ou certas características
morfossintáticas típicas de verbos lexicais podem ainda ser detectadas em IR, ao lado de traços
de indicação de aspecto global.
2064
Pelos indícios que obtive na amostra de dados considerada, IR deve se gramaticalizar
como auxiliar num processo de abstração crescente com as seguintes fases principais: (i) parte
de usos concretos, referindo-se ao deslocamento físico de um agente que o leva a atingir um
ponto no espaço; (ii) passa por usos ambíguos, em que são possíveis duas leituras, uma em que
o verbo é entendido como lexical, denotando deslocamento físico, ou outra em que é entendido
como auxiliar, fornecendo indicações da postura do falante frente ao evento referido pelo
segundo verbo; e, finalmente (iii) torna-se um auxiliar indicador de aspecto global. No ponto de
partida desse processo, IR refere-se a um evento. No ponto final, em que IR é auxiliar, não o faz.
Nesse processo de mudança, esse verbo passa por uma série de alterações não apenas no
plano do significado, mas também no que diz respeito à sua estrutura argumental. IR, como
verbo pleno da primeira oração de um par coordenado ou justaposto, seleciona os argumentos
sujeito e local. Como verbo auxiliar, deixa de selecionar argumentos, papel que é exercido
apenas pelo verbo principal da construção, o segundo verbo (V2).
Encontrei, na amostra de dados, construções ambíguas, similares à construção fonte
ilustrada em (1), mas com certos traços que as diferenciam desta, o que me faz considerá-las
como elos recuperadores de estágios intermediários da trajetória de mudança percorrida por IR.
Vejamos os exemplos de (5) a (8).
(5) aí dentro de dez minutos ela resolveu falar o que tinha acontecido... ela disse
que tinha comprado uma máquina... de costura... né? foi ela... meu pai... e... meu
cunhado... comprar uma máquina de costura... lá na... Ultralar... aí eles foram...
compraram a máquina... só que... não vieram... direto para casa... ainda foram na
loja onde meu cunhado trabalha... Casa Mattos de Campo Grande... (Rio de
Janeiro)
(6) a gente tinha ido pra:: Baixa Verde ... aí lá tinha uma vaquejada ... meu pai foi
... começou a beber ... começou a beber ... isso a gente tinha um Passat ... sabe?
começou a beber ... e minha mãe morrendo de medo porque ... ele ia beber muito e
pra voltar ... de noite era muito perigoso ... (Natal)
(7) aí vem aquela falta de consciência ... a gente vê que nos interiores ... quando
chega a época de eleição ... o que é que faz? podem ter duas pessoas boas
candidatas ... que acontece o seguinte ... eles compra o voto ... pega lá ... vai ... dá
um dinheiro e diz “olhe ... vote em fulano” ... ele vai e vota ... num sabe pra quê ...
mas vivem em condições miseráveis ... eles têm um dinheirinho a mais ... eles não
vão negar ... quer dizer ... o ... daí já lhe tira o direito de ... de escolher (Natal)
(8) aí a noviça falou pra onde é que eles tinham ido né ... ela tinha caído no meio
do caminho ... e o carro da freira vinha atrás ... ela falou pra onde eles tinham ido
né ... a freira chamou ... no caso a madre né ... que ela não gostava muito dela ...
mas com o passar do tempo ela foi né ... gostando dela ... foi passando a se
acostumar com ela ... com o jeito dela e tal ... então a madre foi e chamou todas as
freiras né ... pra irem lá ... pra irem tentar salvar ela né ... e entrou aquele montão
de freira dentro do local ... já era super cheio ... cheio de gente né? invadiu assim
pela porta aquele montão de freira pra procurar ela ... aí se espalharam ... (Natal)
Nos dados (5) e (6), IR parece ser lexical, denotando deslocamento físico, mas o
complemento locativo está elíptico. Esse tipo de construção também permite a interpretação de
IR como auxiliar indicador de aspecto global, especialmente em (6): é possível a leitura de que o
pai teria tomado a iniciativa de começar a beber (o que seria frustrante para o informante,
conforme o contexto) e teria bebido de um modo intenso, isto é, teria consumido uma grande
quantidade de bebida (a repetição de começou a beber auxilia a que se chegue a essa
interpretação).
Em (7), a primeira construção destacada é ambígua: alguém vai fisicamente até o eleitor
e lhe dá um dinheiro ou alguém toma a iniciativa (frustrante para o informante) de dar dinheiro
ao eleitor? Na segunda construção destacada, a leitura auxiliar é favorecida (o eleitor toma a
iniciativa – surpreendente e frustrante para o informante, e vota). Relativamente a essa segunda
construção, um indício extra de que se trata de um verbo IR indicando aspecto global é o maior
2065
amarramento dos elementos que compõem a construção: não há pausa entre o verbo IR e o
restante da construção, diferentemente da primeira construção destacada em (7). O dado (8)
apresenta o mesmo tipo de ambigüidade: a madre repentinamente chamou (ou decidiu chamar)
as freiras ou deslocou-se até onde estavam as freiras e as chamou?
Já de (9) a (12), temos ocorrências claras de IR auxilia indicador de aspecto global, isto
é, o falante atribui um caráter repentino, instantâneo, imediato, ou até brusco para a ação
expressa pelo segundo verbo, ou ressalta a tomada de iniciativa do agente (representando pelo
sujeito desse verbo) em executar essa ação, nuanças essas que podem estar sobrepostas. Além
disso, podem estar sobrepostas ainda indicações a respeito das sensações do falante frente ao
evento referido pelo segundo verbo, sensações como surpresa, espanto, frustração, irritação.
(9) entrou um rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela dentro do ônibus...
ela não sabia se aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi... perguntou
assim “vem cá... colega... esse ônibus passa no Tijuca Off Shopping?” ele falou
assim “passa...” (Rio de Janeiro)
(10) e ele fez como se ele tivesse uma arma... ela não sabia se... se ele estava com
uma ar/ primeira vez que ela tinha sido assaltada... o relógio que ela ainda nem tinha
acabado de pagar... tinha comprado há pouco tempo... aí ele falou assim “você vai
passar o relógio...” aí ela falou assim.../ aí ela ficou quieta... ficou sem ação... foi e
passou o relógio... ele falou assim “você não vai gritar... não vai fazer escândalo
nenhum porque eu sei onde tu vai saltar... se você gritar você vai ver só o que vai
acontecer com você...” (Rio de Janeiro)
(11) é engraçado que o brasileiro é muito otimista... acha que::... pior não pode
ficar... e acaba sempre ficando... né? foi... foi o Sarney::... né? tipo... todo mundo
votou no Tancredo... o Tancredo vai e morre ((riso)) aí fica o Sarney pra bagunçar
toda a economia... aí depois... é o Collor... né? que não precisa nem falar... que o
assunto está mais que discutido... a pouca vergonha que acontece... (Rio de Janeiro)
(12) então teve um dia que ele foi no barbeiro... ele estava sentado... aí pagou o cara
logo antes de cortar... aí o cara começou a cortar... inclusive até um senhor de
idade... né? estava cortando... cortando o cabelo dele... e ele está lá... sentado... né?
daqui a pouco... o barbeiro foi e se levantou... e entrou numa salinha... né? e ele
pensou que o barbeiro já tinha acabado de cortar o cabelo dele... né? na verdade o
barbeiro tinha ido lá dentro ido amolar ((riso de E)) a tesoura... né? aí ele foi
embora... ele disse que foi embora... chegou em casa... na rua todo mundo rindo
dele... (Rio de Janeiro)
Considerações Finais
Neste estudo, apontamos que as similaridades entre a construção coordenada ou
justaposta em que o verbo IR é o verbo principal da primeira oração e a construção perifrástica
em que o verbo IR é auxiliar indicador de aspecto global podem ser tomadas como fortes
indícios sincrônicos de que o segundo tipo de construção deriva do primeiro. Além disso,
mostramos que construções como as ilustradas de (5) a (8), em que o argumento locativo está
elíptico, podem ser consideradas elos intermediários nesse processo de gramaticalização de IR
como auxiliar indicador de aspecto global, pois tais construções favorecem a ambigüidade, porta
de entrada para a mudança. Observamos que construções desse tipo apresentam diferentes graus
de ambigüidade, sendo, em alguns casos, difícil estipular se está em jogo o verbo IR pleno com
argumento locativo elíptico, ou o verbo IR auxiliar desprovido de argumentos.
Na continuidade do estudo do fenômeno em causa, as construções que foram
identificadas como possíveis fontes ou etapas intermediárias da gramaticalização do verbo IR
como indicador de aspecto global serão submetidas a tratamento quantitativo, considerando-se
uma série de fatores (como modalidade de língua, tipo de discurso, traço semântico-pragmático
de V2, identidade do sujeito, identidade do objeto direto, grau de transitividade de V2, tipo de
TAM, presença da conjunção E, presença de pausa entre V1 e V2, presença de material
interveniente entre V1 e V2 entre outros). Esse procedimento permitirá conhecer com mais
2066
detalhe as propriedades semântico-pragmáticas e morfossintáticas dos usos fontes e verificar
quais delas persistem nos usos alvos, trazendo importantes esclarecimentos acerca do processo
de gramaticalização em questão.
Referências
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.
BYBEE, J. et al.The evolution of grammar. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
FURTADO DA CUNHA, M. A. (Org.) Corpus Discurso & Gramática. Natal: EDUFRN, 1998.
GIVÓN, T. On understanding grammar. New York: Academic Press, 1979.
HEINE, B. Grammaticalization. In: JANDA, R.; JOSEPH, B. (Eds.) The handbook of historical
linguistcs. Oxford: Blackwell, 2003. p.624-647.
LEHMANN, W. P. Workbook for historical linguistics. Dallas: SIL/University of Texas,
1995[1992].
PAYNE, T. Describing morphosyntax. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
SWEETSER, E. From etymology to pragmatics: metafhorical and cultural aspects on semantic
structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
TAVARES, M. A. Perífrases [V1 (E) V2] em gêneros escritos: propostas para um ensino de
gramática baseado no texto. Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 11, n. 2, p. 329-347, jul./dez.
2008.
TRAUGOTT, E. C. Constructions in grammaticalization. In: JANDA, R.; JOSEPH, B. (Eds).
The handbook of historical linguistcs. Oxford: Blackwell, 2003. p. 624-647.
VOTRE, S.; OLIVEIRA, M. R. (Coords.) A língua falada e escrita na cidade do Rio de
Janeiro. 1995. Impresso.