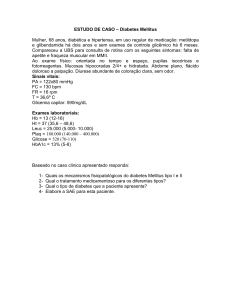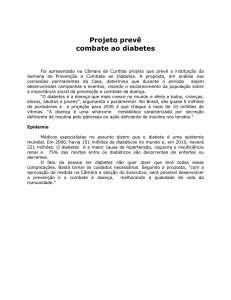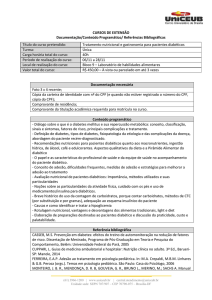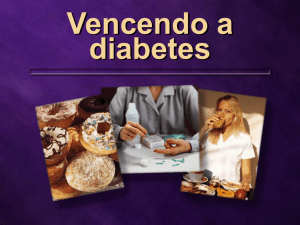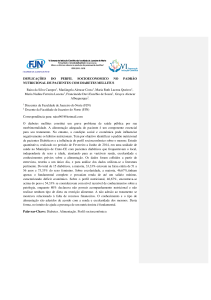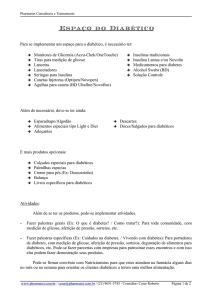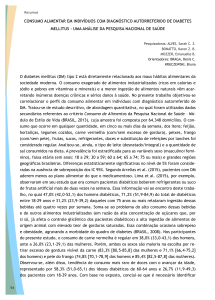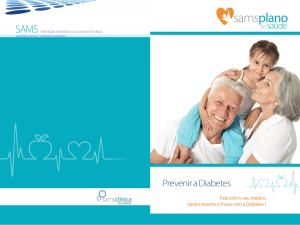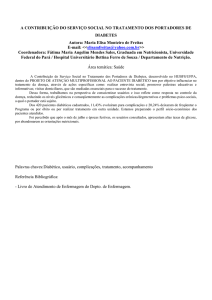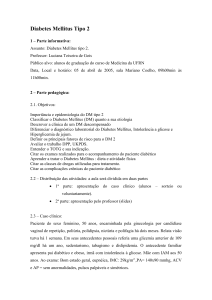Compreendendo, sob a ótica do portador de diabetes, usuário do SUS o significado da
alimentação no controle de sua doença*
Understanding, from the perspective of patients with diabetes, Brazilian Public Health
System user the meaning of feeding in control of their disease
Eleine C. D. Meirelles1
Paulo Cobellis Gomes2
Resumo
Este estudo versa sobre a compreensão, sob a ótica do paciente diabético, do significado da
sua alimentação no controle da sua doença. Objetivou contribuir para a utilização da terapia
nutricional no controle do diabetes em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Optou-se
por um estudo descritivo com abordagem qualitativa utilizando-se da técnica de análise de
conteúdo, tendo como lócus uma Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família
(ESF). Os sujeitos foram constituídos por usuários do SUS portadores de Diabetes Mellitus
participantes dos grupos destinados a hipertensos e diabéticos e do Programa de
Automonitoramento Glicêmico. A coleta de dados transcorreu por meio de uma entrevista
semi-estruturada. As considerações finais apontam que a compreensão dos pacientes
diabéticos a cerca do significado da sua alimentação no controle de sua doença é determinada
pela mudança de hábitos que perpassam pelas suas vivências pessoais, diretamente
relacionadas à sua alimentação que representam uma ameaça ao seu livre arbítrio e
autonomia. Sendo assim, a reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da ESF
sobre a utilização da terapia nutricional no controle do paciente diabético têm as suas
1
Nutricionista. Residente em Saúde da Família pela Faculdade Santa Marcelina. [email protected].
2
Enfermeiro. Doutor em Ciências pela Unifesp. Professor Titular na Faculdade Santa Marcelina – Unidade
Itaquera.
Rua: São João da Duas Barras, 95, CEP: 08270-080, Itaquera, São Paulo-SP, Brasil, [email protected].
*Extraído de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da
Faculdade Santa Marcelina, modalidade Residência Multiprofissional, para obtenção do título de Especialista em Saúde da
Família.
premissas na busca da intersubjetividade do ser diabético, objetivando o cuidado integral e
humanizado com qualidade de vida.
Descritores: Diabetes Mellitus, Terapia Nutricional, Educação em Saúde
Abstract
This study deals with the understanding, from the perspective of diabetic patient, the meaning
of their diet in control of their illness. This study aimed to contribute to the use of nutritional
therapy in the control of diabetes in the Brazilian Public Health System users. We have
chosen a descriptive study with qualitative approach using the technique of the content
analysis, having as locus a Basic Health Unit with Family Health Strategies Program.
Individuals were constituted of Brazilian Public Health System users with Diabetes Mellitus,
participants in the group for hypertensive, diabetic and of glicemic’s self-monitored program.
The data collection proceeded through a semi-structured interview. Final considerations
suggest that the comprehension of diabetic patients about the meaning of their diet to control
their disease is determined by changing habits, that pervade their personal experiences
directly related to their diet, that represent a threat to their free will and autonomy. Therefore,
reflection and concientization of the professional staff of Family Health Strategies Program
on using the nutritional therapy in the control of diabetic patients have their premises in
search of the intersubjectivity of being diabetic, aiming at comprehensive care and humanized
with quality of life.
Descriptors: Diabetes Mellitus, Nutritional Therapy, Health Education
São Paulo,
2011
3
1 INTRODUZINDO O TEMA
A motivação para a realização do presente estudo alicerça-se na minha vivência como
Nutricionista de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF)
junto à população de uma Unidade de Saúde da Família, em especial a usuários diabéticos
com baixa adesão à terapia nutricional. Nesse sentido, julga-se necessário conhecer essa
realidade, buscando aproximar-se de possíveis particularidades que permitam a compreensão
sobre o paciente diabético e a sua alimentação na melhoria da qualidade de vida e no
prognóstico da doença.
O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado pelo Ministério da Saúde em
1994, a fim de reorientar o modelo assistencial tradicional, é uma estratégia que prioriza as
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, em todos os
ciclos de vida, sadios ou doentes. A assistência está centrada na família, entendida e percebida
a partir do seu contexto biopsicossocial, o que parece possibilitar às equipes uma
compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão
além de práticas curativas na Atenção Básica (Brasil, 1997; Paim, 2003).
O PSF, reconhecido tempos depois como Estratégia Saúde da Família (ESF), é
estruturado por Unidades de Saúde da Família (USF) que dispõem de equipes
multiprofissionais. A ESF, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), insere a
comunidade no contexto do programa, colocando os profissionais em contato direto com os
domicílios, famílias e comunidade, possibilitando o vínculo de compromisso e de
corresponsabilização entre os profissionais de saúde e a população no processo de produção
de saúde, fazendo com esta última adquira o autocuidado (Lourenção e Soler, 2004; Costa e
col., 2009).
Na gestão da Atenção Básica, são preconizadas ações dirigidas a grupos específicos da
população, dentre eles, a população diabética, a qual tem a responsabilidade de prevenção,
diagnóstico precoce, monitoramento da adesão, disponibilização de medicamentos, educação
para redução dos riscos de lesões e para promoção da saúde (Brasil, 1999; Athaniel e Saito,
2008).
A Atenção Básica, ao ser configurada como a porta de entrada para o sistema de
saúde, desempenha papel fundamental na prevenção do Diabetes Mellitus (DM) e suas
complicações. O diagnóstico precoce é vital, devido ao alto custo social e econômico das
4
complicações do diabetes decorrentes da alta frequência de hospitalizações, baixa
produtividade pessoal, aposentadoria precoce, invalidez e morte prematura (Brasil, 2004).
Atualmente, o DM configura-se uma epidemia mundial, tornando-se um grande
desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a
urbanização crescente, o sedentarismo, dietas pouco saudáveis e a obesidade são os grandes
responsáveis pelo aumento da prevalência do Diabetes. As consequências humanas, sociais e
econômicas do diabetes são devastadoras para o mundo, cerca de 4 milhões de mortes por ano
são determinadas por essa doença e suas complicações, representando 9% do total de mortes.
No ano de 2009, 5,8% da população brasileira referem diagnóstico médico de DM, tendo
maior prevalência no sexo feminino (6,2%), quando comparada ao sexo masculino (5,3%)
(Brasil, 2011). Estima-se que em 2025 possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no
País, o que representa um aumento de mais de 100% em relação aos 5 milhões de diabéticos,
no ano 2000 (Brasil, 2002).
O impacto econômico relativo aos cuidados dispensados aos portadores de diabetes
revela-se oneroso aos cofres públicos. No ano de 2000, as internações pelas complicações do
DM representaram um déficit de R$ 39 milhões no orçamento do Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2002, o governo brasileiro despendeu R$ 7,5 bilhões em gastos ambulatoriais e
hospitalares com pacientes portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis,
correspondendo a 69,1% do total disponível. Estima-se que a perda de renda nacional devido
às doenças cardiovasculares e DM atingirão, nos próximos 10 anos, US$ 49,2 bilhões no
Brasil, alcançando 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015. Tais custos tendem a
aumentar com o decorrer do tempo, especialmente devido à presença de complicações tardias
(Guidoni e col., 2009). Além dos custos financeiros diretos, o diabetes também ocasiona
outros custos associados à dor, ansiedade e menor qualidade de vida que afetam tanto os
doentes, quanto suas famílias (Brasil, 2004).
O controle do DM inclui o tratamento farmacológico (antidiabéticos orais e insulinas)
e o tratamento não farmacológico que engloba a mudança no estilo de vida. O paciente deve
ser continuamente estimulado a adotar hábitos saudáveis de vida, tais como: manutenção de
peso adequado, prática regular de atividade física, alimentação saudável, suspensão do hábito
de fumar, redução no consumo de bebidas alcoólicas (Brasil, 2001).
A melhora no controle do DM pode ser alcançada por meio do tratamento não
medicamentoso ou medicamentoso. O primeiro tem como finalidade primária retardar a
implantação da doença, e quando já implantada, evitar ou retardar o tratamento
5
medicamentoso ou a associação de medicamentos necessários para o controle da doença. O
segundo deve ser introduzido quando não se obtiver sucesso com o primeiro. Em ambos, é
necessária a compreensão e adesão do portador, pois se trata de doença crônica e seu controle,
se não evita, pelo menos retarda o aparecimento dos agravamentos. Assim, é possível afirmar
que a mudança dos hábitos possa retardar ou prevenir o desenvolvimento de complicações,
reduzindo substancialmente o custo com essa enfermidade (Guidoni e col., 2009).
No entanto, como esses hábitos geralmente são fixados ainda na infância, dentro do
núcleo familiar, tornam-se difíceis de serem modificados, sendo importante a conscientização
e empoderamento dessa população por meio de uma equipe multiprofissional e considerando
os fatores psicológicos, socioculturais e econômicos (Cotta e col., 2009). Dentre tais hábitos,
ressalta-se a alimentação, cuja dificuldade em seguir as recomendações está relacionada não
só aos hábitos adquiridos, mas ao valor cultural do alimento relacionado às crenças, às
condições socioeconômicas e à questão psicológica envolvida (Péres e col., 2007).
Em função da cronicidade da doença, associada às características do regime
terapêutico e às responsabilidades do doente, a baixa adesão é evidenciada no tratamento do
diabético, tornando-se um problema frequentemente encontrado pelo profissional de saúde
(Assunção e Ursine, 2008; Reiners e col., 2008).
Nesse sentido, o presente estudo torna-se relevante para contribuir para a utilização da
terapia nutricional no controle do diabetes em usuários do SUS, cumprindo os objetivos
específicos de: conhecer a compreensão dos pacientes diabéticos acerca do significado da sua
alimentação no controle de sua doença; fomentar a busca de estratégias de sensibilização para
o paciente diabético controlar a sua doença por meio da sua alimentação e colaborar para a
reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da Estratégia de Saúde da Família
sobre a utilização da terapia nutricional no controle do diabetes.
2 MÉTODO E TÉCNICAS
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa (Minayo, 2006), tendo
como lócus uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com a Estratégia de Saúde da Família
localizada na região leste do Município de São Paulo.
2.1 Sujeitos da Pesquisa
6
Foram constituídos por usuários do SUS, portadores de DM, acompanhados pelos
profissionais lotados em uma Unidade de Saúde da Família, local do presente estudo e
participantes dos Grupos destinados a hipertensos e diabéticos e do Programa de
Automonitoramneto Glicêmico (AMG) realizado com os pacientes insulino-dependentes que
retiram insumos, ambos com periodicidade quinzenal.
Utilizaram-se como características de inclusividade: pacientes diabéticos de ambos os
sexos, independente da existência de outras comorbidades; de exclusividade aqueles que
tivessem menos de dezoito anos de idade e com diagnóstico médico de diabetes inferior a seis
meses.
2.2 Instrumentos de Coleta de Dados
A coleta de dados transcorreu entre os meses de maio e junho de 2011, utilizando-se
como instrumento a entrevista semi-estruturada, por permitir que o entrevistado tenha maior
liberdade e espontaneidade, necessárias para o enriquecimento da investigação. A estrutura
básica do roteiro de entrevista foi subdividida em duas partes: a primeira constou de dados de
identificação pessoal e aspectos relacionados ao tempo de diagnóstico da doença e de
acompanhamento na UBS a fim de se caracterizar a população pesquisada, e a segunda da
seguinte questão norteadora: “Para você, qual a importância da sua alimentação no controle
da sua diabetes?”.
Foram utilizados ainda um gravador digital e um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
2.3 Coleta de Dados
Foi realizado inicialmente um pré-teste que comprovou a adequação do método para a
população investigada.
A coleta de dados foi realizada no domicílio dos participantes a fim de que se
sentissem com condições adequadas de conforto e precedida de um rapport. A coleta
transcorreu pela técnica da entrevista não dirigida (Marconi e Lakatos, 2007) por meio da
questão norteadora. Foi utilizado o critério de saturação dos dados para a determinação no
número de participantes, o que foi alcançado após oito entrevistas. Para garantir o anonimato
dos mesmos classificamos os discursos com os códigos: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8.
7
As entrevistas aconteceram após a aquiescência dos participantes e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando-se o mérito da Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura
do Município de São Paulo concedida no dia 31/03/11.
2.4 Tratamento dos Resultados
Os dados coletados foram transcritos na íntegra e submetidos à técnica de análise de
conteúdo.
Para o tratamento dos resultados, utilizamos os pressupostos teóricos de Bogdan e
Biklen (1994).
Considerando-se a natureza e essência do objeto de estudo, com vistas a atingirmos os
objetivos propostos, optamos pela abordagem da análise após a coleta de dados que objetiva
organizar as informações coletadas de acordo com um esquema que tem de ser desenvolvido,
denominado por categorias de codificação, a fim de classificar os dados descritivos
recolhidos, de modo que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente
apartado dos outros dados.
Respeitadas as diretrizes supracitadas, combinamos as técnicas, selecionando partes do
material dos discursos, agrupando-as de acordo com a semelhança do relato, resultante de
recortes da entrevista, buscando posteriormente as suas idéias relevantes / marcantes.
Esse material foi distribuído em um quadro (Quadro 1 e 2) que demonstra, à esquerda,
a fala dos nossos sujeitos e, à direita, a respectiva codificação. Esses códigos são ditados pelas
idéias ou pelas próprias falas, registrando em negrito o que de mais relevante foi expresso por
eles. Posteriormente, tais codificações foram organizadas em subtemas, e estes últimos
relacionados aos seus respectivos temas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 8 diabéticos, sendo 7 mulheres e 1 homem, com idade entre
40 a 62 anos. Cinco eram casados, um divorciado, um viúvo e um solteiro. Os entrevistados
apresentaram como escolaridade o ensino fundamental incompleto. Quanto à remuneração,
sete entrevistados possuíam renda familiar entre R$1.000,00 e R$1.500,00 e um apresentava
renda de R$200,00. Em relação ao tempo médio para o diagnóstico da doença e de
8
acompanhamento nos grupos na UBS foi de 12 anos e 5 meses e 2 anos e 6 meses
respectivamente.
Quadro 1. Extrato dos trechos dos relatos e apresentação dos códigos identificados na análise das
entrevistas realizadas com os pacientes diabéticos. São Paulo, 2011.
TRECHOS DO RELATO
D5: “A alimentação é, como se diz, tem que se uma alimentação
adequada né, pra pôde a gente mante ela (DM) porque se não,
não tem como a gente faze ela baixa, ficá normal.”
D6: “Eu acho muito importante e ajuda muito o diabético, a
alimentação ajuda muito, (...) quando eu comecei a passá na
nutricionista e na endocrinologista eu me eduquei.”
D7: “Bom eu acredito que é pro controle da diabete né, a
importância é pra baixa a glicose né, controlá e pra num tê
pobremas de..., como é..., de hipoglicemia, outra hora subi demais,
acredito que é isso, muito importante.”
D1: “Eu posso até comê um pãozinho de manhã, comê de 3 em 3
horas, e assim, uma fruta que eu, um copo daqueles americano,
que eu posso picá, assim, coloca no copo medi e comê,
entendeu!?”
D4: “Eu falava a diabetes nunca vai me derrubá, eu que vo
derrubá ela, ela quase me levou, quase me levou, que eu tive o
infarto, né, foi depois disso e também depois que eu perdi um filho,
né ... A partir disso disse: não pêra aí vo te que me cuidá por se
não, né. E to fazendo direitinho, num sô de abusá não, agora né,
porque antes eu abusava.”
D5: “Aí eu fiz um exame no mês passado e a médica falô que meu
colesterol tava alto, ... mas agora graças a Deus a médica me deu
um alerta lá no hospital e eu to fazendo, faço tudo conforme ela
mandou.”
D2: “Ah, eu acredito que é muito importante, né (a alimentação).
Agora, eu nunca sigo as regras direitinho, porque sempre to na
rua. (...) Ou eu to no médico, ou to resolvendo alguma coisa, né, aí
eu como desordenadamente, eu sei que tem que seguir uma
dieta.”
D6: “... só que muitas vezes tem o que eu num posso comê, eu num
vô ficá sem comê entendeu!?.”
D1: “Agora às vezes o que eu não gosto mesmo é comê aquilo lá
todo dia, todo dia a mesma coisa, entendeu!?, se eu como uma
coisa hoje o máximo que eu posso comê é no almoço e no jantar,
porque amanhã já não consigo mais.”
D3: “... um arroz e feijão, porque a gente só come arroz e feijão,
né...”
D1: “Às vezes, passo o dia sem almoço, entendeu!?, só comendo
besteira, ela fala que isso aí é errado.”
D2: “mas eu falo assim, se eu tira a janta, eu ainda não consegui
tira, eu acho que seria melhor.”
D1: “Às vezes eu nem como, a médica fala que isso aí é errado,
né, às vezes, eu tomo café de manhã, (...), e só janto de noite, ela
acha que isso aí é errado, né, por quê não sei por quê mais ela diz
que isso aí é errado, tem que comer de 3 em 3 horas.”
D3: “... pra mim controlá melhor, pra mim não tomá insulina,
porque eu não tomo insulina né. Pra pessoa chegá até a insulina
alguma coisa pior né, eu acho, porque eu já cuidei de uma
senhora que tomava insulina né, e era de mais né, tadinha.”
CÓDIGO
Reconhecimento da importância da
alimentação para a melhora do diabetes.
Busca pela mudança de hábitos
alimentares
Dificuldade de adesão
Monotonia alimentar
Omissão de refeições
Dificuldade de compreensão das
orientações
9
D1: “Agora comô assim do meu jeito que eu sei, né, porque você
sabe que eu sô pobre, num tenho tudo aquilo do bom e do melhor
pra comê.”
D6: “Então a gente controla da maneira que pode, mas não que
faça correto, se fosse pra fazê certinho eu saberia fazê, só que às
vezes eu num faço porque num tem condições, é condições
financeiras.”
D2: “Geralmente a gente tenta come arroz, feijão, uma carne,
uma salada de berinjela (...) jiló né, que eu também gosto de faze
curtido (...) pra já compensa né (o DM)...”
D8: “Ah, como poucas vezes, minha fia fica reclamando porque
eu, dá 3 horas eu nem tinha nem almoçado “tem que almoça mais
cedo mãe, vai comê mais, come uma fruta, toma um café com leite,
com adoçante e leite desnatado”, que ela compra, “pra num ficá
com o estômago vazio”.
D1: “Aí ela falo “não, eu vo faze desses que ela pode come, é
diet". E ela fez um pequenininho pra mim, mas você sabe eu fico
assim meio preocupada, eu nem comi, (...) porque eu fico com
medo de come porque é doce, e não como.”
D2: “Então também já prestei atenção, já tomei refrigerante
normal, né, já fiz o dextro, só não lembro agora, e já fiz o teste
também nele diet, (...) dá diferença, essa sobe mais e o diet não
sobe.”
D1: “É muito importante (alimentação) (...) agora se não tiver de
jeito nenhum aquele outro pra mim come eu posso até prova.”
D2: “geralmente como de tudo, e o que mais me judia mesmo é o
refrigerante, né, a praga da “X”, não consigo viver sem ela e
também me prejudica bastante.”
D1: “Num tempos desse aí, eu cheguei na casa da minha filha,
né, aí tinha um café lá, ela falo “aí mãe toma” e eu falei “não,
não, não” porque eu só tomo com adoçante. Ela adoça com
açúcar, ela adoça todo o café, eu falei “não quero, não quero”,
“ah toma só um pouquinho, só pra senhora experimenta, a
senhora vei vê todo mundo”, “(...) eu adoro café, mas num tomei
porque tava doce com açúcar.”
D6: “Então o problema é esse, tem que se aquela carne bem sem
gordura, sem nada, mais eu to, o João (genro), pelo menos
baiano num gosta desses negócio, ele gosta é de costela com
gordura, aí eu como também, mas eu sei que num é certo, mais é
melhor comê do que ficá com fome.”
D8: “Me dá vontade de comê um doce porque minha fia come doce
né, aí eu vejo ela comendo aí dá água na boca, ô meu Deus.”
D1: “E é assim, então a gente tem que faze um pouco de esforço
pra vê se a vida demora mais um pouco a morrer, né.”
D3: “To com dúvida. Então eu preciso uma orientação melhor pra
sabê qual alimentação, né, pra mim comê, se posso, ou se eu num
posso, quantidade ou não, entendeu.”
E8: “Eu quero sabê o que comê direito sabe!?, pra num subi muito
a diabete.”
D5: “... aí foi mesmo que eu comecei (...), cozinho berinjela, tomo
água, bato ela com laranja tomo, só que é duas vezes por dia né,
o chá do alho também.”
Fonte: Elaborado pela autora.
Dificuldade financeira como restrição em
adquirir os alimentos.
Berinjela e jiló compensam o diabetes.
Suporte social
Desconfiança na alimentação tipo diet.
Dificuldade em conter os desejos
Falta de suporte familiar
Esperança em viver por mais tempo
Dúvidas quanto à alimentação
Berinjela, berinjela com laranja e chá de
alho são bons para controlar o DM
10
Quadro 2. Apresentação dos temas extraídos a partir dos códigos encontrados nas entrevistas realizadas
com os pacientes diabéticos. São Paulo, 2011.
CÓDIGOS
Reconhecimento da importância da
alimentação para a melhora do
diabetes
Busca pela mudança de hábitos
alimentares
Esperança em viver por mais
tempo
Monotonia alimentar
Omissão de refeições
Dificuldade financeira como
restrição em adquirir os alimentos
Dificuldade em conter os desejos
Dificuldade de adesão
Dúvidas quanto à alimentação
Desconfiança na alimentação tipo
diet
Berinjela e jiló compensam o
diabetes
Berinjela, berinjela com laranja e
chá de alho são bons para controlar
o DM
Dificuldade de compreensão das
orientações
Suporte social
Falta de suporte familiar
SUBTEMAS
TEMAS
Força de vontade
Reconhecimento da Terapia
Nutricional
Dificuldades e problemas com a
alimentação
Transgressão Alimentar
Desconfiança no tratamento
Crenças
Falta de informação/conhecimento
Apoio dos Profissionais
Influências interpessoais
Influências Familiares
Fonte: Elaborado pela autora.
3.1 Reconhecimento da Terapia Nutricional
- Força de vontade
O reconhecimento da importância da alimentação para a melhora do diabetes e da
busca pela mudança de hábitos alimentares é percebido pela maioria dos participantes como
parte essencial do tratamento, porém cada sujeito demonstra seus determinantes e vivências
pessoais que os fizeram buscar uma melhor qualidade de vida como percebido nos trechos
abaixo:
D4: “Eu falava a diabetes nunca vai me derrubá, eu que vo derrubá ela, ela quase me
levou, quase me levou, que eu tive o infarto, né, foi depois disso e também depois que eu
perdi um filho, né ... A partir disso disse: não pêra aí vo te que me cuidá por se não, né.
E to fazendo direitinho, num sô de abusá não, agora né, porque antes eu abusava.”
D5: “Aí eu fiz um exame no mês passado e a médica falô que meu colesterol tava alto, ...
mas agora graças a Deus a médica me deu um alerta lá no hospital e eu to fazendo, faço
tudo conforme ela mandou.”
11
Segundo Péres e col. (2007) a busca pela mudança de hábitos de vida não ocorre
magicamente, mas no decorrer de um percurso que envolve repensar o projeto de vida e
reavaliar suas expectativas de futuro. Em seu estudo, ao buscar as dificuldades dos pacientes
diabéticos em relação ao tratamento identificou que os sentimentos que favorecem maior
proximidade com as conseqüências na vida cotidiana do diabético podem facilitar a aquisição
de habilidades e atitudes que aumentam a adesão ao tratamento. O autor ainda revela que a
consciência da perda da condição de “indivíduo saudável” se dá, muitas vezes, tardiamente,
após a ocorrência de complicações provenientes do mau controle glicêmico, tornando
compreensível que o paciente alterne entre momentos de desânimo e momentos de maior
confiança no tratamento, como reflexo do que ocorre em seu próprio viver: ora crê que a vida
foi injusta consigo, ora crê que vale apena viver mesmo com suas limitações, assumindo-se,
então, como responsável por seu próprio destino e suas escolhas, o que pode ser reconhecido
no trecho que se segue:
D1: “E é assim, então a gente tem que faze um pouco de esforço pra vê se a vida
demora mais um pouco a morrer, né.”
Portanto, a renovação da esperança na vida parece ser um fator importante a ser
almejado na assistência ao diabético.
3.2 Transgressão Alimentar
- Dificuldades e problemas com a alimentação
As entrevistas revelaram algumas dificuldades e problemas com a alimentação como a
monotonia alimentar, revelado pelo trecho abaixo:
D1: “Agora às vezes o que eu não gosto mesmo é comê aquilo lá todo dia, todo dia a
mesma coisa, entendeu!?, se eu como uma coisa hoje o máximo que eu posso comê é no
almoço e no jantar, porque amanhã já não consigo mais.”
Quando monótona a alimentação, perde-se a motivação para realizá-la, tendendo a
acarretar diminuição do apetite, além de possíveis deficiências de nutrientes, pois o
metabolismo de um nutriente depende do outro. Assim, a pequena variedade alimentar
consumida pode fazer com que os nutrientes não sejam bem aproveitados ou até mesmo não
ingeridos.
12
A omissão de refeições também esteve presente nos discursos:
D1: “Às vezes, passo o dia sem almoço, entendeu!?, só comendo besteira, ela fala que
isso aí é errado.”
D2: “mas eu falo assim, se eu tira a janta, eu ainda não consegui tira, eu acho que seria
melhor.”
O atraso ou a omissão de refeições constituem-se em uma das situações de risco para a
hipoglicemia, uma complicação aguda do diabetes. Daí a importância de se explicar da
necessidade de fracionamento das refeições. O profissional deverá insistir nas vantagens do
fracionamento dos alimentos, distribuídos em três refeições principais e duas a três refeições
intermediárias complementares, nelas incluída a refeição noturna a fim de se evitar a
hipoglicemia noturna (SBD, 2003).
Alguns depoentes citam como impeditivo para a adesão a terapia nutricional sua
restrição financeira para adquirir os alimentos prescritos:
D6: “Então a gente controla da maneira que pode, mas não que faça correto, se fosse
pra fazê certinho eu saberia fazê, só que às vezes eu num faço porque num tem
condições, é condições financeiras.”
Os aspectos financeiros também foram citados por outros estudos como fator que
dificulta o seguimento das orientações alimentares (Péres e col., 2006; Cotta e col., 2009).
Muitas vezes tais orientações vão de encontro com a restrição financeira do paciente
diabético, tornando-se um entrave para segui-las, sendo assim o profissional que o acompanha
deve se instrumentalizar para propor aquisições acessíveis de acordo com suas condições
financeiras e discutir as possibilidades de substituições (Pontieri e Bachion, 2010). De acordo
com Cotta e col. (2009), uma possível intervenção que deve ser enfatizada, ao se tratar de uma
população de baixa renda, seria a horta caseira, por possibilitar o acesso a uma grande
variedade de alimentos a populações carentes e assim contribuir para uma melhoria da
alimentação a partir do cultivo de alimentos saudáveis. Dessa forma a educação nutricional
necessita ser difundida para que todos tenham conhecimento sobre alimentos de boa
qualidade e de baixo custo.
O desejo alimentar e a dificuldade de contê-lo também se mostraram presentes no
cotidiano do diabético:
D2: “geralmente como de tudo, e o que mais me judia mesmo é o refrigerante, né, a
praga da “X, não consigo viver sem ela e também me prejudica bastante.”
13
Na fala da entrevistada percebe-se uma sensação de frustração, pois a mesma ressente
da dificuldade de deixar de consumir o que lhe agrada, mesmo tendo consciência de lhe ser
prejudicial. Nesse sentido a doença mostra-se como uma ameaça a autonomia individual.
Algumas vezes, o tipo de rotina da pessoa também pode ser uma barreira para uma
alimentação mais adequada:
D2: “Ah, eu acredito que é muito importante, né (a alimentação). Agora, eu nunca sigo
as regras direitinho, porque sempre to na rua. (...) Ou eu to no médico, ou to resolvendo
alguma coisa, né, aí eu como desordenadamente, eu sei que tem que seguir uma dieta.”
Uma das maiores dificuldades do profissional de saúde no acompanhamento com
pacientes diabéticos é a baixa adesão ao tratamento por exigir mudanças nos hábitos de vida
já arraigados aos sujeitos, para tal a educação em saúde pode ser considerada uma estratégia
capaz de proporcionar maior adesão ao tratamento, dentre eles a terapia nutricional, uma vez
que agrega maior conhecimento a cerca da doença. Ferraz e col. (2000) consideram que o
enfoque da abordagem educativa ao diabético deve considerar os aspectos emocionais que
influenciam na adesão ao tratamento, indo além dos processos cognitivos para se atingir a
totalidades dos problemas vivenciados pelo paciente. Sendo assim, é imprescindível que ao
acompanharmos um paciente diabético seja considerado suas vivências, suas rotinas e hábitos,
pois, muitas vezes, as orientações alimentares parecem advir de uma maneira vertical, não
permitindo a participação do paciente e sem considerar suas condições de vida, seus
conhecimentos, crenças, sentimentos, comportamentos, enfim, o ser diabético deve ser
transformado em sujeito participativo em seu tratamento.
Outro código identificado, em relação ao subtema “Dificuldades e problemas com a
alimentação” foi às dúvidas quanto à alimentação:
D3: “To com dúvida. Então eu preciso uma orientação melhor pra sabê qual
alimentação, né, pra mim comê, se posso, ou se eu num posso, quantidade ou não,
entendeu.”
D8: “Eu quero sabê o que comê direito sabe!?, pra num subi muito a diabete.”
De acordo com o que o paciente sabe a respeito da terapia nutricional: sua
importância, suas necessidades, seus riscos, influenciarão suas práticas e estilo de vida no seu
cotidiano. Consideramos necessário que o mesmo tenha plenos conhecimentos, recebido pelos
profissionais, a cerca da terapia nutricional para que tome atitudes e escolhas corretas
14
facilitando seu tratamento, e evitando conseqüências futuras causadas pelo mau controle
glicêmico.
- Desconfiança no tratamento
Outro problema identificado foi o descrédito a respeito dos alimentos diet, conforme
ilustra a fala abaixo:
D2: “Então também já prestei atenção, já tomei refrigerante normal, né, já fiz o dextro,
só não lembro agora, e já fiz o teste também nele diet, (...) dá diferença, essa sobe mais
e o diet não sobe.”
Esse trecho demonstra a insegurança do entrevistado em consumir o alimento diet
devido ao fato de apresentar característica doce, cabendo ao profissional lidar com esses
receios e utilizar-se das informações de maneira mais dinâmica e direcionada a fim de se obter
uma melhor assimilação dos conhecimentos a cerca da alimentação destinada aos diabéticos.
- Crenças
Pode-se perceber por meio dos trechos, abaixo apresentados, que os tratamentos
complementares aparecem como uma ajuda na terapêutica tradicional:
D5: “... aí foi mesmo que eu comecei (...), cozinho berinjela, tomo água, bato ela com
laranja tomo, só que é duas vezes por dia né, o chá do alho também.”
Para orientarmos e estimularmos o autocuidado aos diabéticos precisamos
compreender suas crenças e como essas podem influenciar na forma como se cuidam e em
suas escolhas alimentares diárias. Conforme Xavier e col. (2009) o uso de práticas baseadas
no saber popular não são provenientes apenas da falta de esclarecimentos ou de recursos
financeiros por parte da população. As crenças e práticas baseadas no saber popular e em
experiências empíricas são adotadas como recursos destinados à manutenção da saúde ou cura
de doenças. De maneira geral, qualquer tratamento, ou mesmo cuidado é considerado como
uma tentativa de cura. Um novo tratamento ou cuidado é sempre iniciado com essa
expectativa, mesmo que ela apareça pouco provável, é algo ao qual se apegam, buscando
renovar suas esperanças (Silva e col., 2006).
15
No entanto, ao profissional cabe identificar quais as crenças que permeiam o paciente
diabético e que poderiam resultar na redução de sua capacidade de buscar soluções para os
problemas enfrentados para o controle do diabetes (Santos e col., 2005).
3.3 Apoio dos Profissionais
- Falta de informação/conhecimento
Os discursos mostraram uma dificuldade de compreensão das orientações dispensadas
ao longo de seu tratamento associada a orientações deficientes:
D1: “Às vezes eu nem como, a médica fala que isso aí é errado, né, às vezes, eu tomo
café de manhã, (...) e só janto de noite, ela acha que isso aí é errado, né, por quê não sei
por quê mais ela diz que isso aí é errado, tem que comer de 3 em 3 horas.”
O profissional deve estar atento para certificar o grau de compreensão que o paciente
teve das orientações realizadas, sendo capaz de detectar possíveis distorções do que foi
recomendado. Deve existir um diálogo entre o profissional e o paciente e um espaço para a
troca, para que o paciente coloque suas dúvidas, caso contrário poderá ocorrer a dificuldade
de adesão por interpretação errada das informações (Pontieri e Bachion, 2010).
O conhecimento técnico nem sempre será transmitido a todos da mesma forma,
devemos considerar as condições socioeconômicas, cultural e educacional a quem destinamos
as orientações e adaptá-las a realidade do indivíduo e da família, de modo a buscar a
compreensão daquilo que está sendo transmitido a fim de facilitar o processo de
conhecimento do paciente a cerca da terapia nutricional. Tais orientações devem garantir a
participação do paciente no tratamento, permitindo o diálogo e a construção do conhecimento.
3.4 Influências Familiares
- Influências Interpessoais
Em relação às influências interpessoais foi percebido nos discursos que há pacientes
que possuem apoio de seus familiares:
D8: “Ah, como poucas vezes, minha fia fica reclamando porque eu, dá 3 horas eu nem
tinha nem almoçado “tem que almoça mais cedo mãe, vai comê mais, come uma fruta,
toma um café com leite, com adoçante e leite desnatado”, que ela compra, “pra num ficá
com o estômago vazio”.
16
E aqueles que não encontram suporte em seu convívio familiar:
D1: “Num tempos desse aí, eu cheguei na casa da minha filha, né, aí tinha um café lá,
ela falo “aí mãe toma” e eu falei “não, não, não” porque eu só tomo com adoçante. Ela
adoça com açúcar, ela adoça todo o café, eu falei “não quero, não quero”, “ah toma só
um pouquinho, só pra senhora experimenta, a senhora vei vê todo mundo”, “(...) eu
adoro café, mas num tomei porque tava doce com açúcar.”
D6: “Então o problema é esse, tem que se aquela carne bem sem gordura, sem nada,
mais eu to, o João (genro), pelo menos baiano num gosta desses negócio, ele gosta é de
costela com gordura, aí eu como também, mas eu sei que num é certo, mais é melhor
comê do que ficá com fome.”
A família tem papel relevante no tratamento do diabetes, pois é incentivadora dos
comportamentos. O núcleo familiar pode ajudar o paciente nas mudanças dos hábitos, pois a
mudança de hábitos não afeta apenas o paciente, mas também tem repercussões na dinâmica
familiar.
Para Zanetti e col. (2008) a educação em saúde com diabéticos deve considerar os
componentes da família como integrantes às estratégias de tratamento convencionais. O
suporte familiar é fundamental, pois ele é um aliado para a aquisição de orientações de saúde
adequadas e no processo de enfrentamento da doença. Assim, o processo educativo deve
valorizar as experiências e os conhecimentos já adquiridos, guiado em valores e crenças do
próprio paciente e de seu núcleo familiar acerca da doença, pois o apoio dos familiares é um
requisito fundamental para que o diabético consiga alcançar o autocuidado de sua doença,
sejam eles a alimentação, o exercício ou a adesão ao tratamento medicamentoso.
Quanto à falta de suporte familiar, esta pode fazer com que o diabético se sinta
excluído de seu núcleo familiar, o que o desmotiva e dificulta sua aceitação em relação à
doença e sua adesão ao tratamento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O reconhecimento da terapia nutricional está relacionado a aspectos motivacionais
para o autocuidado que é influenciado pela sua vivência por meio das suas crenças,
sentimentos e conhecimentos. A transgressão alimentar surge como uma forma de driblar as
orientações transmitidas de forma vertical, tornando-se imprescindível o apoio dos
profissionais a fim de se construir e fortalecer o vínculo com a equipe multiprofissional,
considerando uma abordagem integrada entre profissional de saúde, paciente e família, uma
vez que as influências familiares determinam aspectos do comportamento do paciente
diabético.
17
A compreensão dos pacientes diabéticos a cerca do significado da sua alimentação no
controle de sua doença é determinada pela mudança de hábitos que perpassam pelas suas
vivências pessoais, diretamente relacionadas à sua alimentação que representam uma ameaça
ao seu livre arbítrio e autonomia.
A busca de estratégias de sensibilização para o paciente diabético controlar a sua
doença por meio da sua alimentação devem estar tangenciadas com a sua realidade,
contemplando aspectos educacionais, financeiros e da sua dinâmica familiar.
Sendo assim, a reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da ESF sobre a
utilização da terapia nutricional no controle do paciente diabético têm as suas premissas na
busca da intersubjetividade do ser diabético, objetivando o cuidado integral e humanizado
com qualidade de vida.
REFERÊNCIAS
ASSUNÇÃO, T. S.; URSINE, P. G. S. Estudo de fatores associados à adesão ao tratamento
não farmacológico em portadores de diabetes mellitus assistidos pelo Programa Saúde da
Família, Ventosa, Belo Horizonte. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, supl. 2, p. 2189-2197,
2008.
ATHANIEL, M. A. S.; SAITO, R. X. de S. Saúde do Adulto Doenças e Agravos não
Transmissíveis: hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. In: OHARA, E. C. C.; SAITO, R. X.
de S. (orgs.). Saúde da Família: considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo:
Martinari, 2008. p. 279-321.
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Hipertensão e Diabetes: relatório
técnico. Brasília: Ministério da Saúde: 2011. 54p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Avaliação do Plano
de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no Brasil.
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 64p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e
ao diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 26p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e
ao diabetes mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. 102p.
18
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da
Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo
assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 36p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Manual para a
Organização da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 40p.
BOGDAN, R.; BIKLEN S. Análise de Dados. In:_________. Investigação Qualitativa em
Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto (Portugal): Porto, 1994. p. 203-241.
COSTA, G. D. da e col. Saúde da Família: desafios no processo de reorientação do modelo
assistencial. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 62, n. 1, p. 113-118, jan./fev. 2009.
COTTA, R. M. M. e col. Hábitos e práticas alimentares de hipertensos e diabéticos:
repensando o cuidado a partir da atenção primária. Rev. Nutr., Campinas, v. 22, n. 6, p. 823835, nov./dez. 2009.
FERRAZ, A. M. e col. Atendimento multiprofissional ao paciente com diabetes mellitus no
ambulatório de diabetes do HCFMRP-USP. Medicina, Ribeirão Preto, v. 33, p. 170-175,
abr./jun. 2000.
GUIDONI, C. M. e col. Assistência ao diabetes no Sistema Único de saúde: análise do
modelo atual. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 45, n. 1, p. 37-48, jan./mar.
2009.
LOURENÇÃO, L. G.; SOLER, Z. A. S. G. Implantação do Programa Saúde da Família no
Brasil. Arq. Ciênc. Saúde, v. 11, n. 3, p. 158-162, jul./set. 2004.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Qualitativa e Quantitativa. In:
_________. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2007. p. 269-288.
MINAYO, M. C. de S. Contradições e Consensos na Combinação de Métodos Quantitativos e
Qualitativos. In:_________. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9.
ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 54-76.
PAIM, J. S. Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. In: ROUQUAYROL, M. Z.;
ALMEIDA-FILHO, N. de. Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio de janeiro: Medsi, 2003.
p.567-586.
19
PÉRES, D. S.; FRANCO, L. J.; SANTOS, M. A. dos. Comportamento alimentar em mulheres
portadoras de diabetes tipo 2. Rev Saúde Pública, v. 40, n. 2, p. 310-317, 2006.
PÉRES, D. S. e col. Dificuldades dos pacientes diabéticos para o controle da doença:
sentimentos e comportamentos. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.15, n.6, p. 1105-1112,
2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104zzz11692007000600008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 21 dez. 2010.
PONTIERI, F. M.; BACHION, M. M. Crenças de pacientes diabéticos da terapia nutricional e
sua influência na adesão ao tratamento. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, p. 151-160,
2010.
REINERS, A. A. O. e col. Produção bibliográfica sobre adesão/não-adesão de pessoas ao
tratamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, supl. 2, p. 2299-2306, 2008.
SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes. Consenso brasileiro sobre diabetes 2002:
diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento do diabetes melito do tipo 2.
Rio de Janeiro: Diagraphic, 2003. 72p.
SANTOS, E. C. B. dos e col. O cuidado sob a ótica do paciente diabético e de seu principal
cuidador. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 397-406, maio/jun. 2005.
SILVA, D. G. V. de e col. Pessoas com Diabetes Mellitus: suas escolhas de cuidados e
tratamentos. Rev Bras Enferm, v. 59, n. 3, p. 297-302, maio/jun. 2006.
XAVIER, A. T. da F.; BITTAR, D. B.; ATAÍDE, M. B. C. de. Crenças no autocuidado em
diabetes – Implicações para a prática. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 18, n. 1, p.
124-130, jan./mar. 2009.
ZANETTI, M. L. e col. O cuidado à pessoa diabética e as repercussões na família. Rev Bras
Enferm, Brasília, v. 61, n. 2, p. 186-192, mar./abr. 2008.