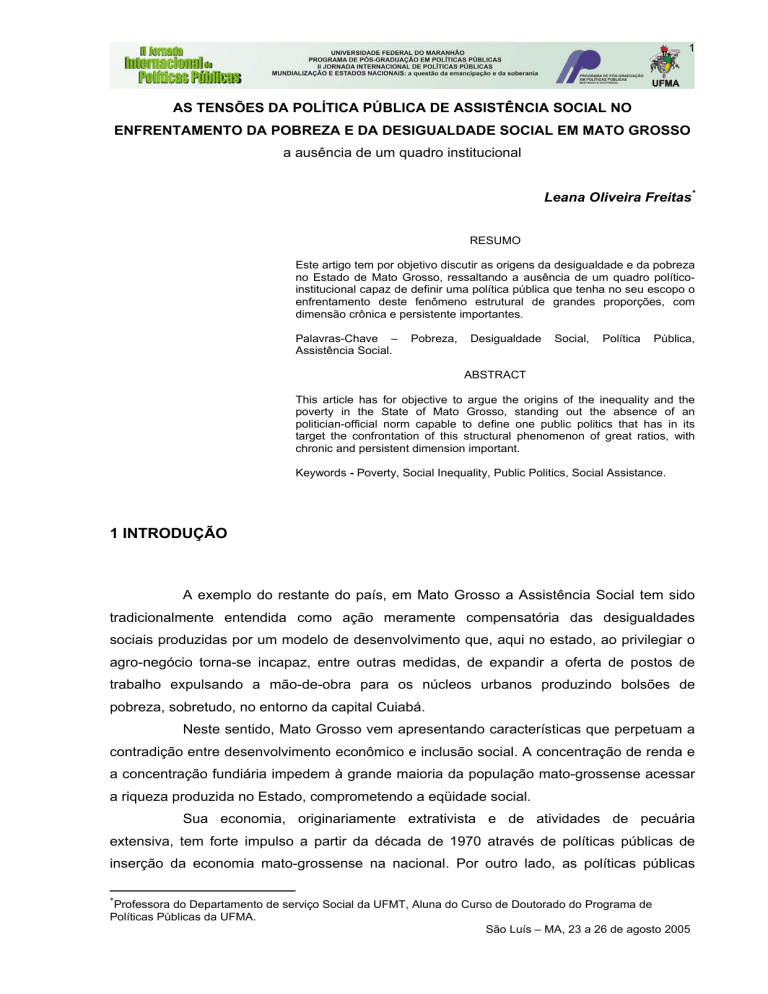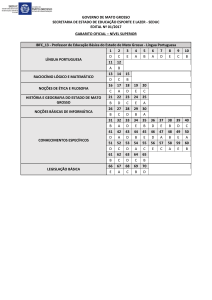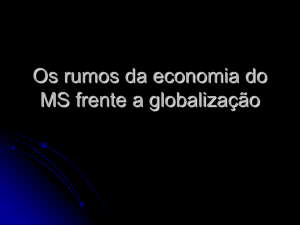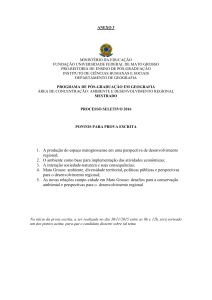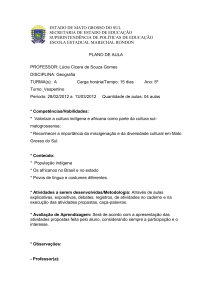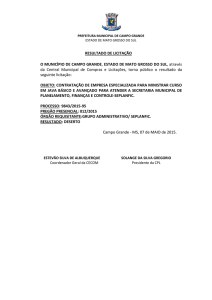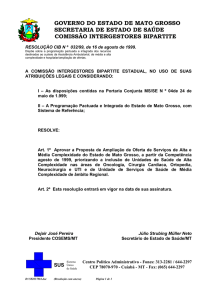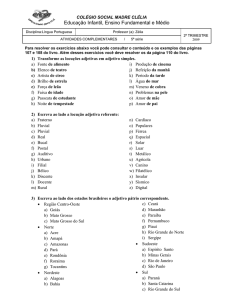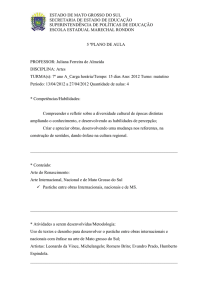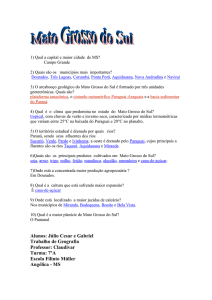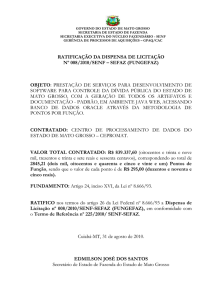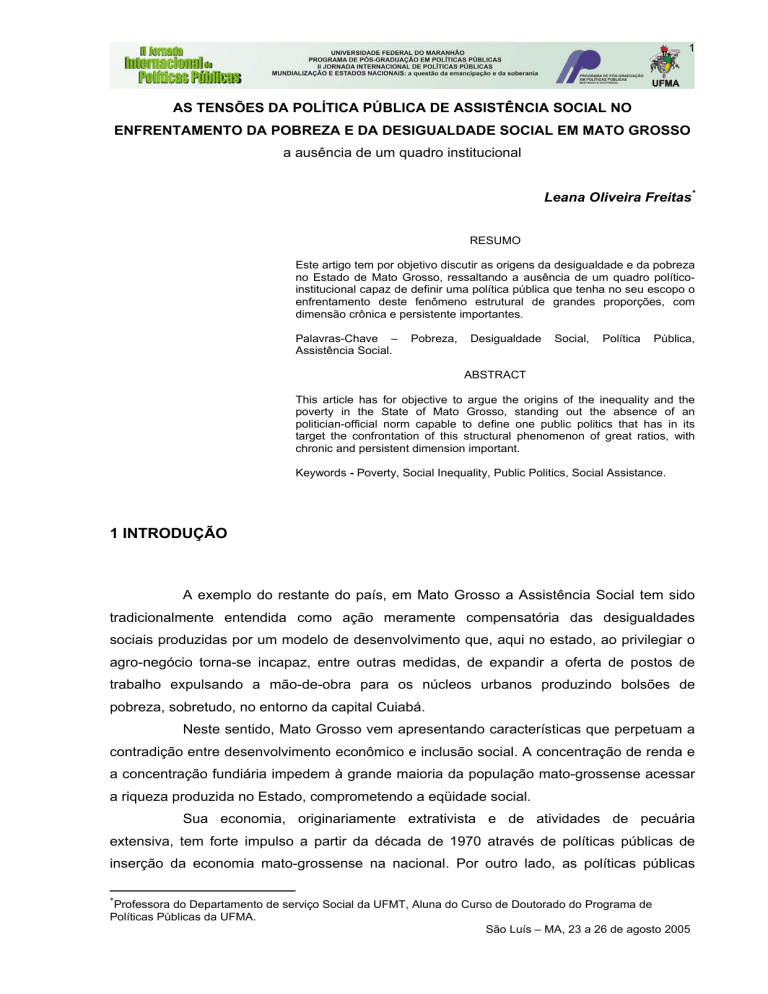
1
AS TENSÕES DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
ENFRENTAMENTO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE SOCIAL EM MATO GROSSO
a ausência de um quadro institucional
Leana Oliveira Freitas*
RESUMO
Este artigo tem por objetivo discutir as origens da desigualdade e da pobreza
no Estado de Mato Grosso, ressaltando a ausência de um quadro políticoinstitucional capaz de definir uma política pública que tenha no seu escopo o
enfrentamento deste fenômeno estrutural de grandes proporções, com
dimensão crônica e persistente importantes.
Palavras-Chave –
Assistência Social.
Pobreza,
Desigualdade
Social,
Política
Pública,
ABSTRACT
This article has for objective to argue the origins of the inequality and the
poverty in the State of Mato Grosso, standing out the absence of an
politician-official norm capable to define one public politics that has in its
target the confrontation of this structural phenomenon of great ratios, with
chronic and persistent dimension important.
Keywords - Poverty, Social Inequality, Public Politics, Social Assistance.
1 INTRODUÇÃO
A exemplo do restante do país, em Mato Grosso a Assistência Social tem sido
tradicionalmente entendida como ação meramente compensatória das desigualdades
sociais produzidas por um modelo de desenvolvimento que, aqui no estado, ao privilegiar o
agro-negócio torna-se incapaz, entre outras medidas, de expandir a oferta de postos de
trabalho expulsando a mão-de-obra para os núcleos urbanos produzindo bolsões de
pobreza, sobretudo, no entorno da capital Cuiabá.
Neste sentido, Mato Grosso vem apresentando características que perpetuam a
contradição entre desenvolvimento econômico e inclusão social. A concentração de renda e
a concentração fundiária impedem à grande maioria da população mato-grossense acessar
a riqueza produzida no Estado, comprometendo a eqüidade social.
Sua economia, originariamente extrativista e de atividades de pecuária
extensiva, tem forte impulso a partir da década de 1970 através de políticas públicas de
inserção da economia mato-grossense na nacional. Por outro lado, as políticas públicas
*
Professora do Departamento de serviço Social da UFMT, Aluna do Curso de Doutorado do Programa de
Políticas Públicas da UFMA.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
2
direcionadas para ocupação do território e expansão da fronteira agrícola do mesmo modo
em que promoveram a modernização do setor agropecuário, colocando-o em níveis
significativos no âmbito nacional, mostrou-se ao mesmo tempo incapaz de gerar empregos e
fixar o homem no campo em condições favoráveis de vida, sendo os setores da
agropecuária e da administração pública os que exercem forte influência sobre os níveis de
atividades dos demais setores da economia mato-grossense (IBGE, 2002).
A concentração fundiária é de tal ordem que cerca de 10% das propriedades
rurais existentes dominam por volta de 80% das terras do Estado com processos
sofisticados de produção que, se por um lado garante a Mato Grosso, condição de um dos
maiores produtores de grãos do país (18% da produção nacional em 2003), por outro,
destrói as pequenas propriedades influenciando o processo de urbanização. É por este
motivo que predomina uma acentuada aglomeração da população nas áreas urbanas, cerca
de 80% (IBGE, 2002).
Os dados econômicos por sua vez, em especial aos relativos ao Produto Interno
Bruto a preços de mercado (PIBpm) e as taxas reais de crescimento verificadas nos anos de
1996 a 1999, mostram o excelente desempenho do crescimento
grossense.
As
taxas
reais
de
crescimento
da
economia
do
da economia matoestado
superam,
significativamente, as taxas nacionais. Destacam-se, em Mato Grosso, os anos de 1997 e
1999 em que as taxas foram de 6,43% e 11,86% respectivamente. Como resultado do
desempenho alcançado, a participação do Estado de Mato Grosso no produto interno bruto
do Brasil a preço de mercado passa de 1,02% em 1996 para 1,20% em 19991.
A base econômica do Estado de Mato Grosso, a partir da política nacional de
expansão das fronteiras agrícolas dos anos 1970, assumiu um modelo de crescimento
econômico “primário exportador” que vigora no Estado nos dias atuais. Este modelo abriga
algumas características que impõem pesado ônus às formas de distribuição da renda entre
a população, porque centrado em um setor agropecuário moderno, mecanizado e com alto
consumo de produtos químicos é pouco intensivo na utilização de mão-de-obra. Além disso,
a competitividade dos produtos exige produção em alta escala com grandes propriedades
acirrando a concentração fundiária.
Esse modelo de desenvolvimento econômico é essencialmente concentrador de
renda pela exigência de grande investimento por unidade produtiva. Seu efeito multiplicador
fica restrito e implantado em áreas de expansão de fronteira agrícola com baixo índice de
mobilidade. Em decorrência, o setor transfere pessoas e problemas sociais para as áreas
urbanas, sem, contudo, compensá-las pelo prejuízo, cujos principais impactos sociais se
fazem sentir no gradativo empobrecimento tanto da população rural, quanto da população
1
IBGE/SEPLAN/MT – Contas Regionais 1996-1999.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
3
urbana. Em geral, as iniciativas de combate à pobreza no Estado concretizam um novo
paradigma institucional no tratamento da questão contemporâneo ao contexto neoliberal que
consiste na mobilização social dos pobres na alteração de sua condição descolado do
sistema de proteção social de caráter universal retratando um descompasso entre a
integração econômica e social.
Este artigo procura discutir, portanto, as origens da desigualdade e da pobreza
no Estado ressaltando a ausência de um quadro político-institucional capaz de definir uma
política pública que tenha no seu escopo o enfrentamento deste fenômeno estrutural de
grandes proporções, com dimensão crônica e persistente importantes.
2 AS ORIGENS DA DESIGUALDADE
Na atualidade, o tema da desigualdade e da pobreza e suas formas de
enfrentamento vêm ganhando visibilidade e densidades públicas especialmente quando
relacionado ao processo contemporâneo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e na
América Latina ao revelar a complexidade do fenômeno e as dificuldades na compreensão
da crescente produção da desigualdade como fator de desintegração social.
Persistem no processo de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo nos
países periféricos problemas clássicos como imigração, pobreza, baixa escolaridade,
analfabetismo, baixos níveis de renda. No entanto, situações de outra natureza, mas não
menos graves são produzidas no interior desses mesmos países intensificando a existência
dos supranumerários, (CASTEL, 1998) ou de segmentos sociais sobrantes (CAMPOS,
2004). Nesses dois conceitos os grupos populacionais referidos ficam à margem das parcas
e restritas estratégias de desenvolvimento sócio-econômico incluindo a seguridade e
segurança pública, a terra, o trabalho e renda suficientes caracterizando, em última análise
um processo de exclusão aos direitos básicos de cidadania.
No caso da América Latina, o desenvolvimento capitalista desenvolveu-se a
partir de um processo de expropriação a que o continente historicamente foi submetido em
que a injustiça social encontra suas raízes nas desigualdades econômicas e políticas
decorrentes de sua submissão no âmbito do capitalismo global. Não funcionando de modo
isolado, o capitalismo tende a um crescimento permanente - extroversão – articulando
espaços e regiões muito diferentes, cristalizando uma divisão internacional do trabalho e
uma hierarquização que estabelece relações de interdependência e de poder. Isto gera, por
conseqüência, uma situação de dependência de modo que nossa sociedade por ser de
origem colonial não teve historicamente um Estado nacional autônomo e consolidado.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
4
Neste sentido, a expressão mais ampliada de desigualdade é aquela que divide
as regiões do mundo em posições econômicas distintas cuja lógica tende a reproduzir-se no
interior daqueles países submetidos ao domínio internacional. É por essa razão que no
Brasil são reproduzidas as condições de desigualdades presentes no mundo moderno, em
que regiões de intenso dinamismo econômico convivem com outras de produtividade
reduzida cuja capacidade de integração à economia nacional é baixíssima ou que se
integram de maneira subordinada e com função específica de provedoras de matéria prima
aos centros econômicos mais dinâmicos ou mesmo aos centros econômicos internacionais.
Essa situação vem produzindo profundas desigualdades sociais e regionais que
se expressam em proporções importantes tanto na perspectiva de grupos sociais quanto na
distribuição de riquezas/exclusão entre os espaços territoriais.
Estudos mais recentes têm revelado o Brasil como o país de maior desigualdade
social quando se tem como parâmetro a relação entre a distribuição e concentração de
renda nos países. Indicadores como Coeficente de Gini2 revelam uma elevada concentração
de renda no Brasil - 0,59 -em relação aos demais países da América Latina, igualando-se
apenas ao Paraguai. Além disso, de toda a renda produzida no Brasil, quando distribuída
entre os 100% da população repartida em 10 grupos (decis) de ingresso domiciliar per
capita constata-se que os três primeiros decis correspondem apenas 5% dos ingressos
totais (DEMO, 1999).
O Atlas da Exclusão Social no Brasil (POCHMANN, 2003), ao referir-se à região
Centro Oeste apresenta-a como detentora índices intermediários de exclusão porque no
computo geral do país representa apenas 2% do total dos municípios com maior índice de
exclusão social. No entanto, o mesmo estudo revela que cerca de 10% dos seus municípios
apresentam altos índices de exclusão.
Pesquisas dessa natureza sobre a exclusão social no Brasil é de fundamental
importância para compreendermos a dinâmica dos processos de inclusão/exclusão no atual
estágio do desenvolvimento capitalista, de modo a vislumbrar alternativas que possam ser
adotadas por políticas públicas mais compatíveis com a complexidade e a extensão do
problema. No entanto, o estudo não nos permite analisar como essa dinâmica se reproduz
no interior de cada município. Por outro lado, o fato de se utilizar o conceito de renda média,
também escamoteia importantes nuances da realidade, especialmente quando tratamos de
regiões com baixa densidade populacional, mas, com a presença de alguns segmentos
sociais de renda muito elevada, como é o caso de Mato Grosso, cuja densidade
demográfica não ultrapassa a 2,8 habitantes por quilômetro quadrado com
0,9 %
de
famílias ricas em 2000 em relação a sua distribuição nacional, ou seja apenas 10.762 de
2
Índice de Gini uma das medidas mais usadas de distribuição de renda e vai de 0 (zero) – distribuição perfeita a
1(um) concentração total.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
5
famílias mato-grossenses possuíam, em setembro de 2003, renda familiar mensal superior a
R$ 10.928,003.
Desvelar essas contradições em relação ao Estado de Mato Grosso é
especialmente importante, pois, no geral, todas as estatísticas o colocam numa posição
intermediária,
seja
quando
se
analisa os
indicares
sociais, como
escolaridade,
analfabetismo, desempenho escolar, etc. ou quanto se analisa dados sobre rendimentos.
No bojo de números que revelam situações extremadas, como as do Sul/Sudeste e
Norte/Nordeste, fica prejudicada uma análise mais detida sobre a realidade de Mato Grosso
que sempre ocupa posições intermediárias, portanto, “menos preocupantes” aos olhos dos
analistas, (SAMPAIO, 2005).
Para a autora, no âmbito das estatísticas, Mato Grosso só se destaca quando os
dados analisados referem-se à degradação ambiental: avanços da devastação do cerrado,
desmatamentos, queimadas, etc; ou à produtividade econômica do agro-negócio. Na
maioria das vezes analisados dissociadamente estes dados compõem uma mesma
realidade e se complementam.
Nesse sentido, parece omissão não considerar os
resultados intermediários dos indicadores sociais como preocupantes na medida em que,
sabemos, os bons indicadores econômicos são conseguidos a um alto custo ambiental e
social.
De outro lado, é preciso também considerar que a tendência do desenvolvimento
brasileiro não parece ser o de reduzir desigualdades. Ao contrário, o fato de o país não ter
conseguido realizar reformas de base importantes que pudessem permitir relações
econômicas e sociais mais justas e democráticas, faz com que não se tenha no horizonte
mudanças estruturais necessárias à maior coesão do “tecido” social.
Citando Caio Prado Junior e Florestan Fernandes (POCHMANN, 2003) reafirma
que os traços do subdesenvolvimento do Brasil generalizaram-se pela força do antiquado
sistema de trabalho escravista – do qual o país foi o último a se livrar – e pela ausência das
reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. As lacunas deixadas pela falta de
reforma agrária, tributária e sociais tornaram o capitalismo brasileiro uma máquina de
produção e reprodução de desigualdades (POCHMANN,2003, p. 21).
Este raciocínio é o que talvez melhor explique a situação de Mato Grosso porque
ao contrário do que ocorreu com as regiões brasileiras mais desenvolvidas, formadas a
partir da colonização por imigrantes europeus e com uma elite econômica mais próxima de
uma burguesia industrial, Mato Grosso teve uma ocupação tardia, que se deu
principalmente a partir dos anos 60, baseada na concentração de terras e na monocultura.
3
Para maiores detalhes sobre a metodologia adota para construção do Índice de Exclusão Social ver:
POCHMANN, Marcio e AMORIM, Ricardo. Atlas da Exclusão Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003 p.
16-19.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
6
Por outro lado, enquanto nas regiões Sul e Sudeste num primeiro momento
imigrantes europeus e depois migrantes de todas as partes do país foram em busca de
empregos nas nascentes indústrias ou nas grandes lavouras, formando nas cidades e,
mesmo no campo, uma massa de assalariados em Mato Grosso a ocupação se deu pelos
despossuídos, expulsos para o interior pela saturação dos grandes centros e, pelos mais
abastados, interessados em terras fartas e baratas, numa lógica do lucro fácil e rápido. A
apropriação da terra aqui foi o único valor considerado importante desprezando outras
fontes e possibilidades de desenvolvimento.
Esses dois fatores - a história recente de ocupação do solo mato-grossense e
mais contemporaneamente sua inserção no capitalismo nacional e internacional - agregados
às bases de sua estrutura social, colocam outra questão da maior relevância: o estágio de
desenvolvimento de seu aparelho de Estado, especialmente na sua capacidade de formular
e implementar políticas públicas que possam enfrentar o problema da desigualdade na
complexidade com que se apresenta.
Desta forma ao tratarmos das desigualdades, das razões que explicam tal
situação, estamos também analisando a capacidade que o Estado e as classes dirigentes
tiveram ou não de agir no sentido de refrear o agravamento das condições sociais.
Esta análise é importante em se tratando de Mato Grosso, ao se ter em conta a
feição política que o Estado adquire a partir da constituição histórica de suas classes
dirigentes. As classes dominantes mato-grossenses ao consolidar-se como elites políticas
na virada do Século XX tornam-se também classes dirigentes apossando-se dos aparatos
institucionalizados culminando num processo de dominação já iniciado no período colonial,
ou seja, “impondo-se como elites dirigentes na primeira fase republicana, as oligarquias
mato-grossenses expressam, na verdade, o momento hegemônico de um processo contínuo
de afirmação do poder oligárquico [...]”.(NOVIS NEVES, 1988, p. 57).
Embora o processo de desenvolvimento de Mato Grosso seja resultante do
processo de desenvolvimento do Brasil como nação, é preciso considerar peculiaridades
regionais que revelam com maior clareza a formação política, econômica e social do país.
Somente considerando a ação pública como a formulação e implementação de políticas
compatíveis com a especificidade e amplitude dos problemas sociais, enfim em sua relação
com a formação social concreta é que será possível identificar os limites políticos,
econômicos e institucionais que são postos ao Estado no espaço sub-regional, para agir
como ator fundamental no enfrentamento da desigualdade.
No entanto, a orientação das ações de combate à pobreza no Estado desloca
para os municípios e prefeituras, portanto, para o nível local, responsabilidades antes
atribuídas ao Estado. O paradoxo é que sem jamais ter se tornado uma questão de nação, o
dilema da superação da pobreza vai depender das lideranças das cidades e de sua
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
7
capacidade de coordenar e fazer cooperarem entre si as forças sociais e os interesses de
todos os atores, com vistas a formação de um espaço público ampliado e hegemônico
capaz de forjar um novo pacto de solidariedade pelo fim da pobreza e da exclusão.
Ocorre que no âmbito do processo de descentralização fiscal, política e
administrativa o Estado como ente federado, especialmente, o Estado de Mato Grosso vem
desprezando sua tarefa de coordenação, implementação, monitoramento e avaliação da
política de Assistência Social. Haja vista, que cerca de 80% dos recursos destinados às
políticas sociais no Estado são de origem federal ainda que no seu Programa de
Desenvolvimento Regional (2005) a satisfação das necessidades básicas das comunidades
locais esteja incluída como uma de suas missões.
3 CONCLUSÃO
O fato de Mato Grosso localizar-se numa área de expansão da fronteira agrícola,
e o intenso desenvolvimento da agricultura nos moldes da grande empresa, traz um
dinamismo econômico jamais visto na história do Estado. No plano social, ao contrário,
algumas situações tendem a se agravar, pois, impõe uma dupla complexidade às políticas
públicas: a não resolução de questões básicas que acirram a chamada “velha exclusão”
(baixa escolaridade, dificuldades de acesso aos serviços básicos, reduzido mercado de
trabalho formal dadas às características do mercado – serviços, comércio e agricultura -,
baixo nível de renda) e, o surgimento potencial e real da chamada “nova exclusão”. A nova
exclusão social entendida como o fenômeno de ampliação de parcelas significativas da
população em situação de vulnerabilidade social e também a diferentes formas de
manifestação da exclusão abarcando as esferas cultural, econômica e política as quais vêm
atingindo segmentos populacionais antes relativamente preservados, como jovens com
elevada escolaridade, pessoas com mais de 40 anos, homens não negros e famílias
monoparentais (POCHMAN, 2004).
Soma-se a isso o fato do Estado ainda ser um espaço a ser consolidado e
fortalecido no território mato-grossense, Estado aqui entendido no sentido gramsciano em
que as relações entre sociedade civil ('condições da vida material' ou, em regime capitalista,
sistema de produção 'privada', aparelho 'privado' de hegemonia) e a sociedade política,
devem ser concebidos em função da definição do Estado como 'equilíbrio' entre a sociedade
política e a sociedade civil.
Ainda que do ponto de vista hegemônico prevaleça em Mato Grosso a ideologia
dos grupos sociais dominantes o que em última instância denota o caráter conservador da
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
8
ação estatal, não se pode pensá-la como imutável já que é na arena de lutas e interesses
em confronto que se pode definir uma outra direção que não a dos interesses dominantes.
Neste sentido, mesmo reconhecendo o alcance circunscrito da política de
Assistência Social no combate à pobreza e na diminuição das desigualdades não se pode
desconhecer seu significado como direito. Mesmo limitada pode contribuir na ampliação da
cidadania ao proporcionar acesso a recursos e serviços sociais, possibilitando, além disso,
que de mero beneficiários a população assuma no exercício do controle social seu
protagonismo, repolitizando a esfera pública na luta pela realização do caráter público das
políticas sociais em que a Assistência Social seja efetivamente dever do Estado e direito do
cidadão.
Talvez por essa razão, é que o investimento nesta área seja o mais complexo,
pois, é exigente não somente em recursos financeiros, como também em diversos tipos de
recursos institucionais, políticos e humanos. O desempenho tímido dos indicadores sociais
em Mato Grosso pode ser explicado, ao menos parcialmente, pela organização e
funcionamento do Estado, mais especificamente do governo dessa política, na forma de
organização de poder e das estruturas de direção/coordenação e execução, na relação
entre os entes federados que atuam no campo das políticas sociais (União, Estado e
Municípios), além das questões de financiamento e das prioridades na aplicação dos
recursos. Todas essas questões dizem respeito ao processo de planejamento e
implementação de políticas públicas para o setor, que atestam o estado da arte das relações
políticas instituídas na Sociedade e no Estado e que condicionam a ação e o resultado das
políticas públicas.
Em outras palavras, utilizando a linguagem de Matus4 (1993), o estudo das
políticas públicas é na verdade o estudo das forças que agem no jogo político mais amplo as
quais definem seus resultados e ao tomar como referência o componente políticoinstitucional é possível desvendar algumas das razões que determinam o fracasso do
desenvolvimento social em Mato Grosso e as possibilidades de sua alteração, porque a
desigualdade encontra-se na origem da pobreza e combatê-la torna-se um imperativo,
(BARROS; MENDONÇA, 2000).
REFERÊNCIAS
CAMPOS, André et al. Atlas da Exclusão Social. Os ricos no Brasil. São Paulo: Cortez,
2004.
4
Para mais informações sobre a teoria de Matus sobre Planejamento e Governo, ver: MATUS, Carlos. Política,
Planejamento e Governo. IPEA. Brasília, 1993. Tomo I e II.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005
9
______. ______. Dinâmica e manifestação territorial. São Paulo, Cortez, 2004.v. 2.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social – uma crônica dos salários.
Petrópolis – RJ: Vozes, 1998.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores de
desenvolvimento sustentável. Brasil 2002. Estudos e Pesquisas. Informação geográfica
2.
MATO GROSSO. Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Anuário Estatístico
de Mato Grosso 2003. Cuiabá-MT, 2004. v. 25.
______. ______. Relatório de Ação Governamental. Cuiabá-MT, abril, 2005.
NOVIS NEVES, Maria Manuela Renha de. Elites Políticas: Competição e Dinâmica
Partidário-Eleitoral (Caso de Mato Grosso). São Paulo: IUPERJ; Ed. Vértice, 1988.
MATUS, Carlos. Política, Planejamento e Governo. Tomo I e II. Brasília: IPEA, 1993.
POCHMANN, Marcio et al. Atlas de Exclusão Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003.
______. Atlas da Exclusão Social. Os ricos no Brasil. São Paulo: Cortez, 2004.
______. Atlas da Exclusão Social. A Exclusão no Mundo. Vol. 4. São Paulo: Cortez, 2004.
SAMPAIO, Edna Luzia Almeida. Desafios da implementação de Políticas Públicas
voltadas ao enfrentamento das Desigualdades Sociais: o caso da Educação. Mato
Grosso: Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, 2005.
São Luís – MA, 23 a 26 de agosto 2005