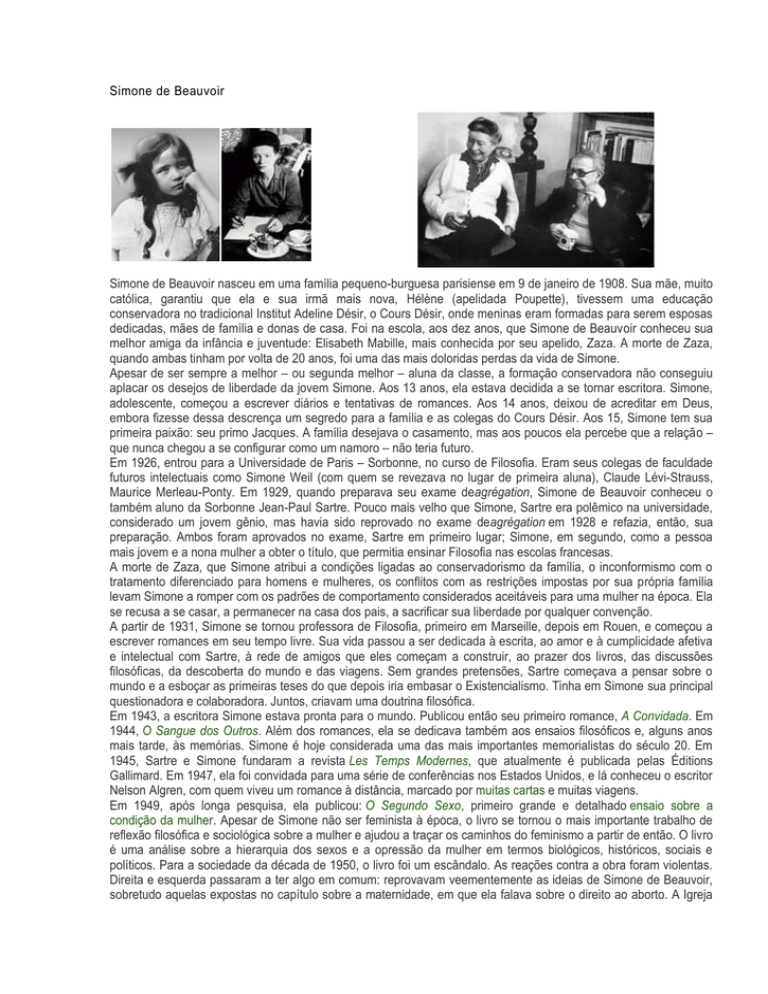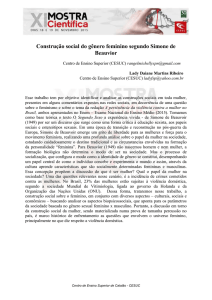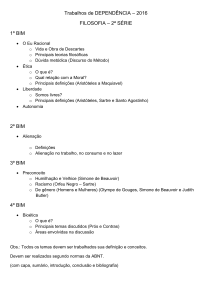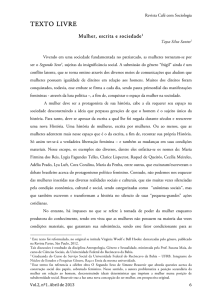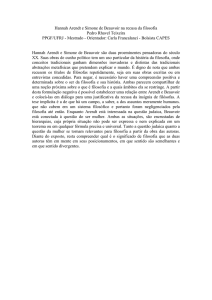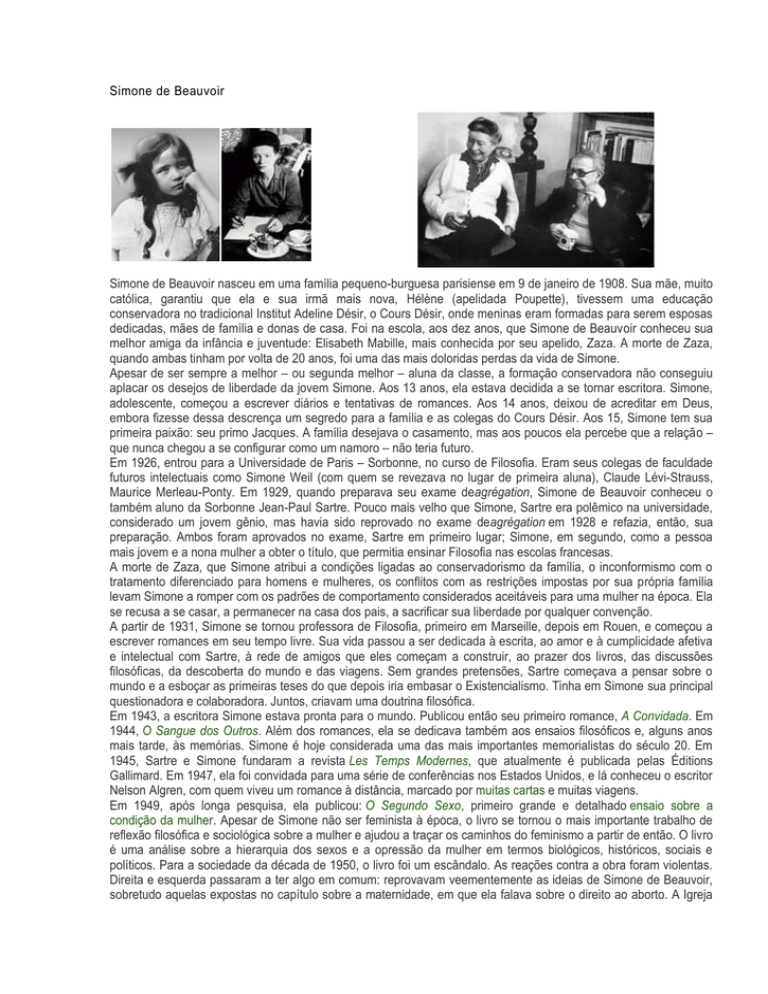
Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoir nasceu em uma família pequeno-burguesa parisiense em 9 de janeiro de 1908. Sua mãe, muito
católica, garantiu que ela e sua irmã mais nova, Hélène (apelidada Poupette), tivessem uma educação
conservadora no tradicional Institut Adeline Désir, o Cours Désir, onde meninas eram formadas para serem esposas
dedicadas, mães de família e donas de casa. Foi na escola, aos dez anos, que Simone de Beauvoir conheceu sua
melhor amiga da infância e juventude: Elisabeth Mabille, mais conhecida por seu apelido, Zaza. A morte de Zaza,
quando ambas tinham por volta de 20 anos, foi uma das mais doloridas perdas da vida de Simone.
Apesar de ser sempre a melhor – ou segunda melhor – aluna da classe, a formação conservadora não conseguiu
aplacar os desejos de liberdade da jovem Simone. Aos 13 anos, ela estava decidida a se tornar escritora. Simone,
adolescente, começou a escrever diários e tentativas de romances. Aos 14 anos, deixou de acreditar em Deus,
embora fizesse dessa descrença um segredo para a família e as colegas do Cours Désir. Aos 15, Simone tem sua
primeira paixão: seu primo Jacques. A família desejava o casamento, mas aos poucos ela percebe que a relação –
que nunca chegou a se configurar como um namoro – não teria futuro.
Em 1926, entrou para a Universidade de Paris – Sorbonne, no curso de Filosofia. Eram seus colegas de faculdade
futuros intelectuais como Simone Weil (com quem se revezava no lugar de primeira aluna), Claude Lévi-Strauss,
Maurice Merleau-Ponty. Em 1929, quando preparava seu exame deagrégation, Simone de Beauvoir conheceu o
também aluno da Sorbonne Jean-Paul Sartre. Pouco mais velho que Simone, Sartre era polêmico na universidade,
considerado um jovem gênio, mas havia sido reprovado no exame deagrégation em 1928 e refazia, então, sua
preparação. Ambos foram aprovados no exame, Sartre em primeiro lugar; Simone, em segundo, como a pessoa
mais jovem e a nona mulher a obter o título, que permitia ensinar Filosofia nas escolas francesas.
A morte de Zaza, que Simone atribui a condições ligadas ao conservadorismo da família, o inconformismo com o
tratamento diferenciado para homens e mulheres, os conflitos com as restrições impostas por sua própria família
levam Simone a romper com os padrões de comportamento considerados aceitáveis para uma mulher na época. Ela
se recusa a se casar, a permanecer na casa dos pais, a sacrificar sua liberdade por qualquer convenção.
A partir de 1931, Simone se tornou professora de Filosofia, primeiro em Marseille, depois em Rouen, e começou a
escrever romances em seu tempo livre. Sua vida passou a ser dedicada à escrita, ao amor e à cumplicidade afetiva
e intelectual com Sartre, à rede de amigos que eles começam a construir, ao prazer dos livros, das discussões
filosóficas, da descoberta do mundo e das viagens. Sem grandes pretensões, Sartre começava a pensar sobre o
mundo e a esboçar as primeiras teses do que depois iria embasar o Existencialismo. Tinha em Simone sua principal
questionadora e colaboradora. Juntos, criavam uma doutrina filosófica.
Em 1943, a escritora Simone estava pronta para o mundo. Publicou então seu primeiro romance, A Convidada. Em
1944, O Sangue dos Outros. Além dos romances, ela se dedicava também aos ensaios filosóficos e, alguns anos
mais tarde, às memórias. Simone é hoje considerada uma das mais importantes memorialistas do século 20. Em
1945, Sartre e Simone fundaram a revista Les Temps Modernes, que atualmente é publicada pelas Éditions
Gallimard. Em 1947, ela foi convidada para uma série de conferências nos Estados Unidos, e lá conheceu o escritor
Nelson Algren, com quem viveu um romance à distância, marcado por muitas cartas e muitas viagens.
Em 1949, após longa pesquisa, ela publicou: O Segundo Sexo, primeiro grande e detalhado ensaio sobre a
condição da mulher. Apesar de Simone não ser feminista à época, o livro se tornou o mais importante trabalho de
reflexão filosófica e sociológica sobre a mulher e ajudou a traçar os caminhos do feminismo a partir de então. O livro
é uma análise sobre a hierarquia dos sexos e a opressão da mulher em termos biológicos, históricos, sociais e
políticos. Para a sociedade da década de 1950, o livro foi um escândalo. As reações contra a obra foram violentas.
Direita e esquerda passaram a ter algo em comum: reprovavam veementemente as ideias de Simone de Beauvoir,
sobretudo aquelas expostas no capítulo sobre a maternidade, em que ela falava sobre o direito ao aborto. A Igreja
Católica incluiu o livro no Index, a lista de obras proibidas. Com a repercussão do livro, a permanecia de Simone em
Paris se tornou insustentável e ela partiu em viagem com Algren pela Europa e norte da África.
Entre os anos 1950 e 1960, a ação política de Sartre colocou o casal em evidência no mundo. Eles viajaram à então
União Soviética, à China, à Suécia, ao Brasil. Ambos eram definitivamente reconhecidos por unir sua força
intelectual ao engajamento político. Em 1954, Simone publica Os Mandarins, por muitos considerado seu melhor
romance. O livro lhe rendeu o Prêmio Goncourt daquele ano. Todas as atenções se voltavam, então, para a vida
intelectual, mas também sexual e amorosa de Simone. Depois de Os Mandarins, Simone começou a trabalhar em
seus livros de memórias: Memórias de uma Moça Bem-Comportada (1958), A Força da Idade (1960) e A Força das
Coisas(1963). Publicou também vários ensaios, relatos de viagens, a obra em que fala sobre a morte de sua
mãe, Uma Morte Muito Suave (1964), e a novela A Mulher Desiludida (1967).
Nos anos 1970, Simone de Beauvoir publicou o quarto volume de suas memórias,Balanço Final (1972) e passou a
apoiar oficialmente as ações do movimento feminista. Em 1974, criou a Ligue du Droit des Femmes. Ao final da
década, Sartre estava seriamente debilitado, sua saúde frágil não permitiu que ele se recuperasse de uma
pneumonia. Ele faleceu em 15 de abril de 1980. Pouco mais de um ano depois, em maio de 1981, morreu Nelson
Algren. Simone enfrentou as perdas com lucidez e refletiu sobre a morte em seus últimos escritos. A Cerimônia do
Adeus(1981) foi o último livro publicado em vida pela escritora, filósofa e memorialista. Sua saúde começou, então,
a se debilitar.
Simone morreu em 14 de abril de 1986, um dia antes do aniversário da morte de Sartre, tendo realizado seus dois
sonhos de infância: o de se tornar escritora e o de ser uma mulher independente. Mas também sem realizar um de
seus maiores desejos desde que conheceu Sartre: o de que seu companheiro de toda a vida não morresse antes
dela.
avecbeauvoir.wordpress.com/simone-de-beauvoir/
Sessenta anos de 'O segundo sexo'
Artigo publicado no Caderno Cultura de O Estado de São Paulo por ocasião dos 60
anos da publicação do livro 'O Segundo sexo' de Simone de Beauvoir
Leda Tenório da Motta. Há duas fotografias perturbadoras de Hannah Arendt no
primeiro e melhor volume da última oba de impacto de Julia Kristeva, a trilogia O
gênio feminino, lançada na França em 2000, e aqui traduzida, imediatamente. Seis
anos separam essas duas imagens, já do período novaiorquino da filósofa. Em
ambas, ela surge de terno e cabelos bem curtos, e ostenta a sua ambiguidade
sexual. Mas o rosto da jovem “garçonne” que vemos na primeira, tirada em 1944 _ nos diz Kristeva _, foi substituído,
na segunda, por uma figura em que “a virilidade desabrochou”, e que traduz “até a caricatura” a dureza do combate
que esta pensadora mulher teve que travar para desempenhar-se numa “profissão de homens”.
Hoje que as mulheres não precisam mais apelar para o cross dressing, como George Sand e Hannah Arendt, para
assumir profissões que também não cabe mais chamar de masculinas, mas já podem ser filósofas _ até mesmo na
televisão _, e se casar entre si, e fazer juntas filhos de proveta, advogando ser para estes filhos uma instância
familiar, fora do abrigo do nome-do-pai, será que poderíamos pensar que O segundo sexo de Simone de Beauvoir
realizou a sua missão? Acaso diríamos que, nos seus 60 anos, atualmente comemorados, esse livro-monumento,
de quase mil páginas, agora concentradas num único e impositivo tomo, já pode morrer de ter vivido? Que a sua
falta de atualidade seria o próprio atestado da sua vitória?
Temos vários motivos para pensar que não.
Se é lamentavelmente verdade que, no novo tipo de cultura da velocidade em que estamos hoje mergulhados,
refluíram os pensadores de fôlego, como os da escola existencialista a que pertenceu Beauvoir, e entraram em
campo os filósofos biodegradáveis _ os Lipovesty e os Maffesoli _, sucessores daqueles outros que, no final do
século XX, já se haviam transformado nos mais rarefeitos “novos filósofos” _ , nada nos impede de continuar
pensando que um grande livro será sempre aquilo que sempre foi. Isto é, um alimento para gerações e gerações, e
até mesmo para aquelas gerações que, com o correr do tempo, lhe vieram a ser adversárias, como podemos ser
contrários, hoje, por exemplo, às teses naturalistas de Taine, ou à defesa que faz Camus, em Os justos, do
terrorismo revolucionário. Ou mesmo àquilo que a própria Beauvoir diz de Freud, em seu livro mítico, inaugurando
uma ladainha que ainda está em curso: que ele não soube lidar com a mulher.
Depois, não é possível tratar assim, como se fosse um panfleto ou uma cartilha, uma imersão erudita como esta na
história das idéias, da ciência, das religiões, das artes, que nada pode ter de utilitária, porque o que se oferece aí
não é propositivo _ ainda que tudo aí tenha contribuído para nos reformar _, mas vertiginosamente
retrospectivo.Mesmo porque essa retrospecção é tão grave e solene quanto o mergulho de Sartre em Flaubert,
realizado nas páginas deste outro livro-monumento que é O idiota da família, em cuja abertura lemos que a
pergunta é sobre “o que se pode saber de um homem”, a partir de um “estudo de caso concreto”. É com esse
mesmo paradoxo que Beauvoir está envolvida quando, fiel à divisa sartriana da precedência da existência sobre a
essência, nos diz, na sua introdução, que não busca um saber geral sobre as mulheres, mas o que escapa ao
genérico, o sedimento existencial. Trata-se de uma espécie de ciência do particular. Daí os existencialistas serem
também ficcionistas, já que é a literatura que é assim sutil, e Beauvoir ter recebido, em 1954,um Prêmio Goncourt
pelo romance Os Mandarins, em que vai em busca do traçado vivencial da sua própria tribo, gesto que Kristeva
repetiria, trinta anos depois, em Os Samurais, cujo título é uma clara referência ao de sua predecessora.
Além do mais, se em sua reconstrução de Hannah Arendt _ feita confessadamente na esteira de O segundo sexo _
Kristeva admira-se de que, em pleno século XX, e em plenos Estados Unidos, a autora de Origens do totalitarismo
tenha precisado de apliques fálicos para desempenhar-se como filósofa _ o que jamais teria acontecido nem a
Beauvoir nem a ela própria, diga-se de passagem, por estarem ambas imersas na cultura matriarcal francesa dos
salões, com suas as suas Madame de Récamier e Madame de Staël, que, aliás, ainda estão lá, bem presentes, no
mundo proustiano _, não nos podemos gabar de ter chegado ao terceiro milênio sem o ultraje do traje das mulheres
veladas. De fato, indo do simples lenço na cabeça, como o trazem as filhas de Saddam Hussein, ao freak show da
burka, e ainda que proibido, desde há alguns anos, nas escolas francesas, o véu da vergonha ainda cobre rostos e
corpos que surpreendemos, ainda hoje, até mesmo nas ruas das mais avançadas metrópoles européias. Por outro
lado, a infibulação _ a ablação iniciática do clitóris _ não cessou na África, nem o apedrejamento das adúlteras no
Oriente Médio.
Isso e mais tudo aquilo que sabemos que persiste, como misoginia, mesmo nos mundos que estão agora
absorvendo a crise das categorias genéricas _ aqueles em que evoluem as paradas gay __ já bastaria para dar
sobrevida a Beauvoir. Mas o que talvez mais importe evocar, neste aniversário, nem é tanto o que resta, ainda, na
contemporaneidade, do espírito da caça às bruxas, entendido como vazão do horror ao sexo da mulher, inclusive,
quando assume o exorcismo da cortesia, que também a afugenta para longe, ainda que esse para longe seja para o
alto. O que talvez seja preciso comemorar é algo que, embora seja o selo da condição feminina, a ultrapassa,
transformando, de algum modo, em mulheres todos os que peregrinam, ainda agora, pelo planeta, na qualidade de
párias, estrangeiros, estranhos nos mundos em que se encontram. É a dimensão filosófica do Outro. A mulher é o
Outro do homem, verifica Beauvoir, em sua introdução, escrevendo a palavra com maiúscula. E acrescenta: assim
como o judeu é o outro do anti-semita, o negro, o outro do racista, o índio, o outro do colono, o proletário, o outro do
patrão. “Para o aldeão , todas as pessoas que não participam da aldeia são Outros suspeitos”, como escreve
Beauvoir.
Num livro chamado Estrangeiros para nós mesmos, que antecede de 10 anos o seu tríptico feminino, Kristeva,
também armada pelo Sartre que dizia em A Questão judaica que clamar contra o judeu é coisa que se faz em bando
de linchadores, mas trazendo agora à baila a projeção freudiana, vai redefinir esse Outro como aquele que devemos
poder reconhecer em nós, para não ter que odiá-lo fora de nós.
Eis aí um belo resumo para O segundo sexo, por uma outra dama das letras francesas.Ao depositar toda a
problemática da feminilidade na problemática da diferença, mostrando que a cultura, reiterativamente, fez a mulher
representar a diferença extrema _ vejam-se as Górgonas, aqueles seres horrendos concebidos pelos gregos, que
também eram misóginos, para o exorcismo do terror_ este precioso calhamaço da era dos filósofos franceses
torrenciais troca o feminismo pela fraternidade, e é assim que chega até nós, sem problemas.
Fraternidade _ de resto _ é a última palavra do livro: “É no seio do mundo que lhe foi dado que cabe ao homem
fazer triunfar o reino da liberdade; para conseguir essa suprema vitória, é preciso, entre outras coisas, que, para
além de suas diferenças naturais, homens e mulheres afirmem sem equívoco sua fraternidade”. Eis no que é
preciso insistir, agora. E não no clichê: “não se nasce mulher, se é transformado numa”.
http://www.pucsp.br/~ltmotta/
Jean Paul Sartre, filósofo francês, nasceu em Paris, em 1905, e faleceu em 1980. Precoce leitor dos clássicos
franceses, em 1915, ingressou no liceu Henri VI de Paris e conheceu Paul Nizan, com quem teve uma amizade
estreita. No ano seguinte, o segundo matrimônio de sua mãe, considerado por Jean Paul “uma traição” o obrigou a
mudar-se para Rochelle. Até 1920, não voltou a Paris. Em 1924, iniciou seus estudos universitários na École
Normale Supérieure, onde conheceu Simone de Beauvoir, com quem estabeleceu uma relação que duraria toda sua
vida.
Depois de cumprir o serviço militar, começou a trabalhar como professor. Em 1933, obteve uma bolsa de estudos
que lhe permitiu ir para a Alemanha, onde entrou em contato com a filosofia de Husserl e de Heidegger. Em 1938,
publicou A Náusea, novela que pretendia divulgar os princípios do existencialismo e que lhe proporcionou certa
celebridade, ao mesmo tempo em que se tornava símbolo daquele movimento filosófico.
Cassado em 1939, foi preso, mas consegui evadir-se em 1941 e voltar a Paris, onde trabalhou no liceu Condorcet e
trabalhou com Albert Camus em Combat, periódico da resistência.
Em 1943, publicou O Ser e o Nada, sua obra filosófica mais conhecida, versão pessoal da filosofia existencialista de
Heidegger. O ser humano existe como uma coisa (em si), mas também como uma consciência (para si), que sabe
da existência das coisas, sem ser ela mesma uma em si com tais coisas, mas sua negação (o nada).
A consciência localiza o homem ante a possibilidade de escolher o que será. Esta é a condição da liberdade
humana. Escolhendo sua ação, o homem se escolhe a si mesmo, mas não escolhe sua existência, que já lhe vem
concedida e é requisito de sua escolha, daqui surge a famosa máxima existencialista: a existência precede a
essência.
Dois anos mais tarde, alcançou a popularidade, abandonou o ensino para dedicar-se somente a escrever.
Juntamente com Aron, Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir, fundou Les Temps Modernes, uma das revistas de
pensamento de esquerda mais influentes no pósguerra.
Nesta época, Sartre iniciou uma flutuante relação com o comunismo, feita de aproximações (uma delas provocou
uma ruptura com Camus em 1956) e distanciamentos motivados por sua denúncia do stalinismo ou pelo seu
protesto referente à invasão da Hungria pela União Soviética. Em sua última obra filosófica (Crítica da Razão
Dialética), escrita em 1960, Sartre propôs uma reconciliação entre o materialismo dialético e o existencialismo, ao
qual começou a considerar como uma ideia parasita do marxismo, e tratou de estabelecer um fundamento da
dialética marxista demonstrando que a atividade racional humana, a práxis, é necessariamente dialética.
Em 1964, rejeitou o Prêmio Nobel de literatura para não “deixar-se recuperar pelo sistema.” Decididamente contrário
à política estadunidense no Vietnam, colaborou com Bertrand Russell no estabelecimento do Tribunal Internacional
de Estocolmo para a perseguição dos crimes de guerra.
Depois de participar diretamente da revolta estudantil de maio de 1968, multiplicou seus gestos públicos de
esquerda, assumiu a direção do periódico La Cause du People e fundou Tout!, de orientação maoísta e libertária.
Em 1975, sua saúde começou a ficar debilitada, ficou cego, depois de ter completado sua última grande obra: O
Idiota da Família (1971-1972), dedicada ao tema da criação literária, fruto de 10 anos que dedicou à investigação da
personalidade de Gustave Flaubert.
Paul-Michel Foucault, filho do cirurgião Paul Foucault e de Anna Malapert, nasceu em Poitiers, no dia 15 de
outubro de 1926. Embora pertencesse a uma tradicional família de médicos, Michel caminhou em outra direção. Na
sua educação escolar encontrou todas as influências necessárias para guiá-lo no caminho da filosofia. Seu primeiro
mentor foi o Padre De Montsabert, do qual herdou seu gosto pela história. Além disso, era um autodidata e adorava
ler. Foucault viveu o contexto da Segunda Guerra Mundial, o que estimulava ainda mais seu interesse pelas
Ciências Humanas. Mesmo contrariando os desejos paternos de que seguisse a Medicina, suas condições sóciofinanceiras lhe permitiam seguir com seus estudos.
Em 1945, com o fim da Guerra, Michel passa a morar em Paris e, neste mesmo ano, tenta pela primeira vez entrar
na Escola Normal Superior, mas é reprovado. Vai estudar então no Liceu, onde tem aulas com o famoso filósofo
hegelianista Jean Hyppolite. No ano seguinte ele consegue finalmente ingressar na Escola Normal Superior da
França, e aí tem aulas com Maurice Merleau-Ponty. Foucault realiza sua graduação em Filosofia na Sorbonne, em
1949 obtém o diploma de Psicologia e coroa seus estudos filosóficos com uma tese sobre Hegel, orientado por Jean
Hyppolite. Foucault foi sempre mentalmente inquieto, curioso e angustiado diante da existência, o que o levou a
tentar o suicídio várias vezes. Politicamente ele tentou se enquadrar no Partido Comunista Francês, mas essa
filiação durou pouco tempo, porque não suportou suas ingerências na vida pessoal.
Michel Foucault, em 1951, passa a ministrar aulas de psicologia na Escola Normal Superior e, entre seus alunos,
estão Derrida e Paul Veyne, entre outros. Ainda neste ano ele adquire uma experiência fundamental no Hospital
Psiquiátrico de Saint-Anne, que irá repercutir posteriormente em seus escritos sobre a loucura. O filósofo começa a
seguir as trilhas do Seminário de Jacques Lacan, e neste mesmo período aproxima-se de Nietzsche, através de
Maurice Blanchot e Georges Bataille. No campo psicológico, ele conclui seus estudos em Psicologia Experimental,
estudando Janet, Piaget, Lacan e Freud. De 1970 a 1984, Michel ocupa o cargo de Professor de História dos
Sistemas de Pensamento no Collége de France, no qual ele toma posse com uma aula que se torna famosa sob o
título de “Ordem do Discurso”.
Suas obras, desde a “História da Loucura” até “A História da Sexualidade”, que com sua morte ficaria inacabada,
enquadram-se dentro da Filosofia do Conhecimento. Anteriormente, porém, publicou “Doença Mental e Psicologia”,
quando ainda tinha 28 anos. Mas foi realmente com “História da Loucura”, de 1961, sua tese de doutorado na
Sorbonne, que ele se consolidou na Filosofia. Neste livro ele explora as razões que teriam levado, nos séculos XVII
e XVIII, à marginalização daqueles que eram considerados desprovidos da capacidade racional. Seus estudos sobre
o saber, o poder e o sujeito inovaram o campo reflexivo sobre estas questões. Tudo que se concebia sobre estes
temas em termos modernos é transgredido pelo pensamento foucaultiano, o que levam muitos a considerarem o
filósofo, a despeito de sua própria auto-opinião, um pós-moderno.
A princípio Foucault seguiu uma linha estruturalista, mas em obras como “Vigiar e Punir” e “A História da
Sexualidade”, ele é concebido como um pós-estruturalista. A questão do ‘poder’ é amplamente discutida pelo
filósofo, mas não no seu sentido tradicional, inserido na esfera estatal ou institucional, o que tornaria a concepção
marxista de conquista do poder uma mera utopia. Segundo ele, este conceito está entranhado em todas as
instâncias da vida e em cada pessoa, ninguém está a salvo dele. Assim, Michel considera o poder como algo não só
repressor, mas também criador de verdades e de saberes, e onipresente no sujeito. Ele estuda o que de mais íntimo
existe em cada cultura ou estrutura, investigando a loucura, o ponto de vista da Medicina, em “Nascimento da
Clínica”, a essência das Ciências Humanas, no livro “As Palavras e as Coisas”, os mecanismos do saber em “A
Arqueologia do Saber”. Na sua produção acadêmica ele investiu contra a psiquiatria e a psicanálise tradicionais.
Além da sua obra conhecida, muitos cursos e entrevistas do autor contribuem para uma melhor compreensão de
sua forma de pensar. No mês de junho de 1984, o filósofo foi vítima de um agravamento da AIDS, que provocou em
seu organismo uma septicemia.
http://www.infoescola.com/biografias/jean-paul-sartre/
O existencialismo de Sartre
Por: Leila Caroline J. Tozetto.
“Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós”, ou ainda;
"O importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós."
JEAN PAUL SARTRE (1905-1980).
Antes de chegar nesta tão celebre frase, Sartre passou por toda uma construção anterior desse pensamento desembocando
posteriormente no pensamento conhecido como existencialista. Em L´Imaginaire desenvolve um pensamento separativista da
percepção e da imaginação, em L´Être et le néant contesta o subconsciente freudiano desvinculando-se do determinismo
religioso,e no qual no decorrer da leitura vê-se o cerne da idéia posterior de responsabilizar o homem pelos seus próprios atos
expondo a idéia de liberdade como um aprisionamento do ser (“Não somos livres de ser livres”) já que o homem é o único ser
capaz de criar o nada:
“Ao tomar uma decisão, percebo com angústia que nada me impede de voltar atrás. Minha
liberdade é o único fundamento dos valores.”
Desta forma gera no homem a angustia de saber que nada o impede de voltar atrás, o medo de arcar com sua própria
liberdade. Assim, condenados a uma liberdade insatisfatória, jamais alcançando o que realmente desejamos sendo, portanto,
uma liberdade irrealizável.
A Existência precede a essência?
Para o pensamento de Sartre Deus não existe, portanto o homem nasce despido de tudo, qual seja um ser que existe
antes de poder ser definido por qualquer conceito, e que este ser é o homem, o que significa que o homem primeiramente
existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para
concebê-la, a única natureza pré-existente é a biológica, ou seja; a sobrevivência, o resto se adquire de tal forma que não vem
do sujeito é ensinado a ele pelo mundo exterior.
Se Deus não existe não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim
não teremos justificativa para nosso comportamento. Estamos sós, sem desculpas.
É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre (pensamento desenvolvido em o ser e o
nada). Condenado, porque não se criou a si mesmo, mas por estar livre no mundo estamos condenados a ser livres, mas se
verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é, ou seja;
“Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós”.
O homem é aquilo que ele mesmo faz de si, é a isto que chamamos de subjetividade. Desse modo, o primeiro passo
do existencialismo é de por todo o homem na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total de sua
existência. Para o existencialista não ter a quem culpar já que Deus não existe, e o subconsciente não existe é o que leva ao
pensamento da liberdade não livre, pois, junto com eles, desaparecem toda e qualquer possibilidade de encontrar valores
inteligíveis, nem um modelinho pré-definido a ser cumprido.
A fórmula "ser livre" não significa "obter o que se quer", e sim "determinar-se a escolher". Segundo Sartre o êxito
não importa em absoluto à liberdade. Um prisioneiro não é livre para sair da prisão, nem sempre livre para desejar sua
libertação, mas é sempre livre para tentar escapar.
Sendo livres somos responsáveis por nossas ações consequentemente somos livres para pensar e conceber nossos
próprios paradigmas, não sendo então aquilo que fizeram de nós e sim nos criando a partir do que fizeram de nós. Somos o que
escolhemos ser.
http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/filosofia/
Resumo completo de Vigiar e Punir (parte I e II): suplício e punição
Este texto pretende servir como guia para quem ainda
não leu ou procura orientação a respeito do que
tratam cada item e capítulo da obra Vigiar e Punir,
escrita por Michel Foucault e publicada, em 1975,
com o título original (em francês) de Surveiller et
Punir: Naissance de la prison. Eis que na página 23
podemos ler o propósito da obra segundo seu autor:
“Objetivo deste livro: uma história correlativa da alma
moderna e de um novo poder de julgar; uma
genealogia do atual complexo científico-judiciário
onde o poder de punir se apóia, recebe suas
justificações e suas regras, estende seus efeitos e
mascara sua exorbitante singularidade” (1999, p. 23).
Deve-se compreender que, pelo termo “alma”, o
filósofo não se refere ao objeto metafísico corrente no senso comum, porém o que poderíamos designar igualmente
por “psique”, “subjetividade”, “personalidade”, “consciência”.
Primeira parte: o suplício
I. O corpo dos condenados. O autor inicia este capítulo expondo dois documentos que explicitam dois estilos penais
diferentes. O primeiro documento é a descrição de um suplício, um espetáculo público bastante violento
[“Finalmente foi esquartejado. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam
afeitos à tração; de modo que, em vez de quatro, foi preciso colocar seis; e como isso não bastasse, foi necessário,
para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas” (p. 09)]; já o segundo documento
descreve alguns artigos do código de execução penal, com toda a sua utilização fragmentária do tempo e sua
sutileza punitiva [“Art. 17. – O dia dos detentos começará às seis horas da manhã no inverno, às cinco horas no
verão. O trabalho há de durar nove horas por dia em qualquer estação. Duas horas por dia serão consagradas ao
ensino. O trabalho e o dia terminarão às nove horas no inverno, às oito horas no verão” (p. 10)]. Entre eles há um
hiato surpreendente de apenas três décadas (do final do século 18 e início do século 19). Para alguns relatos da
época (e também atuais), o desaparecimento do suplício tem a ver com a “tomada de consciência” dos
contemporâneos em prol de uma “humanização” das penas. Mas a mudança talvez se deva mais ao fato de que o
assassino e o juiz trocavam de papeis no momento do suplício, o que gerava revolta e fomentava a violência social.
Era como se a execução pública fosse “uma fornalha em que se acende a violência” (p. 13). Sendo assim,
necessário seria criar dispositivos de punição através dos quais o corpo do supliciado pudesse ser escondido,
escamoteado; excluindo-se do castigo a encenação da dor. A guilhotina já representa um avanço neste sentido, pois
faz com que aquele que pune não encoste no corpo do que é punido. A partir da segunda metade do séc. 19, na
mudança do suplício para a prisão, embora o corpo ainda estivesse presente nesta última (por ex: redução
alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra), é a um outro objeto principal que a punição se dirige, não
mais ao corpo, e sim à alma. “A expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue,
profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições” (p. 18). Mesmo que não haja grande
variação acerca do que proibido e permitido nesse período, o objeto do crime modificou-se sensivelmente. Não só o
ato é julgado, mas todo um histórico do criminoso, “quais são as relações entre ele, seu passado e seu crime, e o
que esperar dele no futuro” (p. 19). Assim, saberes médicos se acumulam aos jurídicos para justificar os
mecanismos de poder não sobre o ato em si, mas sobre o indivíduo, sobre o que ele é. A justiça criminal se ampara
em saberes que não são exatamente os seus e cria uma rede microfísica para se legitimar.
II. A ostentação dos suplícios. O capítulo se inicia com a exposição de
discursos oficiais que regiam as práticas penais de 1670 até a Revolução
(Francesa, em 1789). Execuções eram raras, só em 10% dos casos. Mas a
maioria das penas vinha acompanhada do suplício (pena corporal, dolorosa,
mais ou menos atroz). O suplício deve marcar o condenado e por isso tem
níveis e hierarquias. A morte (execução), por exemplo, é um suplício em que se
atinge o grau máximo de sofrimento (por esta razão chamada de “mil mortes”).
É um ritual, uma arte de fazer sofrer. E deve ser assistida por todos, constatada
como triunfo da justiça. A determinação do grau de punição variava não
somente conforme o crime praticado, mas também de acordo com a natureza
das provas. Por mais grave que um crime fosse, senão houvesse provas
contundentes, o suplício era mais brando do que aquele em que o crime era
menos grave, mas que, por outro lado, dispunha de provas integrais sobre o delito. Semelhante a literatura de
Kafka, o processo era feito sem o processado saber. Tal sigilo garantia sobretudo que a multidão não tumultuasse
ou aclamasse a execução. Desta forma o rei mostrava que “força soberana” não pertencia à multidão, tendo em
vista que o crime ataca, além da vítima, também o soberano. Quanto à participação do povo nessas cerimônias, ela
era ambígua. Muitas vezes era preciso proteger o criminoso da ira do povo. O rei permitia um instante de violência,
mas sem excessos, principalmente para não dar a ideia de privilégio a massa. Por outro lado, em algumas ocasiões
o povo conseguiu até mudar a situação do suplício e suspender o poder soberano; em casos semelhantes, havia
revolta contra sentenças de crimes menos graves; ou comparecia simplesmente para ouvir aquele que não tinha
nada a perder maldizer os juízes, as leis, o poder e a religião (uma espécie de carnaval de papeis invertidos, em que
os poderes eram ridicularizados e criminosos viravam heróis).
Segunda parte: a punição
I. A punição generalizada. Neste item, Foucault aborda a mudança da punição. Na segunda metade do séc. 18, o
suplício passa a ser visto pelos reformadores com um perigo ao poder soberano, porque a tirania leva à revolta.
Entende-se a necessidade de se respeitar no assassino, o mínimo, sua “humanidade”. Antes de tal mudança de
concepção, ocorre uma transformação na qualidade dos crimes, que passam do sangue (agressões e homicídios) à
fraude e contra a propriedade (roubos, invasões, etc.). Isto tem a ver, obviamente, com o processo social
(econômico) que corre paralelo desde o século 17 (desenvolvimento da produção, aumento de riquezas, valorização
moral e legal das propriedades privadas, novos métodos de vigilância, policiamento mais estreito). Então não é
meramente uma questão de respeito à “humanidade” que fez mudar os dispositivos de punição, mas de adequação
de penas aos delitos. Por exemplo, a justiça fica mais rigorosa em alguns casos, antecipando os crimes. O objetivo
da reforma não é fundar um novo direito de punir mais equitativo, porém estabelecer uma nova distribuição para que
este não fosse descontínuo ou excessivo e flexível em alguns pontos. A reforma não vem somente de fora, parte
também de dentro do sistema judiciário, é certo que ela vem de filósofos, mas também de magistrados. Na história
da França, a reforma se consolidou após a Revolução porque insidia diretamente sobre os pobres. Inauguram-se aí
duas objetivações, do criminoso e do crime: o criminoso como homem da natureza que precisa de cultura, o
“anormal”, o louco, o doente, o monstro; e a organização de campo de prevenção, constituição de certeza e
verdade, codificação, definição dos papeis, regras de
procedimento.
II. A mitigação das penas. A reforma do sistema
punitivo caminha em direção à noção de que a
punição deve participar de uma mecânica perfeita em que a vantagem do crime se anule na desvantagem da pena;
desestimulando, assim, futuros contraventores e, principalmente, eliminando a reincidência. Neste sentido, a
punição não deve aparecer mais como efeito da arbitrariedade de um poder humano, mas tão somente
consequência natural da prática criminosa. Nesse novo mecanismo, o poder que pune se esconde; funciona como
uma tentativa de diminuir o desejo que torna o crime algo atraente. Por isso as penas não podem durar para
sempre, elas precisam terminar, mostrar sua eficácia, tornando o criminoso virtuoso. É verdade que existem os
incorrigíveis e estes devem ser eliminados, mas, para os demais, as penas só funcionam caso terminem. Além
disso, a pena serve não apenas para o criminoso, porém para todos os outros; é importante que seu discurso (de
eficácia) possa circular socialmente, se legitimando. E para que o criminoso não vire um herói como outrora, “só se
propagarão os sinais-obstáculos que impedem o desejo do crime pelo receio calculado do castigo” (p. 93), não mais
a glória ou esperteza do contraventor. Trata-se de dispositivos voltados para o futuro. De agora em diante, se pune
para transformar um culpado, não para apagar o crime.