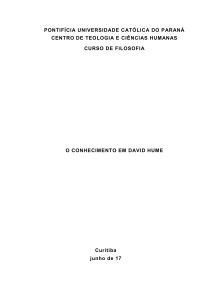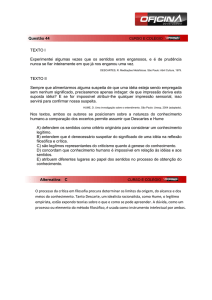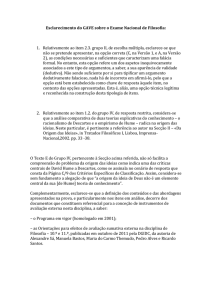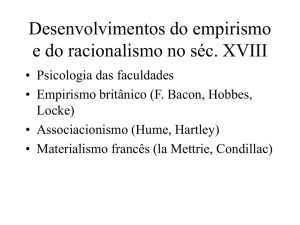21
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
HUME E O CETICISMO 1
HUME AND THE SKEPTICISM
VALADARES, Alexandre Arbex2
RESUMO
O presente artigo propõe uma leitura da filosofa de Hume, especialmente de sua teoria do
conhecimento (ou da sua impossibilidade), à luz de sua relação com o ceticismo. Assinalando
o caráter controverso dessa filiação, o texto expõe inicialmente os pontos principais da crítica
de Hume ao ceticismo antigo, e os seus argumentos em favor da um ceticismo dito moderno,
que, sem converter-se em método, como em Descartes, demarcaria, revelando os limites da
natureza humana, o campo mesmo da experiência e da investigação científica. Em seguida,
tem lugar, uma apresentação dos conceitos de impressões e ideias, com base nos quais Hume
propõe como crítica à noção de causalidade ou ao princípio de razão, a sua teoria da
associação de ideias. Por fim, é analisado o papel do hábito e da crença na produção do
conhecimento.
Palavras-chave: Hume; Ceticismo; Causalidade.
ABSTRACT
This article proposes an interpretation of Hume's philosophy, especially his theory of
knowledge (or its absence) in the light of its relationship with skepticism. Noting the
contentious nature of this affiliation, the text presents initially the main points of criticism of
Hume's skepticism old, and his arguments in favor of a modern skepticism said that, without
becoming a Method, as in Descartes, demarcate, revealing the limits of human nature, the
same field of experience and scientific research. Then, you must place a presentation of the
concepts of views and ideas on which Hume suggests, as criticism of the notion of causality
or the principle of reason, his theory of association of ideas. Finally, we analyze the role of
habit and belief in knowledge production.
Keywords: Hume; Skepticism; Causality.
1
As obras de H ume citadas no texto serão referidas nas notas de rodapé por suas respectivas abreviações: TNH
(Tratado da Natureza Humana) e IEH (Investigação acerca do entendimento humano).
2
Mestre em Ciência Política (IUPERJ), doutorando em Filosofia (IFCS-UFRJ). Membro do grupo de pesquisa Spinoza
& Nietzsche SpiN.E-mail: [email protected].
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
22
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
1.
Embora seja recorrente nos estudos
de história da filosofia associar Hume à
linhagem do ceticismo, e se possam
recolher na sua obra numerosas citações
que corroborem essa filiação, há decerto
algo de paradoxal em vincular a uma
doutrina que sustenta a impossibilidade do
conhecimento e prega a prática renitente da
dúvida uma obra como o Tratado da
natureza humana (TNH), definida, em seu
subtítulo, como “tentativa de introduzir o
método experimental de raciocínio nos
assuntos morais”. Essa advertência sucinta
que inaugura a obra fundamental da
filosofia de Hume parece, antes, anunciar a
intenção de estender o senhorio da razão
científica
aos
domínios
da
sentimentalidade. Além disso, a expressão
“método experimental” denota a grande
influência exercida sobre Hume pela física
newtoniana, que, segundo suas palavras,
haveria de “passar vitoriosa à posteridade”.3
A física de Newton apartava-se da tradição
racionalista, e propunha, em lugar das
relações de causalidade fundadas no
princípio de razão, conforme o qual todas
as coisas decorrem de uma causa suficiente
pela qual devem ser explicadas, um método
pautado pela observação de fatos, por uma
comparação sistemática dos seus efeitos, a
partir da qual se pudessem deduzir as leis
de operação dos fenômenos e os padrões
constantes da experiência.
A rigor, Newton não oferece uma
explicação das causas da gravidade: ele
descreve, por meio de princípios
matemáticos,
as
suas
leis
de
funcionamento; reside nessa diferença o
sentido da célebre frase de Newton,
hypotheses non fingo (“não finjo
hipóteses”), com a qual ele buscara
assinalar que a filosofia experimental se
circunscrevia apenas ao que era dado
deduzir dos fenômenos, e tudo mais que
excedesse essa condição poderia ser
considerado hipotético. O projeto de Hume
é construir uma psicologia científica ou
uma física do espírito, à maneira da física
newtoniana e inspirada em seu método
(LAPORTE, 1933). Ora, a adoção do
método experimental implica a rejeição da
metafísica, na medida em que esta supõe a
possibilidade de estabelecer princípios
primeiros ou verdades a priori capazes de
dar conta de todas as questões. O
empirismo procede por casos, por
exemplos, e se, confrontado com a infinita
heterogeneidade do real e com a oscilação
dos juízos humanos, tende por um lado a
desdobrar-se em ceticismo, por outro lado,
porém, não implica de modo algum o
negativismo cético segundo o qual todo
conhecimento humano é vão porque todas
as certezas são derrogáveis por qualquer
simples exceção captada na experiência:
para Hume, trata-se antes de afirmar que os
limites do conhecimento humano são
traçados pela própria constituição da
natureza dos homens e coincidem com o
campo da experiência ou das percepções
sensíveis, para além do qual existem apenas
hipóteses.
O empirismo constitui, pois, uma
crítica ao a priori (DELEUZE, 1974), e,
desse ponto de vista, recomenda,
inicialmente, uma postura cética à razão: é
erro comum entre os filósofos, afirma
Hume,4
supor
que
um
princípio
fundamental fixado graças à aplicação do
intelecto, conquanto seja de fato capaz de
explicar um grande número de coisas, possa
dar conta da imensa variedade da natureza.
Para submeter todos os fenômenos às leis
de seu raciocínio, os filósofos se vêem por
vezes obrigados a sustentar as mais
absurdas opiniões, e, ao fazê-lo, não
3
HUME. “A origem e o progresso das artes e das
ciências”. Ensaios morais, políticos e literários. São
Paulo: Nova Cultural, 1989.
4
HUME. “O cético”. Ensaios morais, políticos e
literários. São Paulo: Nova Cultural, 1989.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
23
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
encontram outra justificativa que a
disposição particular de seu espírito ou suas
propensões naturais de gosto. E, por certo,
o mais confiável entre os princípios da
filosofia é precisamente o lema cético
segundo o qual nada é em si mesmo bom ou
ruim belo ou disforme, visto que todos os
juízos derivam apenas da constituição
peculiar dos sentimentos humanos. Essa
denúncia das variações de nossos
julgamentos e da contradição das opiniões
consiste, para Hume, em uma forma
“popular” (IEH, XII) de ceticismo, que,
além
de
preconizar
uma
atitude
insustentável ante as questões de fato com
que nos deparamos na vida diária, não tem
qualquer conteúdo filosófico. Trata-se de
um ceticismo espontâneo ou de primeiro
nível, que se diferencia dos ditos ceticismos
pré-filosóficos, como o pirrônico e o
cartesiano, este a aconselhar a dúvida
universal como forma de proteção contra o
erro e como etapa inicial necessária da
inquirição metódica pela verdade, aquele a
usar a razão contra a própria razão,
explorando suas contradições a fim de
tornar patente a falibilidade de todos os
juízos.
A argumentação que fundeia essas
modalidades de ceticismo é descrita por
Hume5 como um processo de acumulação
de incertezas que se vão formando a partir
de sucessivas revisões críticas dos juízos
racionais. Cada juízo relativo à natureza de
um objeto deve ser corrigido por outro
juízo, relativo à natureza do entendimento;
desse modo, à incerteza original, acerca do
objeto, se soma uma nova incerteza, acerca
da capacidade de julgar; após essas
incertezas se terem ajustado uma à outra
mediante a retificação do juízo inicial, uma
nova incerteza é introduzida no raciocínio
com relação a essa estimativa, envolvendo,
pois, uma nova crítica à fidelidade da razão.
Cada nova reflexão sobre a falibilidade do
juízo subtrai uma parcela de certeza das
opiniões inicialmente consideradas acerca
de um objeto. Esse movimento desdobra-se
em uma regressão indefinida, que em algum
momento fará perecer por completo a
crença no juízo inicial. Os homens tendem
a esposar esse tipo de ceticismo quando se
confrontam com sua incapacidade de
formular
uma
simples
definição
suficientemente clara e insuscetível à
contestação racional. Quanto à dúvida
metódica de Descartes, cujo objetivo é
atingir uma verdade sobre a qual se possa
construir uma ciência verdadeira, Hume
pondera que é impossível conferir a
qualquer princípio fundamental, tido por
evidente em si mesmo, uma prerrogativa ou
precedência sobre outros princípios
indubitáveis, e, ademais, ainda que se
chegasse a estabelecer tal certeza original,
seria absurdo supor que, contando apenas
com uma razão cuja imperfeição foi
atestada pelo próprio método, se poderia
avançar um passo além. A dúvida universal
envolve não apenas os objetos ou opiniões,
mas a capacidade mesma da razão de emitir
juízos perfeitamente confiáveis.
De todo modo, esse tipo de ceticismo
total, segundo o qual nossos raciocínios são
destituídos de qualquer medida de verdade
ou de falsidade, é uma extravagância
inofensiva, sem nenhuma implicação ou
efeito prático. Hume designa essa doutrina
cética como uma “seita imaginária”,
fundada sobre “raciocínios absurdos”,
assim chamados não porque estão em
contradição com a lógica ou com a razão,
mas porque não são naturais. Os
argumentos do ceticismo pirrônico não
podem ser sincera e resolutamente
assumidos por quem quer que seja, e o
método cartesiano preceitua uma estratégia
de todo em todo irrealizável. 6 Ora, o estado
de incerteza ou irresolução que caracteriza a
dúvida não pode nascer de uma decisão
consciente de rejeitar como falsa toda
opinião que se apresente ao entendimento e
5
6
HUME, TNH, I, parte IV, seções I e II.
HUME, IEH, seção XII, parte 1.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
24
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
toda percepção que afete os sentidos, nem
tampouco pode resultar, como efeito
natural, de uma suspensão voluntária do
juízo, como defendem os pirrônicos. Um
homem não duvida porque decide duvidar:
a dúvida é uma perturbação indesejável
com que um homem se depara
imprevisivelmente e cuja intercorrência não
depende de sua vontade. Além disso, para
Hume, ao contrário do que a regra
cartesiana orienta, a dúvida não é
provisória; ela é um elemento presente a
toda dedução ou descoberta filosófica. Por
outro lado, se os princípios céticos parecem
persuasivos e desconcertantes nos debates
acadêmicos, eles se dissipam “como
fumaça”7 quando confrontados com os
princípios da natureza humana, que
governam as ações e os sentimentos dos
homens.
É certo que as objeções dos céticos
tencionam apenas denunciar a condição
paradoxal dos homens, que agem segundo
ideias ou crenças de cujos fundamentos eles
próprios se mostram inseguros quando
instados a refletir mais profundamente
sobre eles. Hume observa que os
argumentos céticos, ainda que sejam
irrefutáveis do ponto de vista da razão, não
produzem nenhuma convicção prática nem
são dignos de crença: é a natureza mesma
que os destrói a tempo, e os impede de
exercer influência considerável sobre a
mente dos homens.8 Os homens são, por
natureza, tão determinados a julgar como a
respirar ou sentir. A crítica metódica dos
céticos confunde a ação da mente,
impondo-lhe um esforço excessivo que a
desvia de suas operações naturais, e
constrange o fluxo espontâneo das
percepções – impressões e ideias. É a partir
da associação destas, na mente, que se
formam as crenças, a base, segundo Hume,
de todo conhecimento humano. O ceticismo
obriga a uma disciplina que substitui as
condições naturais em que se dá a
7
8
HUME, IEH, seção XII, parte 2.
HUME, TNH, I, parte II, seção IV.
associação das percepções na imaginação
por um regime artificial de raciocínio, que,
forçando a negação das relações sob as
quais as impressões e ideias se compõem
umas com as outras na mente, procura
extinguir a crença e a evidência. O
ceticismo é como o racionalismo, uma
doutrina dogmática.
Mas, além das objeções céticas contra
a razão, Hume examina também as posições
do ceticismo quanto aos sentidos. Os
argumentos mais comuns acerca das
imperfeições dos sentidos, ilustrados por
um sem-número de exemplos, como a
imagem do remo que parece quebrado
dentro d’água ou a simples diversidade de
aspectos que toma um mesmo objeto
segundo a perspectiva de que é visto, são
referidos apenas superficialmente por
Hume, que, a esse respeito, se limita a
assentir que as percepções sensíveis não são
inteiramente
fiéis
às
coisas
que
representam.9 Tal constatação, porém, não
implica que devamos descartá-las sem
maiores ponderações: uma vez retificadas
pela razão e pela experiência, as percepções
sensíveis podem, dentro de certos limites,
constituírem critérios adequados para os
nossos juízos, ou, mais exatamente,
demarcar o campo mesmo em que é dado
aos nossos juízos aspirar a algum grau de
verdade.
Essa argumentação envolve um tema
cético clássico: a questão da realidade do
mundo exterior. Os homens, afirma Hume,
tendem a admitir como pressuposto autoevidente, a existência de um universo
exterior independente das suas percepções.
Eles imaginam que os objetos são
exteriores à mente que os percebe, e que
eles seguem existindo, tal como são
percebidos, mesmo quando não estão mais
presentes aos sentidos. Para identificar as
causas que induzem os homens a conferir
aos corpos externos uma existência
contínua e independente da mente e da
9
HUME, IEH, seção XII, parte 1.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
25
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
percepção, Hume formula a pergunta
fundamental do método de investigação que
propõe: a partir de que impressão essa ideia
é derivada?
A relação entre impressões e ideias
ocupa a primeira parte do TNH. Hume não
estabelece entre elas uma distinção real ou
de natureza: ambas são modos de
percepção, e se diferenciam apenas quanto
à intensidade, e não em qualidade. As
impressões são percepções dotadas de
maior grau de vividez e força, isto é, são
atuais (LAPORTE, ANO), e sempre
precedem as ideias na ordem de aparição à
mente. As ideias são as percepções menos
vívidas ou não-atuais, isto é, virtuais; dito
de outro modo, as ideias são as imagens das
impressões distanciadas no espaço e no
tempo. Impressões e ideias designam, pois,
uma mesma percepção, considerada em
dois momentos: as impressões constituem
dados atuais presentes à mente e aos
sentidos, e as ideias são as representações
mentais das impressões, as marcas deixadas
por estas últimas no fluxo de percepções
que constitui a mente humana. As ideias
são, para Hume, imagens fracas das
impressões, elementos secundários na
ordem das percepções, e somente são
reinvestidas de algum grau de força e
vividez – isto é, são atualizadas – na
medida em que se relacionam a uma
impressão presente. É por essa razão que
Hume recusa a existência de ideias inatas:
são as impressões que aportam conteúdo
original à mente.
A continuidade entre impressões e
ideias explica a unidade entre o mundo do
ser, das existências, e o mundo das
aparências, isto é, o mundo tal como o
percebemos. Essa unidade, no entanto, não
supõe uma igualdade de natureza entre as
percepções e as existências das coisas que
são objeto dessas percepções. Hume aponta
que não há impressão nem ideia que não
seja concebida ou imaginada como
existente. A ideia de existência é
rigorosamente idêntica à ideia da própria
percepção, isto é, à ideia daquilo que se
supõe existir; noutros termos, a ideia de
percepção é a única medida da ideia de
existência. Aparência e existência são uma
só e mesma coisa porque uma coisa é dita
existente tal como é percebida, e é
percebida tal como se apresenta à mente e
aos sentidos. Isto significa que as
percepções constituem o limite de toda
experiência de mundo, e o conhecimento
que os homens creem ter a respeito das
coisas existentes, às quais não têm acesso
senão por via das percepções, é duplamente
alucinatório, porque envolve tanto a crença
em uma realidade objetiva, a crença no real,
quanto a crença em uma identidade pessoal,
que se apresenta como instância ordenadora
desse exterior povoado. Essas duas crenças
– a crença no mundo e a crença no “eu” –
são, para Hume, as ficções fundamentais
que tornam possíveis todas as demais
crenças e definem, com elas, o universo do
conhecimento humano (DELEUZE, op. cit.,
p. 65), isto é, o próprio ceticismo, não como
método, mas como o horizonte, por assim
dizer, onde todo conhecimento possível é o
conhecimento fundado na crença.
2.
A ideia da identidade pessoal é,
segundo Hume, tida correntemente por tão
clara e evidente que os filósofos se eximem
de demonstrá-la, alegando mesmo que não
poderíamos ter certeza de nada mais, caso
duvidássemos dela.10 Mas de que impressão
deriva essa ideia? Hume afirma que o “eu”
ou a pessoalidade não é uma impressão,mas
apenas aquilo a que nossas impressões e
ideias supostamente se referem; se existe
algo como uma impressão do “eu”, esta
deveria permanecer invariável ao longo da
nossa vida, de modo que dessa impressão
se pudesse derivar a ideia de um “eu” que é
sempre idêntico a si mesmo. No entanto,
responde Hume, não existe qualquer
impressão constante e invariável que seja
10
HUME, TNH, I, parte IV, seção IV.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
26
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
capaz de sustentar essa ideia de identidade;
além disso, quando procuramos examinar o
que se passa em nós mesmos, encontramos
sempre uma percepção particular, atual, de
dor ou prazer, de calor ou frio, de amor ou
ódio, mas jamais algo como o “eu” íntimo,
essencial, esvaziado de toda percepção.
Para Hume, os homens não são senão um
feixe de percepções sucessivas, em
perpétuo fluxo e movimento, que adquire
uma composição diversa em cada
atualidade. As operações mentais que nos
determinam a atribuir uma identidade a
essas percepções sucessivas são no que diz
respeito ao “eu”, as mesmas que nos fazem
imaginar um mundo exterior independente
e contínuo.
A noção de existência contínua dos
objetos, quando estes deixam de estar
presentes à mente e aos sentidos, não pode,
evidentemente, ser derivada dos sentidos.11
As impressões sensíveis, conforme assinala
Hume, não oferecem a imagem de alguma
coisa distinta – independente e externa – em
relação à percepção mesma, isto é, a
percepção não envolve a ideia de uma dupla
existência, ou de uma existência para além
da aparência. Mas as imagens gravadas em
nós pelos sentidos fazem-nos supor que a
impressão de um objeto é a própria
existência desse objeto, e, desse modo,
induzem-nos a crer que tal objeto existe
fora de nós e independentemente de nós.
Essa crença é reforçada pelo vínculo de
pertencimento que presumimos existir entre
nossa identidade pessoal e nosso corpo,
identificando este último como o continente
de nossa pessoalidade e como superfície de
contato entre ela e o exterior. Assim,
imaginamos como exteriores a nós as
impressões que parecem ser exteriores ao
corpo.
Hume desfecha três argumentos
contra essa crença: em primeiro lugar, os
homens somente percebem seu corpo por
meio das impressões que afetam os
11
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
sentidos, e estas, na medida em que são
percepções singulares e intermitentes, dãolhes sempre uma impressão parcial de seu
corpo e não podem ser referidas a uma
unidade corporal senão por imaginação; em
segundo lugar, a certas impressões, como
sons, sabores e aromas, não é possível
atribuir uma existência exterior ao corpo,
ainda que a imaginação as associe a objetos
externos; por fim, sem o concurso do
raciocínio e da experiência, a própria visão
não poderia oferecer-nos sequer as noções
de espaço ou distância, uma vez que elas
envolvem algo além da percepção singular
do objeto, e, nesta última, nada há que nos
autorize a deduzi-las. Os sentidos não
representam senão uma percepção dos
objetos, e tal percepção, visto que não é
jamais independente de nós mesmos, não
pode prefigurar-nos a existência de coisas
exteriores e distintas. Em síntese, afirma
Hume, a independência de nossas
percepções em relação a nós não é jamais
objeto dos sentidos.
Ao confundir um objeto com sua
percepção descontínua e dependente da
mente, o homem tende a atribuir àquele
uma existência contínua e independente.
Mas de que deriva a ideia da existência
contínua dos objetos, ou, em termos gerais,
a crença em uma realidade exterior
independente de nossas percepções e de
nossa existência? Hume constata que os
objetos a que é atribuída pela imaginação
tal existência são aqueles que parecem
possuir uma constância particular, e que,
mesmo que sofram certas modificações,
guardam certa coerência com o contexto de
relações em que ocorrem e cuja
regularidade
contrasta
com
as
transformações de que temos consciência
em
nós
mesmos.
Somos,
então,
determinados a associar aos objetos uma
constância maior que a observada em
nossas percepções: se uma coisa se nos
apresenta aos sentidos em dado momento e,
depois de um lapso de ausência, preenchido
por outra sucessão de percepções, ela torna
HUME, TNH, I, parte IV, seção II.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
27
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
a ser-nos presente, mantendo nessa segunda
aparição tal semelhança com a primeira que
sua impressão atual parece reiterar o
conteúdo da ideia derivada da impressão
anterior, a mente então transita de uma à
outra sem dar-se conta dessa passagem,
como se contemplasse sempre um mesmo
objeto contínuo. Ela conecta as aparições
passadas e presentes do objeto, ligando, por
uma relação de semelhança, essas duas
percepções perecíveis e singulares, e
objetivando essa semelhança em uma
existência contínua. A descontinuidade
entre as percepções é eliminada, na
imaginação, pela suposição de uma
existência real que as unifica em uma
identidade por semelhança. A memória das
impressões descontínuas, evocada por uma
impressão presente, confere força e vividez
a essa suposição, e ela se converte em
crença que, de acordo com Hume, induznos a ver o mundo como algo real e
duradouro, cuja existência se preserva tal
como a percebemos e independentemente
dessa percepção.
O princípio de identidade, que
sustenta a ideia de existência contínua,
envolve, pois, a ideia de tempo ou duração.
Mas o tempo implica a ideia de sucessão de
impressões e, portanto, a ideia de variação.
Hume oferece o exemplo da frase musical
tocada em uma flauta: uma sequência de
cinco notas desperta a impressão e a ideia
do tempo, embora não convenha dizer que
o tempo seja uma sexta impressão além das
notas tocadas ou que sua ideia nasça de
uma reflexão sobre essa sucessão de
impressões sonoras. A mente limita-se a
considerar a maneira ou modo pelo qual
esses sons se lhe apresentam, sem
considerar,
nesse
caso,
as
suas
particularidades. Dá-se o mesmo com a
ideia de espaço: ela deriva da percepção da
disposição dos objetos sensíveis, isto é, dos
pontos que afetam os sentidos, e omite as
particularidades desses objetos. As ideias
de duração e de espaço apenas assinalam a
maneira ou o modo pelo qual as coisas se
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
fazem presentes à mente. Isto significa que
a percepção de impressões envolve sempre
a percepção das relações de espaço e
tempo; é este o sentido da noção humiana
de “impressão composta”. A ideia de tempo
– derivada da percepção de uma dada
sucessão de impressões – e a ideia de
espaço – derivada da percepção de uma
dada disposição dos objetos segundo as
impressões sob as quais se apresentam –
não são representáveis em estado puro.
Ora, a ideia de tempo supõe uma
sucessão de impressões, e, no entanto,
quando atribuímos a um objeto uma
existência contínua, presumindo que ele é
constante no tempo, empregamos a ideia de
tempo como um critério de invariação e de
permanência. O objeto dito “idêntico a si
mesmo” – como, por exemplo, esta folha de
papel, que afirmamos ser sempre a mesma
folha a cada vez que tornamos a percebê-la
–, é, graças a uma ficção da imaginação,
concebido como imutável em meio às
modificações percebidas em outros objetos
coexistentes – como, por exemplo, a
sombra que incide sobre a leitura. A
constância de dadas percepções, associadas
na mente à variação de outras, faz-nos
conferir uma identidade as primeiras,
mesmo que longos intervalos medeiem
entre suas aparições: se abandonamos nosso
quarto por alguns dias, e, após uma viagem,
expostos a uma sucessão de percepções que
nos fazem presente à mente a ideia da
variedade ou mudança, retornamos a ele
sem perceber qualquer modificação no
contexto de suas relações com outros
objetos (coerência) ou na sua forma
(constância), tendemos a imaginar que esse
mesmo quarto seguiu existindo, tal como o
deixamos, por todo esse tempo; essas
percepções – a ideia derivada da impressão
no momento da partida e a impressão atual
do retorno – são tomadas como a existência
mesma do objeto, e, unidas em uma mesma
identidade – pela qual reconhecemos o
objeto de uma percepção singular como
“nosso quarto” –, determinam-nos a julgar
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
28
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
que essa existência é contínua e
independente de nós. A partir de uma
relação de semelhança, a imaginação supõe
existir uma identidade contínua em lugar da
simples
sucessão
de
impressões
intermitentes e singulares.
A identidade pessoal 12 atribuída à
mente humana é uma ficção semelhante à
que explica o hábito pelo qual os homens
conferem uma identidade a outros objetos.
Hume argumenta que, por mais complexa
que se suponha ser a mente humana, ela não
é capaz de fundir a pluralidade das
percepções que a compõem em uma
identidade pessoal. As percepções –
impressões e ideias – são distinguíveis e
separáveis entre si. Elas se subdividem em
duas classes: são ditas simples, se não
podem ser fracionadas na mente, e
complexas, se é possível reduzi-las a partes
mais simples. O exemplo pelo qual Hume
distingue essas classes de percepções é o
mesmo de Berkeley: a percepção complexa
de uma maçã pode ser decomposta nas
percepções mais simples de sua cor, seu
aroma e sabor. Esses dados elementares da
natureza são, não pontos físicos, mas
pontos sensíveis, e não podem ser
experimentados isoladamente na forma de
uma impressão simples. Isto significa que,
na percepção original, as impressões de
sensação são apreendidas sempre sob forma
complexa. Mas, na imaginação, as
percepções podem dividir-se em impressões
mais simples e estas, na medida em que são
separáveis e distinguíveis, podem associarse em outras percepções complexas. As
ideias derivadas das impressões de sensação
podem constituir novo objeto de percepção
à mente, e gerar impressões internas,
chamadas de impressões de reflexão, que
vão, na teoria de Hume, formar as paixões.
A mente, portanto, é uma composição
de percepções simples, invariantes e
indivisíveis, que se associam entre si
segundo relações determinadas; é este o
12
sentido da expressão “atomismo espiritual”
com a qual Deleuze (1977) designa a
concepção humiana da subjetividade. Essa
concepção revela o caráter fictício da ideia
de uma identidade pessoal da mente
humana, que unificaria nela todas as
percepções singulares. Hume argüi que essa
ideia de identidade não deriva da percepção
de um vínculo real entre essas percepções
diversas, mas se apresenta apenas como
uma qualidade que acompanha a associação
de ideias na imaginação, ou, antes, como
atributo que conferimos à mente ao
considerar a maneira pela qual se unem nela
as ideias derivadas das percepções. São as
associações de ideias e impressões na
imaginação que nos persuadem a crer, ante
a descontinuidade das percepções, na
continuidade do real.
3.
O ceticismo de Hume não se resume à
negação obstinada de qualquer certeza ou
verdade, nem tampouco a uma rejeição
indiferente dos dados dos sentidos. O limite
desse ceticismo é o seu empirismo: ele
afirma que as únicas existências sobre as
quais estamos certos são as percepções, e
que apenas a experiência – e a memória que
a reproduz na mente – é capaz de corrigir os
raciocínios relativos a questões de fato.
Hume está claro, não tenciona provar que o
mundo e o “eu” não existem, mas apenas
sustenta a impossibilidade de se estabelecer
qualquer noção segura a esse respeito a
partir das percepções. Estas, consideradas
em si mesmas, tais como se nos
apresentam, nada oferecem que nos permita
asseverar quer a existência contínua de um
“eu” ou de uma identidade pessoal, quer a
existência externa e independente de um
mundo. Não se trata, portanto, de perguntar
se existem ou não os corpos, mas, antes, de
pensar as causas que nos induzem a crer na
existência dos corpos e de circunscrever as
indagações filosóficas ao teatro interior da
imaginação. O subjetivismo de Hume
reside
nessa
demarcação:
nunca
HUME, TNH, I, parte 4, seção V.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
29
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
ultrapassamos o campo definido pelas
nossas próprias percepções, e o sujeito, sem
aceder jamais a qualquer forma de
existência exterior, não pode ter, por objeto
de seu raciocínio, senão os próprios
elementos constitutivos de sua mentalidade:
as impressões e ideias. A crença no real e
no “eu” advém, portanto, não dos sentidos,
mas do processo espontâneo de operação da
mente, descrito por Hume como mecanismo
de associação de ideias.
A teoria humiana da associação de
ideias é, ao mesmo tempo, uma crítica ao
racionalismo e à sua noção fundamental: a
noção de relação (LAPORTE, 1933). Um
dos
princípios
fundamentais
do
racionalismo – ou um dos seus problemas
decisivos – concerne à natureza das
relações que se supõem existir entre ideias
ou entre objetos e com base nas quais a
razão opera. Essas relações são, na
tradição
racionalista,
consideradas
interiores aos seus termos, isto é, elas estão
inscritas na natureza dos termos que ligam
e podem ser deduzidas a partir deles.
Trata-se de compreender o que, na
natureza de um dado objeto, explica a
relação que o une a outro objeto, ou, ainda,
de descobrir um terceiro termo, mais
complexo que estes dois, ao qual essa
relação seja interior. Por exemplo: X é
causa Y, e a razão pela qual X causa Y
decorre da natureza mesma de X ou da
natureza de Z, que engloba X e Y ou da
qual X e Y são partes. A questão do
racionalismo é explicar por que, na
experiência, as relações parecem exteriores
aos seus termos, ou, ainda, supondo que
tais relações de fato existem, mostrar que
elas
não
podem ser concebidas
independentemente das naturezas de seus
respectivos termos. O empirismo, como
anota Deleuze (1974, p. 60), afirma desde
sempre a exterioridade das relações, mas a
subordina ao problema da origem do
conhecimento, que situa no sensível e nas
operações do entendimento a fonte de
produção das ideias. Hume, entretanto,
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
abdica de elaborar uma teoria sobre a
conexão entre mundo sensível e mundo
inteligível e sobre a noção corrente de que
as ideias são representações dos objetos
exteriores, para propor, em lugar dela, uma
teoria da exterioridade das relações cujo
fundamento é precisamente a identidade
entre impressões e ideias. As ideias não
contêm nada além do que é dado nas
impressões, e não se diferenciam destas
senão por seu grau de força e vividez, ou
por sua atualidade. Ambas são percepções,
o que significa dizer que não há distinção
real entre ideias e impressões, mas apenas
uma diferenciação de tipos: de um lado
ideias e impressões de termos ou objetos,
e, de outro, ideias e impressões de
relações. O mundo de Hume é o “mundo
onde a conjunção ‘e’ destrona a
interioridade do verbo ‘é’”, e onde a forma
do juízo de atribuição, que subordina a
explicação das relações ao conhecimento
da essência interior das coisas que as
estabelecem, é substituída por uma “lógica
autônoma das relações” (DELEUZE, id.,
ib.), exterior às coisas. Por isso, o objeto
fundamental
de
toda
investigação
concernente à natureza humana é,
precisamente, o modo através do qual as
ideias se associam umas às outras na mente
sempre sob determinadas relações,
independentemente
das
variações
sucessivas do conteúdo das percepções
relacionadas.
Para Hume, as ideias se associam na
mente
segundo
três
princípios:
semelhança, contigüidade e causalidade. É
a operação desses três princípios – ou a
qualidade das relações que se fazem
através deles– que define uma natureza
humana. Quer isto dizer que a natureza
humana não se identifica por uma
percepção ou ideia; noutras palavras, ela
não é constituída por uma identidade
contínua, por um “eu” idêntico a si mesmo,
nem tampouco por uma constelação fixa
de verdades essenciais. Uma natureza
humana não é mais que um modo ou
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
30
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
maneira de associar percepções. A
influência do método experimental
newtoniano torna a intervir aqui: o projeto
filosófico de Hume não tem por objetivo
explicar as causas ou origens das ideias,
mas apenas descrever o funcionamento dos
princípios de associação através dos quais
a mente opera.
As questões do entendimento,
segundo Hume, podem ser resumidas em
duas classes: as questões de ideias ou
conceituais, e as questões de fato.13
Pertencem ao domínio das primeiras as
questões matemáticas ou, em geral, as
questões passíveis de demonstração pela
atividade do raciocínio, que não se referem
a coisas existentes na natureza nem são
objeto de impressões sensíveis.
As
relações matemáticas não são exteriores
aos seus termos: elas se prendem ao
conteúdo deles e se produzem a partir da
consideração das ideias ou conceitos que
os definem. É pelo conceito de triângulo,
diz Hume,14 que nos é dado descobrir a
igualdade existente entre seus três ângulos
e a soma de dois ângulos retos. Essa
relação segue sendo invariável e
insuscetível a contradições enquanto o
conceito de triângulo, a partir do qual
raciocinamos, continua a ser o mesmo.
Com as questões de fato, fundadas nas
percepções e enunciadas sob a forma de
relações de semelhança, contigüidade e
causalidade, sucede algo diverso: as
proposições, nesse domínio, sempre
admitem uma contradição igualmente
concebível. O exemplo de Hume é célebre:
“O sol não nascerá amanhã” é uma
assertiva tão inteligível quanto a que
afirma que “O sol nascerá amanhã”. Está
claro que Hume não tenciona desempenhar
o papel do cético pirrônico, pronto a
sombrear com uma nuvem de dúvidas
qualquer ínfima centelha de certeza: não se
trata de sustentar que o sol não aparecerá
no dia seguinte, mas de assinalar que, nas
questões de fato, as certezas não podem ser
demonstradas a priori, sem o amparo da
experiência. Considerada em si mesma, a
proposição contrafactual – “O sol não
nascerá amanhã” – é lógica, dispõe de um
sujeito e de um predicado, e o
entendimento, que a reconhece como tal,
não é capaz de, usando apenas os recursos
do raciocínio, demonstrar sua falsidade. A
despeito disso, inclinamo-nos a afirmar,
como uma certeza que prescinde de
demonstrações, que o sol nascerá amanhã.
O problema filosófico fundamental de
Hume descortina-se nesse impasse: como
se pode considerar verdadeira uma
evidência que não está ao alcance da
experiência imediata, ou, noutros termos,
qual o fundamento das certezas factuais?
Os juízos que dizem respeito a
questões de fato decorrem, segundo Hume,
dos princípios de associação de ideias,
através dos quais somos determinados a
supor que a sucessão de percepções
descontínuas e intermitentes presentes à
mente se subordinam a certa ordem de
relações que lhes confeririam uma
continuidade coerente com o real. As
relações de semelhança e de contiguidade
estão implicadas nas relações de
causalidade,15 e esta é relação evocada em
todos os nossos juízos de fato e o modelo
sob o qual a experiência é representada na
imaginação. A semelhança, em particular,
é a base de duas premissas fundamentais
das inferências derivadas da experiência:
supomos, em primeiro lugar, que o futuro
será sempre semelhante ao passado, e, em
segundo lugar, que podemos esperar
efeitos semelhantes de objetos ou
qualidades sensíveis semelhantes,16 ainda
que nos seja impossível ter uma impressão
distinta da conexão entre essas qualidades
e os efeitos que delas esperamos. Nossos
sentidos, afirma Hume, dão-nos uma
imagem da cor, do peso e da consistência
do pão, embora nada nos digam sobre as
13
15
14
HUME, IEH, seção IV, parte 2.
HUME, TNH, I, parte 1, seção VII.
16
HUME, TNH, I, parte 1, seção IV.
IEH, seção IV, parte 2.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
31
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
qualidades que o fazem adequado à nossa
alimentação; não obstante, se nos
deparamos com um corpo de cor, peso e
consistência semelhantes ao pão que uma
vez nos saciou a fome, não duvidaremos
que esse outro corpo deverá alimentar-nos
como o primeiro. Essa inferência, no
entanto, não se desprende da percepção de
uma conexão causal entre tais qualidades
sensíveis e os efeitos de que as julgamos
capazes; ela deriva apenas de uma
associação por semelhança. É a memória
que produz a relação de semelhança entre
as
percepções
e
faz
transitar
imperceptivelmente de uma à outra,
mesmo que os objetos – isto é, suas
respectivas percepções singulares –
estejam separadas no tempo e no espaço.
Por outro lado, embora as percepções
sejam descontínuas, elas se oferecem aos
sentidos sempre em certa sucessão e em
certa disposição; por isso, a imaginação, ao
considerar seus objetos, concebe-os
sempre segundo relações de tempo e
espaço,
apreendendo-os
em
sua
contiguidade. A impressão da proximidade
dos objetos na experiência desdobra-se na
proximidade de suas respectivas ideias na
mente; assim, o critério de semelhança,
como elemento da ideia de causalidade, é
complementado
pela
noção
de
contigüidade, pela qual somos levados a
reconhecer, como “causa” de um a coisa, a
coisa que mais próxima dela.
A ideia de causalidade envolve, por
conseguinte, as ideias de semelhança e
contiguidade: de uma parte, habituamo-nos
a inferir que, no futuro, objetos dotados de
qualidades sensíveis semelhantes às de
outros objetos percebidos no passado
produzirão efeitos semelhantes aos destes
últimos; de outra parte, presumimos que
objetos contíguos no tempo ou no espaço
guardam entre si uma relação de causa.
Associamos ideias na mente de acordo
com o princípio da semelhança ou da
contiguidade sem, no entanto, ter qualquer
impressão distinta da suposta conexão
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
entre qualidade semelhante e efeito
semelhante, ou entre uma dada percepção e
a percepção que a sucede no tempo ou a
percepção que coincide com ela no espaço.
Ora, é, todavia precisamente por não haver
a impressão distinta dessa conexão que é
possível, por exemplo, conjecturar, com
base na razão, que um objeto semelhante a
outro produza efeitos diferentes deste: a
regra da semelhança, como a da
contiguidade, não é uma lei a priori do
entendimento. Se assim fosse, isto é, se
essa regra pudesse ser deduzida apenas
pela razão (como o são as propriedades do
triângulo), então bastaria um único caso de
relação de semelhança (como é suficiente,
para conhecer as propriedades do
triângulo, considerar qualquer triângulo),
para que os seus efeitos se nos tornassem
imediatamente conhecidos. Mas as
inferências que somos capazes de formular
acerca da regra de semelhança são
estabelecidas, diz Hume, a partir de certo
número de casos ou experiências; em
algum momento se opera a passagem da
quantidade,
relativa
aos
casos
experimentados, para a qualidade, ou seja,
para a definição da regra. Essa passagem
não se realiza, pois, por uma operação do
entendimento, e Hume a explicará na sua
crítica à noção racionalista de causalidade.
A relação de causa e efeito faz passar
de uma impressão atual à ideia de uma
coisa que não é dada aos sentidos. Ela liga
a existência de um fato não presente à
existência de um fato presente: a
causalidade ultrapassa o que é dado na
experiência, permite-nos emitir juízo sobre
algo de que não tivemos a experiência ou
algo cuja experiência direta nos é
impossível. Vemos o sol nascer hoje, como
o vimos nascer ontem, e nos sentimos
autorizados a dizer que ele nascerá
amanhã. Uma experiência é sempre uma
contingência particular: o nascer do sol
hoje não nos oferece senão uma percepção
singular e distinta, uma imagem do
presente; se, diante dela, afirmamos que o
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
32
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
sol nascerá amanhã, essa certeza não se
funda sobre nenhuma outra razão que a
crença de que o futuro se assemelhará ao
passado ou que a sucessão das percepções
obedece a uma ordem regular e previsível.
Mas, nas afirmações “O sol nascerá
amanhã” e “Todos os corpos caem com
aceleração
constante”,
as
palavras
“amanhã” e “todos” exprimem noções
insuscetíveis de
fornecer qualquer
impressão na experiência. O que nos faz
imaginar, então, ante uma simples
sucessão de percepções, uma ordem de
relações necessárias, que nos permite
inferir regras gerais a partir de uma
experiência que se nos oferece sempre de
maneira descontínua e particular?
A inferência é uma certeza empírica,
sensorial, e não racional, e, ao mesmo
tempo, não tem correlato na experiência
imediata. Inferir significa ir além do que é
dado ou dável na experiência (DELEUZE,
1974, p. 62), e considerar existente ou
dotado de realidade algo que é não
presente aos sentidos. Hume propõe duas
teses para desatar esse paradoxo.
Primeiramente, porque tendemos em
virtude dos mecanismos de associação de
ideias, a transitar de uma ideia a outra, isto
é, a inferir uma a partir de outra,
imaginamos que entre elas existe uma
conexão necessária. O conhecimento dessa
conexão, porém, não é obtido por qualquer
raciocínio a priori: ele é dado a partir de
certo acúmulo na memória de casos
semelhantes. Em contrapartida, tal
conexão não constitui jamais o objeto de
uma percepção distinta: percebemos
apenas que um fato se segue a outro fato
ou que dois fatos se conjugam em uma
percepção, mas não temos qualquer
impressão sensível da relação que supomos
existir entre eles, visto que os efeitos
nunca se mostram nas suas supostas
causas, ou, antes, não podem ser deduzidos
a partir da simples percepção dessas
causas. A percepção de um efeito é distinta
e isolável da percepção da sua causa.
Hume17 ilustra esse princípio pelo seguinte
exemplo. Ao vermos uma bola de bilhar
em movimento chocar-se com outra em
repouso, concebemos que esta se
deslocará, em virtude desse choque, com
mesma velocidade e direção da primeira, a
qual, tendo comunicado a outra seu
movimento inicial, ficará em repouso. Mas
o movimento da segunda bola de bilhar é
um evento distinto do movimento da
primeira, e nesta não há qualquer indício
do que sucederá àquela. Isto significa que,
se cogitarmos a priori a possibilidade do
choque, então, não se pode, pelo raciocínio
apenas, deduzir esse desfecho: para a
razão, a hipótese de que as duas bolas
permaneçam em repouso é tão inteligível,
como proposição, quanto a hipótese de que
a primeira comunique seu movimento à
segunda. A suposição de que existe uma
conexão necessária entre um evento e
outro é, do ponto de vista da razão,
inteiramente arbitrária: a única coisa que é
possível, pela experiência, afirmar com
respeito a dois eventos ou objetos que se
apresentam em sucessão ou contiguidade,
e cuja percepção evoca, na mente, outros
casos semelhantes, é que eles estão em
conjunção constante.
Mas poderíamos se estivéssemos
acabados de chegar ao mundo e fôssemos
dotados de excelentes poderes racionais,
inferir, com base em um caso particular,
essa regra? A ideia da relação de causa e
efeito, que une um evento a outro na
imaginação por um elo hipotético, faz
parecer que nenhum outro resultado
decorrente do choque das bolas de bilhar,
exceto o observado, seria possível. É a
ideia dessa conexão necessária que nos
leva a imaginar que tais efeitos, a que nos
habituamos com o tempo e que são
seguidamente reiterados pelo curso da
natureza, podem ser deduzidos apenas
mediante o raciocínio, sem o auxílio da
experiência. Aqui intervém a segunda tese
17
HUME, IEH, seção IV, parte 1.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
33
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
de Hume: mesmo depois de termos a
experiência das relações causais ou das
relações
de
semelhança,
nossas
inferências, que se antecipam à
experiência, não estão fundadas sobre
raciocínios nem qualquer outro processo
de entendimento, e as regras gerais que
lhes dão forma não são mais que
conjeturas derivadas das expectativas
consolidadas pela recorrência, isto é, são
apenas crenças.
Hume afirma que a ideia dessa
alegada
conexão
necessária,
que
caracteriza a relação de causalidade, não
tem qualquer amparo na experiência: ela é
puramente presuntiva, e é apenas por
percebermos, na experiência, que dois
objetos se encontram em conjunção
constante que somos determinados a
esperar um devido à aparição de outro.
Noutros termos, tudo que as nossas
impressões nos informam é que a
percepção singular de um objeto Y sucede
ou coincide, habitualmente, com a
percepção singular de um objeto X, e essa
conjunção constante se repete com tal
recorrência na experiência que, dada a
aparição do objeto X aos sentidos e,
portanto,
a
evocação
da
ideia
correspondente a essa impressão na mente,
esta é levada a transitar imediatamente à
ideia do objeto Y, prevendo a sua aparição
na experiência – e, assim, dispondo-nos a
esperá-la. Essa transição de ideias não é,
pois, definida a priori, por simples
dedução do raciocínio, como se a aparição
do objeto Y estivesse inscrita, como efeito
necessário, na aparição do objeto X; se
assim fosse, essa relação poderia ser
inferida a partir de um único caso da
experiência, como vimos no exemplo da
bola de bilhar. A inferência, como a crença
que a acompanha, não pode estabelecer-se,
entretanto, sem um acúmulo de casos
semelhantes na experiência, condensados,
na imaginação (que não pode recordá-los
um a um) sob a forma de um hábito.
De uma parte, a fusão de casos
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
semelhantes na imaginação constitui o
hábito, o costume pelo qual tendemos a
esperar efeitos semelhantes de percepções
semelhantes, e, de outra parte, a
observação de cada um desses casos em
particular, na experiência, suscita a ideia
de que existe uma conexão necessária
entre esses efeitos e essas percepções, e é a
ideia dessa conexão necessária que está na
base da inferência ou da crença. Para
Hume, portanto, o hábito é o princípio de
unificação, na imaginação, de uma
pluralidade de casos singulares, associados
sob uma mesma regra de semelhança, e a
crença é o princípio de distinção, em cada
caso particular, da relação ou conexão que
se supõe unir, na experiência, os objetos
percebidos em sucessão regular ou em
conjunção constante. Desse modo, é por
estarmos habituados a ver o sol aparecer
todos os dias – e por nossa imaginação
fundir todas essas percepções semelhantes
em uma única ideia – que podemos crer,
ou inferir, que o sol nascerá amanhã – uma
vez que projetamos, sobre esse caso
particular ainda não dado, a mesma
conexão necessária que supomos distinguir
os demais casos semelhantes de conjunção
constante, na experiência, como casos de
uma mesma relação de causalidade.
A
noção
retrospectiva
de
causalidade, que parte da percepção do
efeito para o conhecimento das causas,
sofre uma notável inversão em Hume. Pelo
princípio de razão, um fato cuja existência
é presente está em conexão com outro, que
explica, como sua causa, essa existência;
esse procedimento conduz a uma regressão
infinita, que nos leva a imaginar causas
ausentes e cada vez mais remotas. Hume,
no entanto, parte precisamente de uma
conjectura abstrata – a ideia de uma
impressão não presente aos sentidos – para
encontrar sua explicação última em algum
dado atual da experiência. Desse ponto de
vista, o que nos induz a supor como
verdadeiro ou necessário que Luis XIV
morreu em 1715 não é o conhecimento da
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
34
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
causa de sua morte, mas a impressão
presente do relato dela na obra de um
historiador; não se trata, evidentemente, de
negar que a morte do Rei Sol teve causas
determinadas, mas de assinalar que nossa
certeza a respeito não deriva do
conhecimento dessas causas e da conexão
necessária entre elas e seu efeito, mas da
crença que nos é inspirada pela impressão
presente do relato de um autor, em cujo
testemunho nos habituamos a confiar,
porque a sua forma se assemelha à de
outros que se revelaram igualmente dignos
de crédito. A tradicional distinção entre
verdadeiro e falso que marca as teorias do
conhecimento é substituída pela diferença
entre crível e não-crível: o conhecimento é
antes uma questão de credibilidade que de
verdade.
Hume contorna o argumento cético
contra a falibilidade da razão e a
variabilidade das opiniões ao afirmar que o
conhecimento não tem fundamentos
racionais e ao atribuir à reiteração
sucessiva da crença e do hábito – e não às
leis do raciocínio – a estabilidade dos
juízos.
O
conhecimento
é
uma
probabilidade a que a experiência vai
agregando graus de certeza a partir da
percepção de casos de conjunção constante
e de padrões de semelhança. Esse
conhecimento, no que respeita às questões
de fato, é um efeito espontâneo do
mecanismo de associação de ideias.
Mesmo o aprendizado – a educação e a
cultura – procede por meios nãointelectuais, por simulacros de crença,
como aponta Deleuze (1974, p. 63), que se
servem das propriedades da linguagem
para ultrapassar a experiência – para
condensá-la – a fim de substituir a
percepção direta de casos semelhantes por
uma simples repetição verbal, cuja
impressão simula o seu efeito. Se for lícito
ainda entrever na filosofia de Hume uma
teoria
do
conhecimento,
cumpre,
entretanto notar que, nela, em lugar das
tradicionais categorias da determinação, da
necessidade e da verdade, encontramos
apenas coincidência, probabilidade e
verossimilhança.
4.
Todas as inferências têm por base
uma crença que procede unicamente de um
objeto presente à memória ou aos sentidos e
de sua conjunção constante, habitual, com
outro objeto.18 É o hábito, afirma Hume, e
não a razão, que nos induz a fazer da
experiência a norma de nossos juízos; e,
mesmo nos assuntos que nos parecem mais
familiares, nos quais a transição das ideias é
tão imperceptível a ponto de nos persuadir
que nossas inferências decorrem da simples
aplicação do raciocínio, é precisamente
então que a força do hábito se apresenta em
mais alto grau. Nossa ignorância com
respeito à influência do hábito nos faz crer
na existência de conexões necessárias onde
percebemos apenas casos de conjunção
constante. Nascidas da crença, as
inferências não são atos racionais, e não
dependem mesmo do emprego da razão.
Hume observa que as operações mentais
essenciais do mecanismo de associação de
ideias são demasiado importantes para
serem confiadas às deduções lentas e
titubeantes da razão. É graças ao hábito e à
crença que podemos dar governo à vida,
conciliar os meios com nossas expectativas,
e decidir sobre questões de fato sem que
seja necessário que todos os seus elementos
constem da experiência atual. As crenças
são determinações da natureza humana, e
não podem deixar de manifestar-se sob
dadas condições. Noutros termos, nenhum
raciocínio pode impedir ou suspender, em
nós, o “instinto natural” ou a “tendência
mecânica” da crença. 19 Não é difícil prever
as dificuldades que essa concepção de
crença acarreta à tarefa humanista de
diferenciar os homens dos animais, e Hume
explorará o ponto, com alguma ironia, ao
18
19
HUME, IEH, seção X.
HUME, IEH, seção V, parte 2.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
35
Revista Filosofia Capital
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
ISSN 1982 6613
discutir a “razão dos animais”20 segundo os
mesmos argumentos com que abordara o
processo de formação da crença nos
homens, sugerindo, por fim, que as
diferenças entre o entendimento humano e
o entendimento dos animais são da mesma
ordem que as diferenças entre o
entendimento de um homem e o de outro
homem...
A crença, assim como o hábito, não
é produto de uma operação racional nem se
forma em nós por uma espécie de adesão
voluntária a seus princípios. Ela é sentida, e
não pensada: é um dado da natureza
humana tão inevitável quanto a fome ou o
sono. A imaginação só atribui força de
causalidade a um caso de conjunção
constante se este, além das ideias de
semelhança e contiguidade, lhe inspira o
sentimento de crença. Ora, a razão permitenos, por exemplo, considerar, como uma
proposição inteligível, que o sol não
nascerá amanhã ou que uma bola de bilhar
parada seguirá em repouso mesmo após o
choque de outra em movimento: podemos
refletir sobre tais asserções, pensá-las como
questões, mas não podemos crer nelas nem
viver como se as considerássemos
verdadeiras, ou, de outro modo, como se
realmente duvidássemos de que o sol
haveria de nascer no dia seguinte ou que o
movimento de um corpo se comunica a
outro. O que distingue a crença em relação
às concepções formuladas pelo raciocínio,
isto é, o que explica por que tendemos a
agir sempre segundo a crença, ainda que
seja possível opor-lhe pelo raciocínio uma
asserção contrária, é o sentimento ou a
paixão que se prende à crença: é a paixão
que nos faz atribuir valor aos objetos e
emitir juízos a respeito deles. Os princípios
de associação de ideias – semelhança,
contigüidade e causalidade – somente
tomam direção e sentido definidos com
respeito às paixões; são elas, em suma, que
qualificam a associação de ideias e
conferem a vividez própria que distingue a
crença. É pela paixão, por exemplo, que
reconhecemos como semelhantes entre si
certas percepções, quando elas excitam em
nós a mesma disposição passional. É
justamente por isso que a obstinação dos
céticos pirrônicos não se sustenta além da
esfera artificial do debate acadêmico: na
vida diária, a natureza e as paixões calam
todas as suas objeções e os desobrigam do
compromisso doutrinário de negar com
discurso as crenças implícitas em sua
prática.
O sentimento – a paixão –
convalida, por assim dizer, as crenças, e as
diferencia tanto da reflexão hipotética,
objeto do raciocínio, quanto das ficções
engendradas pela imaginação. Conforme
adverte Hume,21 podemos compor um ser
fantástico, unindo a cabeça de um homem
ao corpo de um cavalo, mas não podemos
crer que tal criatura exista. A crença não
depende da vontade nem pode ser
manipulada a esmo; ela se faz acompanhar
sempre de uma determinada maneira de
sentir que confere realidade ao seu objeto,
cuja imagem é mais estável que a fabricada
pelo exercício livre da imaginação. Por
isso, diz Hume, a ideia de uma pessoa
conhecida, presente à mente quando a
impressão de sua voz é presente aos nossos
sentidos, é mais viva e imediata que a ideia
de um castelo encantado.
Os homens, e os céticos entre eles,
tendem a agir e julgar segundo suas
crenças, e estas se lhes tornam sensíveis
pela força das paixões que as acompanham.
O traço característico dessa natureza
humana dominada pelas paixões, segundo
Hume, não é, a rigor, o egoísmo, mas a
parcialidade.
Hume
partirá
dessa
constatação para edificar uma teoria política
bastante original, cuja questão de fundo
atinará com a necessidade de conciliar essas
parcialidades em um mesmo conjunto
social. Esse modo de pensar contradiz a
20
21
HUME, TNH, I, parte III, seção XVI; IEH, seção IX.
HUME, IEH, seção V, parte 2.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.
36
Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613
ideia de que homem é um animal social por
natureza, mas a resposta de Hume ao
problema da convivência pacífica não
passará tampouco pela ideia de um contrato
social a que os homens se submeteriam em
virtude de um comando da razão. Nem a
natureza nem a razão explicam a sociedade:
esta nasce, com efeito, de um artifício que
convenciona os critérios parciais de justiça
a um princípio comum de justiça. Instituída
por uma convenção, cujo fundamento é
apenas a utilidade da paz, a sociedade
organiza-se como uma segunda natureza,
que sobrepõe, aos juízos parciais dos
homens, uma moral artificial que os
identifica ou na qual os homens encontram
o espaço mesmo de realização de seus
juízos parciais e de suas paixões. O que
preserva a validade desse princípio de
justiça – e assegura, portanto, a obediência
dos homens à ordem que ele institui – não é
o seu conteúdo moral em si mesmo, mas a
crença de que a sociedade fundada em tal
princípio é objeto de interesse e utilidade
para todos os homens. O dever dos
governantes é manter viva na imaginação
dos homens essa crença. A teoria política
de Hume, como toda posição política
derivada do ceticismo, não deixa de ser
conservadora: na falta de outras certezas, o
melhor regime é aquele com o qual estamos
habituados.
Vol. 5, (2010) - Edição Especial
Novas Perspectivas Intelectuais
e suas Interfaces Existenciais.
HUME, D. Tratado da natureza humana.
Tradução de Débora Danowski. São Paulo:
Unesp: Imprensa Oficial, 2001.
LAPORTE, J. Le scepticisme de Hume.
Revue philosophique de la France et de
l’Etranger, vol. 115, n. 1 e 2. Paris, jan.-jun
1933.
VITA-MORE, Natasha. Posthuman in
Water. Marca D’água. Disponível em:
<http://www.fairpoint.net/~jpierce/images/p
osthuman_in_water.jpg> Acesso em: 13
ago 2010.
REFERÊNCIAS
DELEUZE, G. Empirismo y subjetividad: la
fi losofi a de David Hume. Barcelona:
Gedisa, 1977.
DELEUZE, G. Hume. CHATÊLET, F.
História da filosofia, vol. 4. O
iluminismo.Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1974.
HUME. Ensaios morais, políticos e
literários. São Paulo: Nova Cultural, 1989.
HUME.
Investigação
acerca
do
entendimento humano. São Paulo: Nova
Cultural, 1989.
Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, edição especial, vol. 5, 2010, p. 21-36.