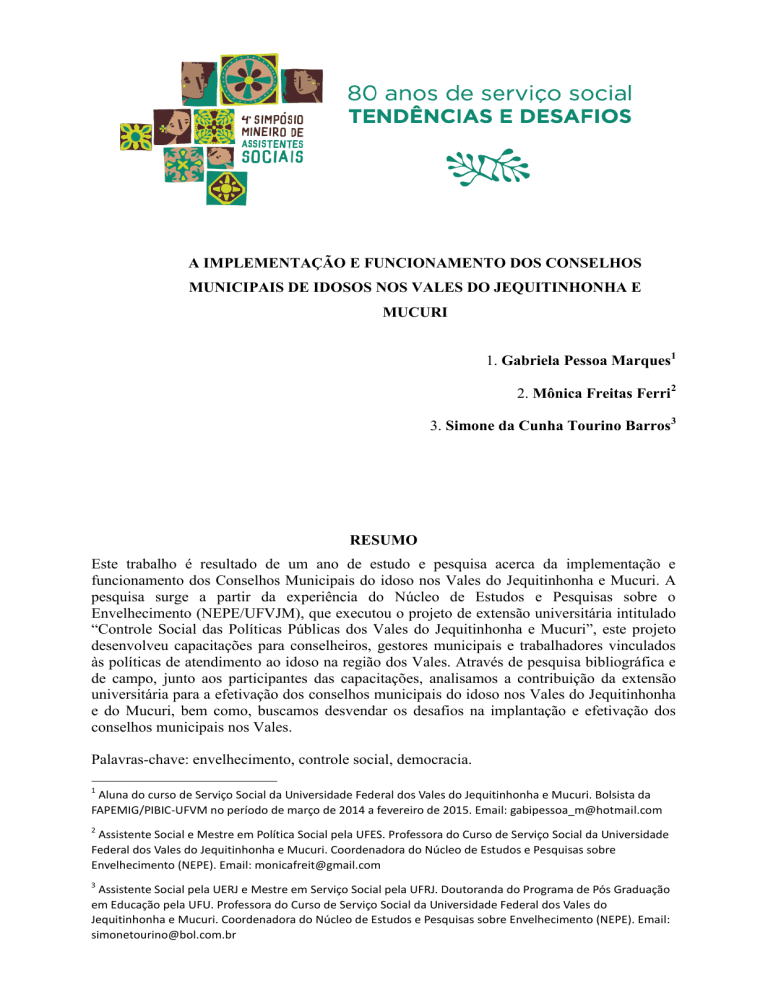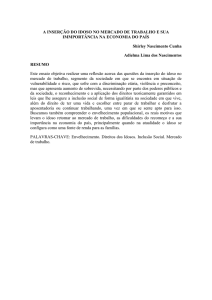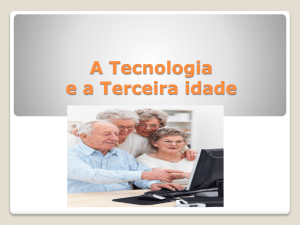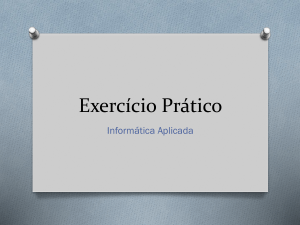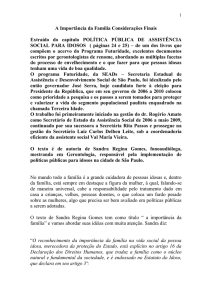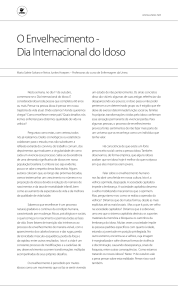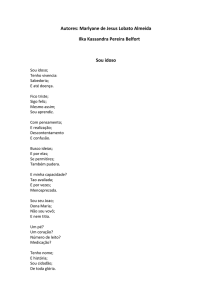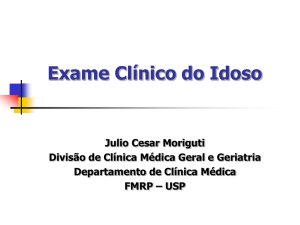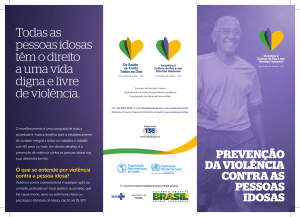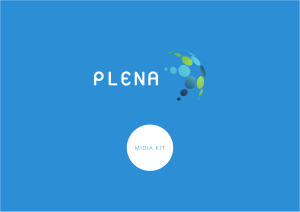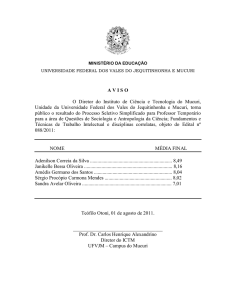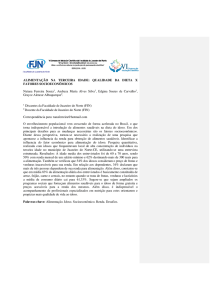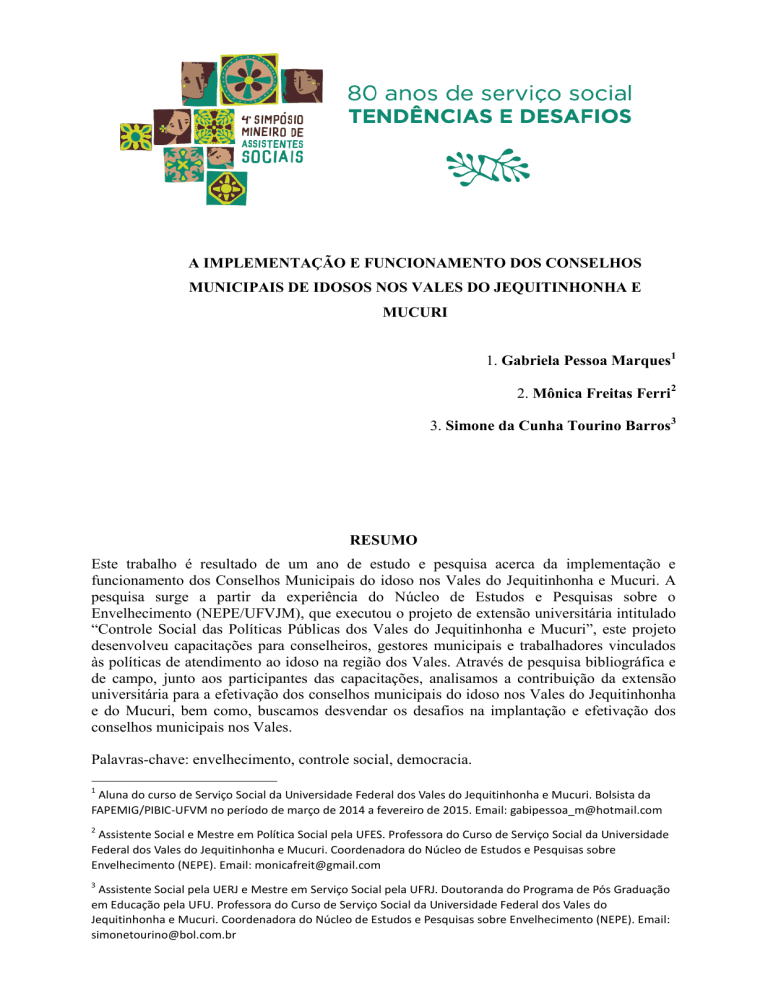
A IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE IDOSOS NOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI
1. Gabriela Pessoa Marques1
2. Mônica Freitas Ferri2
3. Simone da Cunha Tourino Barros3
RESUMO
Este trabalho é resultado de um ano de estudo e pesquisa acerca da implementação e
funcionamento dos Conselhos Municipais do idoso nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A
pesquisa surge a partir da experiência do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o
Envelhecimento (NEPE/UFVJM), que executou o projeto de extensão universitária intitulado
“Controle Social das Políticas Públicas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri”, este projeto
desenvolveu capacitações para conselheiros, gestores municipais e trabalhadores vinculados
às políticas de atendimento ao idoso na região dos Vales. Através de pesquisa bibliográfica e
de campo, junto aos participantes das capacitações, analisamos a contribuição da extensão
universitária para a efetivação dos conselhos municipais do idoso nos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri, bem como, buscamos desvendar os desafios na implantação e efetivação dos
conselhos municipais nos Vales.
Palavras-chave: envelhecimento, controle social, democracia.
1
Aluna do curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Bolsista da
FAPEMIG/PIBIC-UFVM no período de março de 2014 a fevereiro de 2015. Email: [email protected]
2
Assistente Social e Mestre em Política Social pela UFES. Professora do Curso de Serviço Social da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
Envelhecimento (NEPE). Email: [email protected]
3
Assistente Social pela UERJ e Mestre em Serviço Social pela UFRJ. Doutoranda do Programa de Pós Graduação
em Educação pela UFU. Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Envelhecimento (NEPE). Email:
[email protected]
1. Introdução
A Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) considera idosa a pessoa com idade a
partir de 60 anos. Devido aos avanços tecnológicos do último século a população idosa está
crescendo no país, resultado do aumento da expectativa de vida da população. Conforme
dados apresentados no último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
o Brasil caminha para um novo perfil demográfico devido ao crescimento da população acima
dos 60 anos. Segundo o censo de 2010 a população idosa corresponde a 9,4% da população
brasileira. Para Jaccoud (2011) “[...] o envelhecimento é uma das mais significativas
transformações sociais que vivenciamos neste início de século”. Tais transformações além de
sentidas precisam ser problematizadas e contextualizadas a fim de que possamos planejar
nosso futuro enquanto sujeitos sociais e futuros idosos. Concordamos com Bernardes (2007,
p. 117) quando ela afirma que
A velhice não é uma categoria natural e sim socialmente construída, portanto, não
permite um conceito absoluto, possibilitando que uma nova condição seja
estabelecida. Logo, envelhecimento é um processo e, assim sendo, é algo que se
constrói no transcorrer da existência humana.
Esse processo de envelhecimento vem sendo discutido tanto no âmbito internacional
quanto no nacional. No Brasil, a partir do período de redemocratização, quando foi aprovada a
Constituição em 1988, a sociedade civil organizada começou a discutir as pautas de
participação política e proteção social. Na década de 1990 a pauta do envelhecimento e da
proteção especial para a população idosa começou a ganhar mais força, sobretudo após a
aprovação da Política Nacional do Idoso (PNI) em 1994. Apesar do Conselho Nacional de
Direitos do Idoso (CNDI) só ter sido concebido em 2002, tivemos outros avanços no que diz
respeito às políticas públicas de atenção ao idoso. A aprovação do Estatuto do Idoso em 2003
foi um passo muito importante para a construção de uma rede de articulação das políticas
públicas em prol da proteção social dos idosos. Outros avanços foram obtidos, na assistência a
partir da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) que foram fundamentais para o início de uma agenda especial de proteção ao
idoso. Para Jaccoud (2011, p. 26):
O Estado brasileiro vem reconhecendo as novas demandas colocadas pelo
envelhecimento e respondendo com a ampliação de serviços e de normatizações,
com a instituição de critérios de qualidade e de garantia de acesso. Os desafios são
muitos e de vulto. A formação de equipes multidisciplinares, a pactuação de
protocolos intersetoriais, a oferta casada no território, a complementariedade da ação
pública face à família, são várias das questões a serem enfrentadas.
2
Os organismos internacionais têm colocado na agenda das nações a necessidade de
promover políticas públicas de proteção social ao idoso. Paiva (2014, p. 173) aponta que
Os discursos incorporados nos Planos Mundiais para o Envelhecimento, deliberados
nas duas Assembleias, ou seja, do ‘Envelhecimento Saudável’ e ‘Envelhecimento
Ativo’ respectivamente, iluminaram os debates e conteúdos das políticas legitimadas
no aparato legal brasileiro, destinados aos segmentos mais velhos da população
geral.
Toda essa movimentação atinge também as universidades, tida a sua importância na
construção e disseminação do conhecimento. No que se refere ao papel das universidades em
relação ao envelhecimento da população, segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa (BRASIL, 2006) cabe ao Ministério da Educação (MEC) “[...] a difusão junto às
instituições de ensino e seus alunos informações relacionadas à promoção da saúde dos
idosos, adequação dos currículos, e formação de profissionais visando ao atendimento das
diretrizes fixadas pelo documento supracitado” (MEC/SESu-CAPES).
Para Oliveira (2004), as funções sociais atribuídas pelo senso comum à Universidade,
como “produção do conhecimento” e “formação de recursos humanos qualificados”,
Caracterizam a Universidade como o “locus” permanente de reflexão e crítica acerca
dos diferentes processos societários. Este espaço de reflexão e crítica precisa ser,
necessariamente, um espaço plural e democrático, espaço que deve pressupor a
valorização do fazer em sua relação com o saber (OLIVEIRA, 2004, p. 2).
Considerando essa função social da universidade é que desenvolvemos a pesquisa que
subsidia esse artigo enquanto parte de um trabalho articulado entre ensino, pesquisa e
extensão na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Através do
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento (NEPE/UFVJM), buscamos fomentar
o debate acerca do envelhecimento a fim de contribuir com a efetivação das políticas públicas
para o idoso nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Acreditamos que o fortalecimento do tripé
ensino, pesquisa e extensão é imperioso para que a universidade possa cumprir seu papel
social de transformação regional. Considerando que os Conselhos Municipais do Idoso são
espaços de controle social das políticas públicas, a pesquisa e extensão universitária nessa
área de conhecimento e atuação profissional são de grande importância para a contribuição da
Universidade na construção de seu papel social transformador.
2. A relação entre Estado e sociedade civil e a construção democrática no Brasil
Para compreender o processo de implementação dos conselhos do idoso nos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, faz-se necessário uma análise dos elementos sociais relacionados a
implementação do controle social no país.
3
É frequente ouvir-se que os conselhos são espaços para controle social da sociedade
civil no Estado, esta afirmativa sugere à compreensão de sociedade civil e Estado enquanto
categorias homogêneas. Cabe aqui trazer a compreensão gramsciana de sociedade civil e
Estado enquanto espaços heterogêneos de disputa de interesses e poder entre as classes sociais
dominantes e subalternas, de forma que “[...] o controle social não é do Estado ou da
sociedade civil, mas das classes sociais” (CORREIA, 2012, p. 298). Para a teoria social crítica
o Estado tem natureza classista e o seu surgimento se deu a partir da propriedade privada e
consequentemente da divisão da sociedade em classes sociais, exprimindo assim, seu papel
fundamental na manutenção desta ordem social. O Estado burguês tem como função central a
preservação da exploração de uma classe sob a outra, de forma que em períodos de crise do
modo de produção capitalista, o Estado burguês tende a reestruturar-se em consonância com a
reestruturação do capital, a fim de manter a hegemonia da classe capitalista e a dominação
desta sob a classe trabalhadora. Para Gramsci (2000) o Estado engloba a sociedade política e a
sociedade civil, sendo este conjunto um espaço de poder e terreno de ação política.
Hoje, grande parte dos Estados modernos vivenciam a democracia. Para Coutinho
(2000) a categoria democracia está intimamente relacionada à categoria alienação, uma vez
que a democracia é uma tentativa de romper com a alienação política. O autor define
democracia enquanto soberania popular, ou seja, uma participação concreta do conjunto dos
cidadãos na formação do governo e no controle da vida social. Compreender a
heterogeneidade do Estado e sua natureza classista é fundamental para assimilar a disputa
entre distintos projetos políticos no processo de construção democrática.
Quando nos propomos a discutir controle social no marco da sociedade capitalista, o
debate acerca da disputa de projetos políticos e da construção da cidadania são temáticas
centrais, posto que os espaços de controle social constituem-se enquanto espaços de encontros
de interesses, e estes encontros não significam consensos (FALEIROS, 2011).
Compreendemos projetos políticos enquanto “[...] conjuntos de crenças, interesses,
concepções de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a
ação política dos diferentes sujeitos” (DAGNINO et al, 2006, p. 38). Os diferentes projetos
manifestados nas ações dos sujeitos implicam condições concretas para a sua realização, uma
vez que estão vinculados às escolhas realizadas na vida cotidiana dos sujeitos. As ações dos
sujeitos aqui referidas são expressas nas mais variadas formas de atuação, esta diversidade
4
abrange ações políticas de sujeitos organizados em instituições4 e sujeitos não organizados5,
de maneira que a própria reprodução da vida cotidiana exprime a intencionalidade dos
projetos em disputa na sociedade.
Dagnino et al (2006) apontam que a disputa pela construção democrática na América
Latina envolve três projetos políticos centrais: o projeto autoritário, o projeto neoliberal e o
projeto democrático-participativo6. Não cabe aqui uma análise profunda destes projetos,
porém, um breve esboço da configuração destes no processo de construção da democracia.
O projeto autoritário passou por um período de intensa hegemonia no continente latino
americano durante as ditaduras militares e sua eliminação não foi completa. Este projeto,
embora tenha recuado após o processo de redemocratização, deixou uma infinidade de
implicações nas mais variadas relações – políticas, sociais, econômicas, culturais estabelecidas no continente. No projeto autoritário
A relação entre sociedade civil e o Estado caracteriza-se pelo verticalismo, o
clientelismo e a repressão ou cooptação, misturadas estas últimas de diversas
maneiras. A política pública é entendida como um campo exclusivo de decisão do
Estado e é aplicada de forma clientelista e particularista. (DAGNINO et al,
2006, p. 47)
No que tange o projeto neoliberal, projeto predominante nos atuais governos da
América Latina, este se configura enquanto meio de regular as ações do Estado para que este
atenda as necessidades do capitalismo transnacional. O projeto neoliberal tem papel
fundamental na regulação das relações sociais de produção e de distribuição da riqueza
produzida por meio da “reconfiguração do aparato estatal e das ideologias e práticas que
imprimem novos contornos à sociabilidade capitalista, redefinindo mecanismos ideopolíticos
necessários à formação de novos e mais eficientes consensos hegemônicos” (ANTUNES apud
MOTA, 2009). Essa reconfiguração do Estado tem implicações diretas na participação da
população no controle social e nos espaços de poder político. No caso específico da América
Latina, a reconfiguração do Estado desencadeou num processo de expansão das organizações
da sociedade civil, as chamadas ONG’s (Organizações Não Governamentais) ou “Terceiro
4
Estado, movimentos sociais, partidos políticos, ONG’s, instituições privadas, associações etc.
5
No sentido de não estar ligado à nenhum coletivo de ação política.
6
Os autores apontam que existem riscos quando se fazem grandes generalizações, todavia, durante a
pesquisa realizada eles perceberam uma centralidade nestes três projetos
5
Setor”. Essa expansão tem fortalecido a ideia de ineficiência do Estado e de
“responsabilidade” da sociedade civil de resolver as mazelas existentes na sociedade
capitalista.
Outro aspecto importante a ser abordado no que tange o projeto neoliberal é o discurso
utilizado por seus agentes, discurso que incorpora categorias como “cidadania”, “democracia”
e “participação”, todavia é necessário que se atente às práticas políticas desses agentes, pois
“[...] nessa disputa, em que os deslizamentos semânticos, os deslocamentos de sentido, são as
armas principais, o terreno da prática política se converte em um terreno minado, onde
qualquer passo em falso nos leva ao campo adversário” (DAGNINO et al, 2006, p. 17). O
esforço em analisar as práticas dos sujeitos políticos torna-se imprescindível para uma análise
concreta das relações políticas estabelecidas e nesse sentido, um olhar sobre as políticas
sociais dos governos neoliberais aponta a fragilidade e incoerência do discurso proferido
pelos seus agentes. A política econômica de reestruturação do capital através da intervenção
direta do Estado na regulação das relações de trabalho, produção e consumo, representou um
grande retrocesso para as conquistas da classe trabalhadora, onde a política de privatização e
de flexibilização das relações de trabalho são eixos da intervenção neoliberal.
A política econômica neoliberal tem objetivos que vão além da mera reprodução do
capital, os objetivos ideológicos e políticos e de despolitização da classe trabalhadora ficam
expressos nas intervenções do Estado burguês. No caso específico do Brasil, o processo de
redemocratização pós ditadura militar representou um grande avanço para as lutas sociais e
para a organização da classe trabalhadora, todavia,
[...] o que parecia ser um processo linear e ascendente, enfrenta contradições,
limites, dilemas, tem um ritmo desigual, de que seu avanço, nas várias dimensões
que o compõem, é heterogêneo e acidentado, parece nos fazer esquecer que a disputa
política é ingrediente intrinsecamente constitutivo da construção e do
aprofundamento da democracia. (DAGNINO et al, 2006, p. 60)
Apesar da disputa entre os projetos políticos ser uma constante, é inegável o quanto as
lutas organizadas pela sociedade brasileira para revogar a ditadura militar foram importantes
para o fortalecimento do projeto democrático participativo. Segundo Dagnino et all (2006, p.
48) a centralidade ideológica do projeto democrático participativo está na “[…] concepção de
aprofundamento e radicalização da democracia, que confronta com nitidez os limites
atribuídos à democracia neoliberal representativa como forma privilegiada das relações entre
Estado e sociedade. ” Assim, este projeto se configura como uma tentativa real e concreta de
6
democratização e socialização da política e da riqueza socialmente produzida. O significado
da participação política no projeto democrático-participativo toma contorno muito distinto do
significado no projeto neoliberal, bem como, enfrenta a concepção de democracia proferida.
No projeto democrático participativo a “[...] participação é vista como instrumento da
construção de uma maior igualdade, na medida que ela contribuiria para a formulação de
políticas públicas orientadas para esse objetivo” (DAGNINO et al, 2006, p. 48). Nesse
sentido, a Constituição brasileira de 1988 representa um marco para a construção do projeto
democrático participativo, ao ponto que inaugura e legitima a política de participação popular
por meio do controle social quando abre espaço para a implementação dos Conselhos
Gestores e dos Orçamentos Participativos. Tanto os conselhos, quanto os orçamentos
participativos constituem-se em espaços de exercício da cidadania à medida que são espaços
do exercício compartilhado da tomada de decisões por parte da sociedade, uma vez que
favorecem o diálogo entre o Estado e a sociedade (FALEIROS, 2011). Para
[...] qualificar a expressão controle social, tem que se considerar que: não existe uma
oposição entre Estado e sociedade civil, mas uma atitude orgânica já que a separação
é apenas metodológica, pois a sociedade civil é um momento do Estado; a sociedade
civil não é homogênea, nela circulam interesses das classes antagônicas que
compõem a estrutura social; a concepção do Estado que, na sua função de
mantenedor do domínio da classe dominante, incorpora interesses das classes
subalternas. (CORREIA, 2012, p. 298)
Nesse sentido, reconhecer os conselhos gestores enquanto espaços de disputa entre os
interesses das classes sociais esclarece os desafios, as dificuldades e as possibilidades de
construção do projeto democrático participativo presentes nestes espaços. As conquistas
obtidas através da Constituição Federal de 1988 foram, e tem sido, fundamentais para o
fortalecimento da democracia participativa. Dentre os princípios da nossa Constituição, está o
da democracia participativa, enquanto exercício compartilhado de tomada de decisões
políticas por parte da sociedade (FALEIROS, 2011).
A democracia participativa consiste no compartilhamento de decisões políticas por
parte da sociedade, seja por meio de plebiscito, referendo, projeto popular, consultas
ou por meio de conselhos paritários. É uma forma de se fazer ouvir a voz dos setores
periféricos ao poder e de incorporá-los nas decisões sobre o plano de governo dentro
dos limites da lei. Ela favorece o diálogo entre estado e sociedade de forma direta
(FALEIROS, 2011, p. 27).
Dessa forma, através dos instrumentos de democracia participativa e de democracia
representativa7 a sociedade civil exerce o controle social da gestão pública, onde as
7
“A democracia representativa se caracteriza como a escolha de dirigentes pertencentes a um partido
político para o governo nacional, estadual ou municipal.
7
instituições e a sociedade civil se integram a fim de responder às demandas coletivas. Sobre o
controle social através dos conselhos de representação social, Faleiros (2011, p. 28) aponta
que “[…] a participação da sociedade nos conselhos não só canaliza reivindicações e
manifesta pressões e interesses de vários segmentos sociais organizados, como possibilita a
formação de um tecido social associativo, muitas vezes fragmentados pela pulverização de
organizações. ” O controle social é um instrumento que permite uma construção democrática
e participativa da gestão pública, de forma que a participação política vai além do voto e torna
os cidadãos corresponsáveis com a gestão, fiscalização e avaliação das políticas públicas.
3. Conselhos do Idoso no Brasil: marco histórico, desafios e funcionamento
Conforme discutido no item anterior, os conselhos gestores são espaços de exercício
da democracia, com foco na participação política dos cidadãos na elaboração, fiscalização e
avaliação das políticas públicas. No Brasil, a criação dos conselhos gestores de políticas
públicas ocorre a partir da Constituição de 1988 através dos princípios da gestão democrática
e descentralizada.
Em conformidade com a Constituição e o Pacto Federativo foram e estão sendo
criados conselhos em todo o país. Os conselhos são estruturas legais paritárias, compostas por
membros representantes do governo e da sociedade civil. Os conselhos podem ser
deliberativos ou apenas consultivos e são criados a partir de projetos de leis. Os conselhos se
dividem entre conselhos de direitos (da pessoa idosa, de mulheres, de crianças e adolescentes
etc.) e conselhos de políticas setoriais (saúde, educação, assistência etc.) (BERNARDES,
2007).
A criação do Conselho Nacional de Direitos do Idoso (CNDI) está prevista na Política
Nacional do Idoso (PNI)8, todavia, o CNDI só foi concebido a partir de decreto presidencial
no ano de 2012. Hoje, o CNDI integra a estrutura regimental da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República (SDH/PR).
Segundo a Política Nacional do Idoso:
Art. 6º Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso
serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de
8
Lei Federal nº 8.842/94
8
representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da
sociedade civil ligadas à área.
Art. 7º Compete aos conselhos de que trata o artigo anterior a formulação,
coordenação, supervisão e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das
respectivas instâncias político-administrativas.
No estado de Minas Gerais, o Conselho Estadual do Idoso (CEI) foi criado em 1999 a
partir da lei nº 13.176/99 como um órgão deliberativo e controlador das políticas e das ações
voltadas ao idoso de âmbito estadual. Conforme levantamento da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) em 2004 existiam 25 conselhos municipais do idoso no estado, hoje
existem mais de 200 (ALMG, 2014).
Muitas são as dificuldades enfrentadas para o funcionamento efetivo dos Conselhos de
Direitos no Brasil, em todos os níveis existem desafios colocados aos agentes que se dispõem
a defender a garantia dos direitos dos idosos. No âmbito municipal, muitas são as
particularidades dos municípios e consequentemente dos conselhos ou da inexistência destes
espaços. Segundo Santos Jr, Ribeiro e Azevedo (2004, p.18)
[...] Os municípios brasileiros diferem muito no que respeita à constituição dos
espaços conselhistas. Não só o grau de associativismo da população é bastante
diferenciado entre as regiões, e mesmo no interior das cidades, como também há
diferenças significativas entre os padrões de relação entre o poder público e os
espaços conselhistas. Em consequência, são muito distintas as possibilidades de
constituição dos conselhos em razão dos diversos contextos sociais – heterogêneos e
diversificados – que caracterizam a realidade brasileira.
Dentre as mais variadas realidades locais, o grande desafio colocado aos conselhos
municipais é o seu funcionamento efetivo, é conseguir aglutinar pessoas em torno do controle
social das políticas públicas, de forma que os cidadãos possam participar da vida política de
sua localidade. Mas, para garantir essa participação da população é necessário empenho dos
governos (municipais, estaduais e federais) na organização destes espaços. Para que os
conselhos funcionem adequadamente é necessário infraestrutura, autonomia da sociedade sem
tutela de gestores e partidos (FALEIROS, 2011).
Em dezembro de 2014, foi aprovado o Plano Mineiro de Atenção Integral à Pessoa
Idosa (MINAS GERAIS, 2014), em parceria do governo do estado com o Conselho Estadual
do Idoso –MG e outras instituições públicas e privadas. O Plano tem três diretrizes e 19 eixos
temáticos como horizonte de ação, as diretrizes adotadas são “Pessoas Idosas e o
9
Desenvolvimento”, “Promoção da Saúde e Bem Estar na Velhice” e “Criação de Ambiente
Propício e Favorável”. O Plano Mineiro de Atenção à Pessoa Idosa se apresenta enquanto um
[…] instrumento essencial para a realização de um planejamento acerca da
implantação, coordenação e fortalecimento de políticas públicas voltadas para o
idoso. Um plano estadual assume, portanto, a função de sistematizar as ações a
serem tomadas. Tudo isso contribui para que as ações possam ter maior efetividade,
uma vez que se encontrarão bem delineadas com metas específicas (MINAS
GERAIS, 2014, p.8)
Acreditamos que a aprovação desse Plano seja uma conquista para o estado de Minas
Gerais e mais uma ferramenta a ser usada pela população local no controle social das políticas
públicas destinadas ao idoso.
4. A implementação dos conselhos nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
A pesquisa teve como objetivos gerais analisar a contribuição da extensão universitária para a
efetivação dos conselhos municipais do idoso nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
Desvendar os desafios na implantação e efetivação dos conselhos municipais do idoso nos
Vales. Para coleta de dados foram identificados os participantes das capacitações para
conselheiros municipais de idosos realizadas pelo NEPE nos anos de 2012 e 2013, a partir
dessa identificação foram enviados questionários para todos os participantes (69),
acompanhado do TCLE atendendo aos requisitos do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade. Recebemos o aceite de apenas 3 participantes, representantes de 3 municípios
dos Vales.
5.1 Resultados da pesquisa de campo
Os participantes da pesquisa relataram sobre a situação dos conselhos municipais do
idoso nos seguintes municípios: Teófilo Otoni, Poté e Ponto dos Volantes.
O município de Ponto dos Volantes fica localizado na região do Vale do Jequitinhonha
e tem cerca de 11.345 habitantes, segundo o último censo demográfico (IBGE, 2010), 13,4%
da população tem idade acima de 60 anos. Os dados do IBGE também apontam que 64% da
população reside na zona rural e apenas 36% na zona urbana do município.
O município de Poté fica localizado na região do Vale do Mucuri e tem cerca de
15.667 habitantes, dentre os quais, 14% tem idade superior a 60 anos (IBGE,2010).
Diferentemente de Ponto dos Volantes, o município de Poté tem maior parte da população
10
residente da zona urbana (60%), mas, ainda tem uma quantidade significativa de habitantes na
zona rural (40%).
O município de Teófilo Otoni também fica localizado na região do Vale do Mucuri e é
cidade pólo da região, cidade inclusive onde fica localizado o nosso campus da UFVJM.
Teófilo Otoni possui uma população idosa correspondente a 12,6% da sua população total que
é de 134.745 habitantes (IBGE, 2010). Dentre os três municípios que obtivemos resposta nos
questionários, Teófilo Otoni é o que têm a maior população residente na zona urbana (82%) e,
respectivamente, a menor população residente na zona rural (18%).
No município de Teófilo Otoni, o conselho municipal do idoso existe desde 2008,
todavia ficou sem funcionar de dezembro de 2013, quando foi realizada a última eleição, até
julho de 2015, período em que esteve aguardando a posse dos conselheiros ser realizada pelo
prefeito.9. De acordo com os dados coletados o maior desafio para o funcionamento do
conselho do idoso de Teófilo Otoni é o retorno às atividades, e segundo resposta da
entrevistada, “o NEPE foi um grande agente propulsor do fortalecimento do próprio
conselho”. Entre 2008 e 2013 o Conselho de Direitos do Idoso de Teófilo Otoni esteve ativo e
obteve conquistas relevantes, foi um período de forte mobilização com ações de cidadania,
sobretudo nas datas comemorativas (Dia de combate à violência contra o idoso, Dia
Internacional do idoso). Cabe apontar que, apesar da relevância dessas ações, o Conselho
tinha suas limitações, de forma que as ações no âmbito da proposição, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas na área do envelhecimento, foram afetadas pelas próprias
dificuldades de funcionamento do Conselho, da rede de proteção ao idoso e do poder público
municipal. A paralisação total do funcionamento do CMDI-TO mostra a fragilidade na
articulação do conselho, bem como, a negligência da gestão municipal com o controle social e
com a população idosa.
O município de Poté não possui conselho municipal do idoso e o maior desafio para a
implementação do mesmo é “a representação deste segmento (idosos) pela sociedade civil
organizada, pois atualmente este segmento é representado apenas pelo poder público”. A
dificuldade na mobilização da população idosa em torno do controle social tem sido um
obstáculo para todos os Conselhos de Direitos do Idoso que tivemos contato, onde a
necessidade de articular a população idosa em prol da participação política é um grande
9
Cabe ressaltar que esta realidade perdurou até o final da pesquisa (fevereiro/2015), no segundo semestre
de 2015 ocorreu a posse dos conselheiros pelo prefeito após intervenção do Ministério Público.
11
desafio. Segundo Bernardes (2007, p. 114) “[...] um grande desafio é transformar esse
segmento etário e completamente heterogêneo, oriundo de uma cultura que não priorizava
participação, em cidadãos participativos”. Dessa forma, compreendemos que a dificuldade em
mobilizar a população em torno do controle social não é exclusividade da nossa região, mas
sim, um fator da própria conjuntura política do país.
O município de Ponto dos Volantes possui conselho municipal do idoso desde
dezembro de 2012 e o maior desafio é a “participação efetiva dos conselheiros”. Acreditamos
que a “falta de comprometimento”, “falta de articulação” dos idosos, dentre outras
dificuldades apresentadas, refletem a necessidade da promoção de espaços de formação para a
população destes munícipios. Onde a partir de espaços de debates e formação, sobre cidadania
e participação política por exemplo, começam a surgir articulações que podem desembocar
em fóruns, conferências e então integrar a população em torno da rede de proteção ao idoso.
Segundo Bernardes (2007, p. 108)
[…] mostra-se cada vez mais indispensável a realização de uma proposta
emancipatória em dois níveis de atuação: a divulgação dos órgãos em defesa do
idoso (dada a carência histórico-cultural de não valorizá-lo) e a promoção de
campanhas que representam um contraponto a essa questão cultural de indiferença
em relação ao idoso e ao que ele representa para a sociedade.
Segundo o questionário do participante de Ponto dos Volantes, as conquistas obtidas
pelo conselho municipal foram algumas medidas de proteção conseguidas a partir da atuação
de membros do conselho.
No que diz respeito aos impactos da extensão na implementação dos conselhos, foi
levantado, a partir dos questionários, que as capacitações contribuíram “para o despertar da
sua necessidade (conselho do idoso) enfrentamento às dificuldades de sua implementação”.
As respostas que obtivemos é que as capacitações foram importantes e devem continuar,
dentre os temas sugeridos pelos entrevistados para futuras capacitações destacamos “Criação
do Fundo Municipal do Idoso”, “Integração entre os conselheiros” e “Violência contra o
idoso”.
5. Considerações Finais
A construção dos espaços de controle social na região dos Vales não está desassociada
do âmbito estadual e nacional, podemos afirmar que o controle social tem passado por
momentos de assenso e de retrocesso. Conforme discutimos anteriormente, o nível de
organização e atuação dos conselhos vai depender de diversos fatores, dentre eles, a
12
conjuntura política local e o nível de associativismo da população de cada localidade. Para
Paiva (2014, p.164)
Referente às questões do envelhecimento, das lutas pelos direitos sociais dos
homens velhos e mulheres velhas no Brasil, de maneira geral, é visível um atual
retrocesso, pelo menos em intensidade, posto que está configurado um momento de
paralização do potencial de deliberação dos Conselhos de Direitos e de não
realização das Conferências em todas as esferas (municipal, estadual e federal), ou
seja, o esvaziamento desses espaços legitimados para o exercício do controle social
democrático.
No município de Teófilo Otoni foi possível verificar esse esvaziamento no conselho
municipal no último ano, assim como no município de Ponto dos Volantes que foi apontado
um esvaziamento do espaço. Consideramos que esse esvaziamento tem grande
responsabilidade por parte do poder público municipal, pois os governos municipais tem a
responsabilidade de fortalecer os conselhos.
Bernardes (2007) aponta as contradições existentes na relação entre estado e sociedade
civil, onde, os conselhos são estruturas dinâmicas e resultado de luta e de conquista. As
contradições existentes na construção do controle social, da participação política, da cidadania
são contradições da nossa própria sociedade, são as contradições da sociedade de classes.
Dessa forma, os momentos de recuo na participação política da população no controle social
são processos e não se encerram em si, não é porque o conselho não está funcionando hoje
que não existe força para fazê-lo funcionar amanhã. Para alcançar um bom nível de
organização e articulação da sociedade, apostamos na mobilização, no diálogo e no
enfrentamento. Para Faleiros (2011) “[…] se não houver a mobilização das próprias pessoas
idosas para confronto de posições e democratização dos conselhos, estes serão mais um órgão
burocrático e não uma instancia de defesa de direitos”.
Acreditamos que o NEPE/UFVJM pode ser e tem sido um instrumento importante
para estimular a organização da população idosa na região dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, um instrumento para fortalecer a participação dos idosos na vida política e social.
Assim, concluímos que a extensão universitária tem contribuído não só para a efetivação dos
conselhos municipais do idoso na região, como também tem contribuído para a formação
profissional dos estudantes, para o fortalecimento das políticas de atenção ao idoso, para a
construção de um novo paradigma de envelhecimento e para o fortalecimento da
Universidade enquanto espaço democrático de construção social.
13
7. Referencias
1.
ALMG.
Conselho
Estadual
do
Idoso.
Disponível
em:
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2010/idoso/
docs/silvania.pdf. Acesso em: 02/02/2014.
2. BERNARDES, A. F. Conselhos de representação: espaços para os idosos se
organizarem na defesa de seus direitos. São Paulo: Revista Kairós, dez-2007, p. 107-121.
3. BRASIL. Política Nacional do Idoso. Lei 8842 de 04 de janeiro de 1994.
4. BRASIL. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Portaria Nº 2.528 de 19 de
outubro de 2006.
5. CORREIA, M. Sociedade Civil e controle social: desafios para o Serviço Social. In.
BRAVO, M.; MENEZES, J. Saúde, Serviço Social, Movimentos Sociais e Conselhos. São
Paulo: Cortez, 2012, p. 293-306.
6. COUTINHO, C. N. Cultura e Sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas. Rio de
Janeiro: DP&A, 2000.
7. FALEIROS, V. de P. Fortalecimento e Integração dos Conselhos: Participar e
Comprometer-se com a Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. In: Revista dos Direitos da
Pessoa Idosa: o compromisso de todos por um envelhecimento digno no Brasil. Presidência
da República; Secretaria de Direitos Humanos. Brasília/DF, 2011.
8. IBGE. Censo Demográfico 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2010.
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 02/02/2015.
9. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a
política; edição e tradução, Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e
Marco Aurélio Nogueira. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
10. JACCOUD, L. de B. Envelhecimento e política de Estado: pactuando caminhos
intersetoriais. In: Revista dos Direitos da Pessoa Idosa: o compromisso de todos por um
envelhecimento digno no Brasil. Presidência da República; Secretaria de Direitos Humanos.
Brasília/DF, 2011.
11.
MINAS GERAIS. Plano Mineiro de Atenção à Pessoa Idosa - 2014. Disponível em
http://www.social.mg.gov.br/images/documentos/direitos_humanos/PLANO%20MINEIRO%
20DE%20ATENCAO%20A%20PESSOA%20IDOSA%20-%20Minuta.pdf
12. MOTA, A. E. Crise Contemporânea e as transformações na produção capitalista. In.
CFESS. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. CFESS, 2009.
13. OLIVEIRA, C. H. Qual é o papel da extensão universitária? Algumas reflexões
acerca da relação entre Universidade, Políticas Públicas e Sociedade. Anais do 2º
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte: 2004
14. PAIVA, S. de O. C. Envelhecimento, Saúde e Trabalho no tempo do capital. São
Paulo: Ed. Cortez, 2014
15. SANTOS JUNIOR, O.; AZEVEDO S.; RIBEIRO L. Democracia e gestão local: A
experiência dos conselhos municipais no Brasil. In. ______(Org.) Governança democrática
e poder local: a experiência dos Conselhos Municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan/Fase,
2004.
14